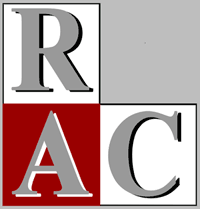RESUMO
Objetivo:
este ensaio problematiza práticas organizativas destrutivas que produzem e reproduzem espaços em ruínas. Partimos das práticas da indústria mineradora no Brasil, materializadas no rompimento da barragem de Fundão (MG), para teorizar sobre contribuições de abordagens multiespécies para a Administração.
Tese:
propomos, a partir de diálogos entre estudos organizacionais e estudos multiespécies, a ideia de um organizar multiespécies do espaço que extrapola relações exclusivamente humanas. Consideramos o espaço produto e processo no cotidiano organizacional, mas salientamos as limitações do foco no espacializar humano na literatura. Tratamos o espacializar como uma produção mais que humana de práticas que emaranham seres humanos e atores que compõem ambientes e diferentes espécies de plantas, animais, fungos e outras formas de existência. Com isso, desafiamos certa visão hegemônica na área, sublinhando a importância de uma abordagem mais inclusiva e ética nas práticas espaciais e organizativas.
Conclusões:
repensamos dinâmicas sociais e organizativas, enfatizando não apenas a atividade mineradora, mas outras práticas corporativas sob uma perspectiva espacializada e mais que humana. O ensaio contribui ontologicamente ao visibilizar a agência de outros seres vivos nos processos e práticas organizativas, metodologicamente ao descentrar o humano na pesquisa e politicamente ao analisar relações assimétricas de poder. Tais contribuições permitem promover uma compreensão mais ampla e responsável das complexas relações entre seres humanos e não humanos em contexto organizacional.
Palavras-chave:
multiespécies; espaço organizacional; práticas; desastres; mineração
ABSTRACT
Objective:
this essay problematizes destructive organizational practices that produce and perpetuate spaces in ruins. Drawing from the practices of the mining industry in Brazil, exemplified by the rupture of the Fundão dam (MG), we theorize about the contributions of multispecies approaches to Administration.
Thesis:
we propose, through dialogues between organizational studies and multispecies studies, the concept of a multispecies organizing of space that transcends exclusively human relations. We consider space as both product and process in everyday organizational life, yet we highlight the limitations of the human-centric focus in the literature. We conceptualize spacing as a non-human production of practices entangling humans and actors composing environments and various species of plants, animals, fungi, and other forms of existence. Thus, we challenge a hegemonic view in the field, underscoring the importance of a more inclusive and ethical approach to spatial and organizational practices.
Conclusions:
we rethink social and organizational dynamics, emphasizing not only mining activity but other corporate practices through a spatialized and more-than-human perspective. The essay contributes ontologically by making visible the agency of other living beings in organizational processes and practices, methodologically by decentering the human in research, and politically by analyzing asymmetric power relations. Such contributions enable the promotion of a broader and more responsible understanding of the complex relations between humans and non-humans in organizational contexts.
Keywords:
multispecies; organizational space; practices; disasters; mining
INTRODUÇÃO
Um tempo de desordens ecológicas, desastres socioambientais e emergências climáticas: é assim que a literatura científica vem caracterizando as primeiras décadas do século XXI. No Brasil, a relação e o papel da administração perante estes fenômenos, recentemente estudados em torno do conceito de Antropoceno, já foram debatidos e têm sido encarados como fundamentais, especialmente no campo dos estudos organizacionais, embora venham se apresentando também em outros campos dentro e em diálogo com a administração (Alcântara et al., 2020Alcântara, V., Yamamoto, É. A., Garcia, A., & Campos, A. (2020). Antropoceno: O campo de pesquisas e as controvérsias sobre a era da humanidade. Revista Gestão & Conexões, 9(3), 11-31. https://doi.org/10.47456/regec.2317-5087.2020.9.3.31771.11-31
https://doi.org/10.47456/regec.2317-5087...
; Figueiredo et al., 2020Figueiredo, M. D., Marquesan, F. F. S., & Imas, J. M. (2020). Anthropocene and “development”: Intertwined trajectories since the beginning of the Great Acceleration. Revista de Administração Contemporânea, 24(5), 400-413. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190400
https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020...
; Freitas et al., 2021Freitas, N. C., Casagrande, L., & Bittencourt Meira, F. (2021). O que o antropoceno tem a aprender com o decrescimento convivial? O campo ambiental diante dos imperativos da modernidade. Revista Gestão & Conexões, 9(3), 52-73. https://doi.org/10.47456/regec.2317-5087.2020.9.3.31845.52-73
https://doi.org/10.47456/regec.2317-5087...
; Nogueira et al., 2021Nogueira, J. M. M., Rodrigues, C. C. C., & Aguiar, A. C. (2021). Enlightenment, critical theory, and the role of business schools in the Anthropocene. Revista de Gestão Social e Ambiental, 15, e02816. https://doi.org/10.24857/rgsa.v15.2816
https://doi.org/10.24857/rgsa.v15.2816...
).
Neste ensaio, atentas à importância de produzir teoricamente com base em contextos locais (Bispo, 2021Bispo, M. S. (2021). Editorial: Refletindo sobre Administração Contemporânea. Revista de Administração Contemporânea, 26(1), e210203. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022210203.en
https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022...
, 2022), tomamos como ponto de partida as práticas da mineração, especialmente tendo em vista episódios recentes ocorridos, por exemplo, nos anos de 2015, 2019 e 2023 no Brasil, como os rompimentos de barragens em Minas Gerais, e o rebaixamento da superfície do terreno em Alagoas, em decorrência da ação de corporações que atuam na exploração mineral como a Samarco, a Vale e a Braskem, que produzem e reproduzem espaços em ruínas (Tsing, 2019Tsing, A. L. (2019). Viver nas ruínas: Paisagens multiespécies no Antropoceno. IEB Mil Folhas.) com sua ação organizacional. O impacto causado pelas práticas mineradoras no Sul Global é extenso e as vítimas humanas e não humanas em diferentes ambientes e ecossistemas já são incontáveis. Independentemente do nível de gravidade1
1
Conforme nível de gravidade, em ordem decrescente, entendem-se por falhas ‘muito graves’ na barragem de rejeitos aquelas que causam perda múltipla de vidas (~ 20) e/ou liberação de descarga total ≥ 1.000.000 m3, e/ou runout de 20 km ou mais; por falhas ‘graves’ as que causam perda de vida e/ou liberação de descarga semissólida ≥ 100.000 m3. ‘Outras falhas nas barragens de rejeitos’ são classificadas como falhas de engenharia/instalações que não sejam as entendidas como muito sérias ou sérias, sem perda de vidas; já ‘outros acidentes relacionados a rejeitos’ constituem acidentes que não sejam classificados nas primeiras três categorias de falhas de barragens (Unep, 2017).
, as falhas operacionais em barragens de rejeitos, por sua recorrência e tendência crescente desde os anos 2000, chegam a ser esperadas (Bowker & Chambers, 2017Bowker, L. N., & Chambers, D. M. (2017). In the dark shadow of the supercycle tailings failure risk & public liability reach all time highs. Environments, 4(4), 75. https://doi.org/10.3390/environments4040075
https://doi.org/10.3390/environments4040...
; United Nations Environment Programme [Unep], 2017), ainda que nem sempre relatadas, especialmente nos países da periferia do capitalismo (Rico et al., 2008Rico, M., Benito, G., Salgueiro, A. R., Díez-Herrero, A., & Pereira, H. G. (2008). Reported tailings dam failures: A review of the European incidents in the worldwide context. Journal of Hazardous Materials, 152(2), 846-852. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.07.050
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.0...
).
Entendemos que desastres-crime como os apresentados no parágrafo anterior não necessariamente resultam de disfunções gerenciais ou de limitações técnicas, mas são inerentes à divisão geopolítica de externalidades negativas. Ainda que inserida num contexto de muitos conflitos, está posta na indústria certa ‘harmonia coercitiva’ por meio da perpetuação daquilo que Svampa (2013Svampa, M. N. (2013). “Consenso de los commodities” y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad, (244), 30-46. https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/
https://nuso.org/articulo/consenso-de-lo...
) denomina consenso de los commodities. Este suposto consenso centraliza o debate em grandes projetos extrativistas orientados à exportação, viabilizados pelo apoio do Estado, favorecendo parte dos grupos de interesse (mineradoras e governos) que possibilitaram uma nova hegemonia de uma visão produtivista do desenvolvimento e buscaram negar ou encobrir discussões sobre implicações negativas do modelo extrativista exportador, reforçando um discurso da falta de alternativas a um estilo de desenvolvimento neoextrativista (Svampa, 2020). Esse estilo de desenvolvimento contempla atividades capital-intensivas (Svampa, 2013), geralmente operadas por grandes corporações transnacionais cujo funcionamento e operação conectam dimensões econômicas, socioambientais e político-institucionais.
No Brasil, a indústria extrativa mineral representava recentemente 17% das exportações anuais (Instituto Brasileiro de Mineração [IBRAM], n.d.-a), número significativo em âmbito econômico e fiscal. Em 2022, a atividade mineradora respondeu por um faturamento de 250 bilhões de reais, tendo levado ao recolhimento de 86,2 bilhões de reais em tributos totais. Deste total, a arrecadação de 7,08 bilhões de reais foi com a Compensação Financeira pela Exportação Mineral (CFEM). Esses montantes foram originados pela produção estimada de 1,05 bilhão de toneladas. O saldo comercial mineral, de quase 24,9 bilhões de dólares, respondeu por 40% do saldo comercial brasileiro, equivalente a 61,8 bilhões de dólares em 2022. Em 2021, no entanto, esse saldo foi ainda maior, tendo representado 80% do saldo comercial brasileiro (IBRAM, n.d.-b). Neste cenário, destaca-se o minério de ferro: em 2021, o ferro foi responsável por 74% do faturamento, seguido pelo ouro (8%) e cobre (5%) (IBRAM, n.d.-b). O Brasil se destaca na produção mundial de tal insumo, juntamente com Austrália e China na liderança (United States Geological Survey [USGS], 2020).
O modo de funcionamento da indústria tem base territorial nas chamadas company towns mineradoras, regiões em que as companhias se instalam, assim chamadas por conta das assimetrias e padrões de dependência que expõem populações e territórios a riscos e vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2015). Essa exposição está conectada às condições socioespaciais, políticas e econômicas que permitem ou interditam a antecipação, resistência e recuperação de um desastre (Tierney, 2020Tierney, K. (2020). Disasters: A sociological approach. Polity Press.). Para humanos, essas condições variam conforme a interseção de aspectos como classe, idade, raça/etnia e gênero (Cigler, 2007Cigler, B. A. (2007). The “big questions” of Katrina and the 2005 great flood of New Orleans. Public Administration Review, 67(S1), 64-76. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00814.x
https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007...
). Para outros seres vivos, depende de fatores como as condições de mobilidade de cada espécie, as relações de exploração que sofrem por seres humanos (Kelman, 2020Kelman, I. (2020). Disaster by choice: How our actions turn natural hazards into catastrophes. Oxford University Press.) e a própria dinâmica das relações entre humanos e não humanos.
Em suma, a lógica de operação da indústria mineradora se sustenta sobre dinâmicas de riscos e vulnerabilidades crescentes para comunidades e ecossistemas, especialmente tendo em vista a insuficiência de dados e de práticas de regulação e controle (Bowker, 2015Bowker, L. N. (2015). Re: Samarco dam failure largest by far in recorded history. https://lindsaynewlandbowker.wordpress.com/2015/12/12/samarcodamfailure-largest-by-far- in- recordedhistory/#:~:text=Through%20creation%20of%20a%20magnitude,a%20magnitude%2 0score% 20of%2041.42
https://lindsaynewlandbowker.wordpress.c...
; Bowker & Chambers, 2017, Rico et al., 2008Rico, M., Benito, G., Salgueiro, A. R., Díez-Herrero, A., & Pereira, H. G. (2008). Reported tailings dam failures: A review of the European incidents in the worldwide context. Journal of Hazardous Materials, 152(2), 846-852. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.07.050
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.0...
). Na América Latina, mesmo após o fim do chamado boom das commodities minerais no começo do século XXI, a região permanece sensível aos efeitos socioeconômicos e ambientais de projetos extrativos (Santos & Milanez, 2017Santos, R. S. P., & Milanez, B. (2017). Estratégias corporativas no setor extrativo: Uma agenda de pesquisa para as ciências sociais. Caderno Eletrônico de Ciências Sociais, 5(1), 1-26. https://doi.org/10.24305/cadecs.v5i1.2017.17876
https://doi.org/10.24305/cadecs.v5i1.201...
). No âmbito local, as práticas da mineração associam-se a lógicas perversas que invisibilizam a dependência das empresas dos bens minerais e dos recursos locais para operar e enfocam a importância das mineradoras para promoverem o desenvolvimento econômico da região em que se instalam (Fontoura et al., 2019Fontoura, Y., Naves, F., Teodosio, A. S. S., & Gomes, M. (2019). “Da lama ao caos”: Reflexões sobre a crise ambiental e as relações Estado-Empresa-Sociedade. Farol - Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade, 6(15), 17-41. https://doi.org/10.25113/farol.v6i15.5440
https://doi.org/10.25113/farol.v6i15.544...
). Isso ocorre porque a inserção empresarial dessa indústria costuma ocorrer em lugares remotos, de baixa infraestrutura, de modo a carregar consigo uma cadeia de dependência financeira em torno das operações para promoção de um desenvolvimento econômico, ainda que muitas vezes precário, no local (Santos & Milanez, 2017). Assim, em vez de uma discussão sobre o modelo normativo adotado, os riscos envolvidos na atividade produtiva e as responsabilidades das corporações, flexibilizam-se cada vez mais direitos das populações e da própria natureza, o que tem culminado na perpetuação de injustiças socioambientais (Zhouri et al., 2016Zhouri, A., Valencio, N., Oliveira, R., Zucarelli, M., Laschefski, K., & Santos, A. F. (2016). O desastre da Samarco e a política das afetações: classificações e ações que produzem o sofrimento social. Ciência e Cultura, 68(3), 36-40. http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602016000300012
http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602016...
).
Os danos socioambientais que citamos aqui são fruto dessas complexas dinâmicas, a exemplo do rompimento, em 2015, da barragem de Fundão, em Mariana, de propriedade da Samarco Mineração S.A/Vale S.A/BHP Billiton do Brasil Ltda. Este foi o maior caso de desastre envolvendo rompimento de barragens no mundo quando consideradas medidas independentes da escala de danos e riscos (Bowker, 2015Bowker, L. N. (2015). Re: Samarco dam failure largest by far in recorded history. https://lindsaynewlandbowker.wordpress.com/2015/12/12/samarcodamfailure-largest-by-far- in- recordedhistory/#:~:text=Through%20creation%20of%20a%20magnitude,a%20magnitude%2 0score% 20of%2041.42
https://lindsaynewlandbowker.wordpress.c...
): totalizou 680 km de corpos hídricos diretamente impactados nos estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES) (Advocacia Geral da União [AGU], 2016) e causou graves danos materiais e imateriais à respectiva região costeira, abrindo precedentes jamais vistos na história brasileira e no mundo (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis [Ibama], 2015). Mais uma vez a cadeia de dependência local em relação à mineração fica evidente quando se analisa, por exemplo, que os impostos gerados diretamente pela atividade mineradora da Samarco correspondiam a 54% da receita do município de Mariana (Samarco, 2016).
Como vimos até aqui, condições socioespaciais, como a disponibilidade de insumos minerais, a localização geográfica, a forma de organização da ocupação do espaço, características populacionais e socioeconômicas do território, o acesso a serviços essenciais dentro de determinada localidade, entre outros (Kelman, 2020Kelman, I. (2020). Disaster by choice: How our actions turn natural hazards into catastrophes. Oxford University Press.; Tierney, 2020Tierney, K. (2020). Disasters: A sociological approach. Polity Press.), são fundamentais nessas relações assimétricas produzidas nas e pelas práticas da mineração. Por isso, buscamos diálogo com a produção dos estudos organizacionais sobre espaços e espacialidades não meramente a partir de áreas geográficas reificadas, mas sim entendendo-os também como atos, como práticas em constante produção - o espacializar, ou spacing, em inglês (Beyes & Steyaert, 2011aBeyes, T., & Steyaert, C. (2011a). The ontological politics of artistic interventions: Implications for performing action research. Action Research, 9(1), 100-115. https://doi.org/10.1177/1476750310396944
https://doi.org/10.1177/1476750310396944...
; 2011b). Assim, compreendemos, numa concepção política do espacial (Vasquez, 2013Vasquez, C. (2013). Spacing organization: Or how to be here and there at the same time. In D. Robichaud, & F. Cooren (Eds.), Organization and Organizing: Materiality. Agency, and Discourse (pp. 127-131). Routledge.), que o espaço é, ao mesmo tempo, produto e processo dessas práticas (Ipiranga, 2016Ipiranga, A. S. R. (2016). Práticas culturais de espaços urbanos e o organizar estético: Uma proposta de estudo. Revista Interdisciplinar de Gestão Social, 5(2). https://doi.org/10.9771/rigs.v5i2.12527
https://doi.org/10.9771/rigs.v5i2.12527...
), estas produzidas no cotidiano organizacional (Carrieri et al. 2018Carrieri, A. D. P., Perdigão, D., Martins, P. G., & Aguiar, A. R. C. (2018). A gestão ordinária e suas práticas: O caso da Cafeteria Will Coffee. Revista de Contabilidade e Organizações, 12, e141359. https://doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2018.141359). No entanto, nos posicionamos de modo a contribuir com esta perspectiva, salientando as limitações do foco no espacializar humano que tem sido dado na literatura, no Brasil e no exterior. Queremos com isso considerar não apenas a atividade mineradora, mas outras atividades corporativas sob uma perspectiva espacializada, processual, performativa, não escalável e, principalmente, mais que humana, já que se trata de práticas nas quais estão emaranhados não apenas atores humanos, mas também aqueles que compõem ambientes (rios, montanhas, rochas, etc.) e diferentes espécies de plantas, animais, fungos e outras formas de existência. Para isso, fomos buscar teorizações no campo dos estudos multiespécies.
Os estudos multiespécies reúnem trabalhos recentes no sentido de compreender, nas interseções entre disciplinas científicas, diferentes formas de vida imbricadas em relações de conhecer e viver juntas (Kirksey & Helmreich, 2010Kirksey, E., & Helmreich, S. (2010). The emergence of multispecies ethnography. Cultural Anthropology, 25(4), 545-576. https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2010.01069.x
https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2010...
). Trata-se de um campo que se debruça sobre questões éticas, políticas e epistemológicas nas relações entre agentes entrelaçados em fluxos contínuos de agências de múltiplas e diferentes espécies (Van Dooren et al., 2016Van Dooren, T., Kirksey, E., & Münster, U. (2016). Multispecies studies: Cultivating arts of attentiveness. Environmental Humanities, 8(1), 1-23. https://doi.org/10.1215/22011919-3527695
https://doi.org/10.1215/22011919-3527695...
). Isso se desdobra em uma ênfase na agência de organismos cujas vidas estão emaranhadas às vidas humanas, trazendo à tona o que geralmente permanece em segundo plano, ou seja, nossas relações simbólicas e materiais com outros seres, em interfaces, redes e encontros entre espécies (Wilkie, 2015Wilkie, R. (2015). Multispecies scholarship and encounters: Changing assumptions at the human-animal nexus. Sociology, 49(2), 323-339. https://doi.org/10.1177/0038038513490356
https://doi.org/10.1177/0038038513490356...
). Em conexão com as ciências sociais aplicadas, as perspectivas multiespécies têm contribuído para repensar conceitos como sustentabilidade (Rupprecht et al., 2020Rupprecht, C. D. D., Vervoort, J., Berthelsen, C., Mangnus, A., Osborne, N., Thompson, K., Urushima, A. Y. F., Kóvskaya, M., Spiegelberg, M., Cristiano, S., Springett, J., Marschütz, B., Flies, E. J., McGreevy, S. R., Droz, L., Breed, M. F., Gan, J., Shinkai, R., & Kawai, A. (2020). Multispecies sustainability. Global Sustainability, 3, e34. https://doi.org/10.1017/sus.2020.28
https://doi.org/10.1017/sus.2020.28...
), turismo (Danby et al., 2019Danby, P., Dashper, K., & Finkel, R. (2019). Multispecies leisure: Human-animal interactions in leisure landscapes. Leisure Studies, 38(3), 291-302. https://doi.org/10.1080/02614367.2019.1628802
https://doi.org/10.1080/02614367.2019.16...
; Dashper, 2019Dashper, K. (2019). Moving beyond anthropocentrism in leisure research: Multispecies perspectives. Annals of Leisure Research, 22(2), 133-139. https://doi.org/10.1080/11745398.2018.1478738
https://doi.org/10.1080/11745398.2018.14...
; 2020), justiça (Celermajer et al., 2020Celermajer, D., Chatterjee, S., Cochrane, A., Fishel, S., Neimanis, A., O’Brien, A., Reid, S., Srinivasan, K., Schlosberg, D., & Waldow, A. (2020). Justice through a multispecies lens. Contemporary Political Theory, 19(3), 475-512. https://doi.org/10.1057/s41296-020-00386-5
https://doi.org/10.1057/s41296-020-00386...
; Chao et al., 2022Chao, S., Bolender, K., & Kirksey, E. (2022). The promise of multispecies justice. Duke University Press.; Tschakert et al., 2021Tschakert, P., Schlosberg, D., Celermajer, D., Rickards, L., Winter, C., Thaler, M., Stewart-Harawira, M., & Verlie, B. (2021). Multispecies justice: Climate-just futures with, for and beyond humans. Wires: Climate Change, 12(2), 1-10. https://doi.org/10.1002/wcc.699
https://doi.org/10.1002/wcc.699...
), e métodos como a etnografia (Gillespie, 2021Gillespie, K. (2021). For multispecies autoethnography. Environment and Planning E: Nature and Space, 5(4), 2098-2111. https://doi.org/10.1177/25148486211052872
https://doi.org/10.1177/2514848621105287...
; Kirksey & Helmreich, 2010; Ogden et al., 2013Ogden, L. A., Hall, B., & Tanita, K. (2013). Animals, plants, people, and things: A review of Multispecies Ethnography. Environment and Society, 4(1), 5-24. https://doi.org/10.3167/ares.2013.040102
https://doi.org/10.3167/ares.2013.040102...
; Smart, 2014Smart, A. (2014). Critical perspectives on multispecies ethnography. Critique of Anthropology, 34(1), 3-7. https://doi.org/10.1177/0308275X13510749
https://doi.org/10.1177/0308275X13510749...
; Wels, 2020Wels, H. (2020). Multi-species ethnography: Methodological training in the field in South Africa. Journal of Organizational Ethnography, 9(3), 343-363. https://doi.org/10.1108/JOE-05-2020-0020
https://doi.org/10.1108/JOE-05-2020-0020...
). Assim, as conexões deste campo com a administração podem produzir valiosas e originais contribuições em termos ontológicos, epistemológicos e metodológicos, no sentido de repensar as bases de sua formação acadêmica (Fantinel, 2021Fantinel, L. D. (2021, September). Viver e organizar multiespécies: Um convite à Administração para seguir com o incômodo. In Anais do 55° Encontro da a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Evento online.), de refletir sobre relações organizadas com outras formas de vida (Fantinel, 2020), ou mesmo de propor práticas e processos organizativos mais eticamente engajados e intelectualmente matizados (Coulter, 2022Coulter, K. (2022). From interesting to influential: Looking forward with multispecies organization studies. In L. Tallberg, & L., Hamilton (Eds.), The Oxford Handbook of Animal Organization Studies (pp. 17-27). Oxford University Press.).
Neste ensaio, mobilizamos essa aproximação entre o campo dos estudos organizacionais sobre espaços e espacialidades e o dos estudos multiespécies com o objetivo de problematizar as práticas organizativas destrutivas que produzem e reproduzem espaços em ruínas, a exemplo (mas não só) da prática mineradora. Adotamos a ideia de ruínas de Tsing (2005Tsing, A. L. (2005). Friction: An ethnography of global connection. Princeton University Press.; 2019), as áreas de degradação socioambiental, que resultam em perturbação de comunidades e ecossistemas que foram impactados por forças sociais e econômicas globais. Entendemos, como a autora, que este é o caso dos espaços produzidos pelas práticas da mineração, emaranhados de práticas espaciais operadas por atores distintos em cadeias globais de produção, que envolvem grandes corporações e governos, mas também comunidades locais humanas e de diversas outras espécies.
Discutir essas complexas imbricações, mediadas por processos e formas organizativas da gestão corporativa, pública e da sociedade civil, perpassa o que entendemos como um organizar multiespécies, processos organizativos mais que humanos em contínua produção e reprodução que espacializam, ou seja, produzem e são produzidos por espaços (Fantinel, 2020Fantinel, L. D., & Davel, E. (2020). Learning from sociability-intensive organizations: An ethnographic study in a coffee organization. Brazilian Administration Review, 16(4), e180142. https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019180142
https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019...
). Buscamos, com isso, o compromisso de colocar outras espécies no primeiro plano da análise organizacional, não como recursos a serem explorados ou agentes que irão, junto a comunidades humanas locais, absorver externalidades, mas como agentes dessas práticas de produção espacial.
Com isso, teorizamos sobre as contribuições de abordagens multiespécies para a administração, na intenção de atender ao chamado por responder aos desafios contemporâneos do fazer e do pensar gestão (Bispo, 2021Bispo, M. S. (2021). Editorial: Refletindo sobre Administração Contemporânea. Revista de Administração Contemporânea, 26(1), e210203. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022210203.en
https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022...
; Bispo, 2022). Isso significa repensar a própria dinâmica das relações sociais e organizativas como exclusivamente humanas e considerar não apenas a atividade mineradora, mas outras atividades corporativas, sob uma perspectiva espacializada, processual, performativa, não escalável e, principalmente, mais que humana.
Acreditamos que há três eixos de contribuição dessa teorização: ontológico, metodológico e político. Ontologicamente, contribui para a área ao sustentar uma concepção relacional do fenômeno organizativo e visibilizar a agência dos chamados ‘recursos naturais’, expressão constantemente mobilizada na teoria e prática administrativa para designar homogeneamente uma multiplicidade de formas de vida com interesses que não atendem nem se subjugam ao humano. Metodologicamente, contribui ao propor formas de abordagem do campo que descentrem o humano, como a etologia e a etnografia multiespécies como instância de produção de novas formas de conhecimento também na administração. Por fim, politicamente, entendemos que, ao visibilizar relações assimétricas de poder, contribuímos ao interseccionar mais uma dimensão nas teias de opressão e de vulnerabilidade na análise das práticas de espacializar e dos modos de organizar.
Para isso, o ensaio discute em nível teórico as bases utilizadas para as reflexões produzidas aqui. Depois, apresentamos as contribuições que propomos deste diálogo de forma situada, ou seja, a partir das práticas da indústria mineradora no Brasil, com objetivo de produzir reflexões não de maneira abstrata pela conexão entre elementos teóricos, mas na discussão de fenômenos tais como eles acontecem (Schatzki, 2006Schatzki, T. R. (2006). On organizations as they happen. Organization Studies, 27(12), 1863-1873. https://doi.org/10.1177/0170840606071942
https://doi.org/10.1177/0170840606071942...
). Por fim, são apresentadas as considerações finais do ensaio, visando a contribuir para uma agenda emergente no sentido de ‘desantropocentrar’ saberes e fazeres produzidos na administração, colocando o organizar em teia com outras formas de existência.
ESPACIALIZAR MULTIESPÉCIES: O ORGANIZAR MULTIESPÉCIES DO ESPAÇO
A teoria sobre espaço organizacional, embora não homogênea, estabelece-se como consolidada no campo da administração. A literatura sintetiza três principais perspectivas de espaço, a saber: (1) como distância espacial, que pode ser objetivamente medida e representada; (2) como materializações de determinadas relações de poder que garantem a circulação e a reprodução do capital, enfocando os motivos pelos quais espaços são configurados como são; e (3) como produtos de manifestações de experiências, enfocando aspectos simbólicos, como identidade e cultura (Taylor & Spicer, 2007Taylor, S., & Spicer, A. (2007). Time for space: A narrative review of research on organizational spaces. International Journal of Management Reviews, 9(4), 325-346. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00214.x
https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007...
). Um dos movimentos mais recentes na literatura tem ocorrido no sentido de reposicionar o entendimento de abordagens simbólicas e representacionais (com foco nos significados atribuídos ao espaço) para abordagens que considerem a performatividade dos espaços (com foco nas relações concretas e contínuas entre os atores) (Beyes & Steyaert, 2011bBeyes, T., & Steyaert, C. (2011b). Spacing organization: Non-representational theory and performing organizational space. Organization, 19(1), 45-61. https://doi.org/10.1177/1350508411401946
https://doi.org/10.1177/1350508411401946...
). Isso implica compreender o organizar de forma situada nas experiências e relações (Beyes e Steyaert, 2011a), como processo e produto (Dale, 2005Dale, K. (2005). Building a social materiality: Spatial and embodied politics in organizational control. Organization, 12(5), 649-678. https://doi.org/10.1177/1350508405055940
https://doi.org/10.1177/1350508405055940...
; Dale & Burrell, 2008), a partir das interações que ocorrem no, produzem e reconfiguram o espaço organizacional (Best & Hindmarsh, 2019Best, K., & Hindmarsh, J. (2019). Embodied spatial practices and everyday organization: The work of tour guides and their audiences. Human Relations, 72(2), 248-271. https://doi.org/10.1177/0018726718769712
https://doi.org/10.1177/0018726718769712...
; Munro & Jordan, 2013Munro, I., & Jordan, S. (2013). ‘Living Space’ at the Edinburgh Festival Fringe: Spatial tactics and the politics of smooth space. Human Relations, 66(11), 1497-1525. https://doi.org/10.1177/0018726713480411
https://doi.org/10.1177/0018726713480411...
).
Nos estudos organizacionais brasileiros, o movimento do campo é semelhante. Estudos no campo se aproximaram do espacializar a partir da problematização do fenômeno urbano, de pequenos negócios que movimentam a cidade ou de conceitos como organização-cidade (Carrieri et al., 2008Carrieri, A., Murta, I., Mendonça, M., Maranhão, C. M. S. A., & Leite-da-Silva, A. R. (2008). Os espaços simbólicos e a construção de estratégias no Shopping Popular Oiapoque. Cadernos EBAPE.BR, 6(2), 1-13. https://doi.org/10.1590/S1679-39512008000200004
https://doi.org/10.1590/S1679-3951200800...
; Carrieri et al. 2018; Carrieri et al., 2014; Costa et al. 2022Costa, V. Jr., Chagas, P. B., & Oliveira, J. S. D. (2022). Organização-cidade e território: A territorialidade das pessoas em situação de rua a partir de suas práticas cotidianas. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, 21(1), 175-200. https://doi.org/10.21529/RECADM.2022007
https://doi.org/10.21529/RECADM.2022007...
; Fantinel & Cavedon, 2010bFantinel, L. D., & Cavedon, N. R. (2010b). Cardápio dos tempos e espaços de um bistrô. Pretexto, 11(3), 9-33. https://doi.org/10.21714/pretexto.v11i3.648
https://doi.org/10.21714/pretexto.v11i3....
; 2010a; Fantinel & Fischer, 2012; Fischer, 1997; Gomes et al., 2021Gomes, R., Cardoso, S. P., & Domingues, F. F. (2021). A (re)produção dos espaços urbanos brasileiros nos Estudos Organizacionais: Que cidade é essa? Gestão & Regionalidade, 37(111), 43-63. https://doi.org/10.13037/gr.vol37n111.6539
https://doi.org/10.13037/gr.vol37n111.65...
; Ipiranga, 2010Ipiranga, A. S. R. (2010). A cultura da cidade e seus espaços intermediários: Os bares e os restaurantes. Revista de Administração Mackenzie, 11(1), 65-91. https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100004
https://doi.org/10.1590/S1678-6971201000...
; Mac-Allister, 2004Mac-Allister, M. (2004). A cidade no campo dos estudos organizacionais. Organizações & Sociedade, 11(Spe), 171-181. https://doi.org/10.1590/1984-9110012
https://doi.org/10.1590/1984-9110012...
; Saraiva et al., 2014Saraiva, L. A. S., Carrieri, A. P., Soares, A. S. (2014). Territorialidade e identidade nas organizações: O caso do mercado central de Belo Horizonte. Revista de Administração Mackenzie, 15(2), 97-126. https://doi.org/10.1590/S1678-69712014000200005
https://doi.org/10.1590/S1678-6971201400...
; Saraiva & Carrieri, 2012). Recentemente, a virada prática vem sendo mobilizada como framework para a análise de espaços organizacionais e do organizar de espaços (Bezerra et al, 2019Bezerra, M. M., Lopes, L. L. S., Silva, J. S. D., & Ipiranga, A. S. R. (2019). Spatial practices in the city: The kidnapping of an arts organization. BAR-Brazilian Administration Review, 16(4), e180163. https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019180163
https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019...
; Carrieri et al. 2018; Domingues et al., 2019Domingues, F. F., Fantinel, L. D., & Figueiredo, M. D. D. (2019). Entre o concebido e o vivido, o praticado: O entrecruzamento dos espaços na feira de artes e artesanato da Praça dos Namorados em Vitória/ES. Organizações & Sociedade, 26(88), 28-49. https://doi.org/10.1590/1984-9260882
https://doi.org/10.1590/1984-9260882...
; Fernandes et al., 2021Fernandes, T. A., Silva, A. R. L. D., & Machado, F. C. L. (2021). A organização da prática dos roteiros turísticos no turismo receptivo. Cadernos EBAPE.BR, 19(4), 842-857. https://doi.org/10.1590/1679-395120190138
https://doi.org/10.1590/1679-39512019013...
; Ipiranga, 2016; Ipiranga & Lopes, 2017; Pinheiro et al., 2023Pinheiro, V. P., Ipiranga, A. S. R., & Lopes, L. L. S. (2023). A economia criativa enquanto prática de espaço no contexto das cidades criativas do sul global: O caso do Poço da Draga. Revista de Administração Pública, 57(6), e2023-0416. https://doi.org/10.1590/0034-761220220416
https://doi.org/10.1590/0034-76122022041...
), com especial atenção à dimensão sociomaterial e corporificada da prática (Fantinel & Davel, 2020; Gomes & Fantinel, 2022), que em um olhar mais crítico evidenciam assimetrias e desigualdades econômicas, sociais, étnico-raciais e de gênero nessa produção do espaço (Borsatto & Fantinel, 2024Borsatto, A. R. S., & Fantinel, L. D. (2024). “Fazendo do limão uma limonada sofisticada”: Gênero e raça no organizar cotidiano das práticas culinárias. Organizações & Sociedade, 30(107), 695-722. https://doi.org/10.1590/1984-92302023v30n0025PT
https://doi.org/10.1590/1984-92302023v30...
; Bretas & Saraiva, 2013Bretas, P. F. F., & Saraiva, L. A. S. (2013). Práticas de controle e territorialidades na cidade: Um estudo sobre lavadores e flanelinhas. Gestão.org-Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, 11(2), 247-270. https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/gestaoorg/article/view/21921
https://periodicos.ufpe.br/revistas/inde...
; Figueiredo & Cavedon, 2020Figueiredo, M. D., Marquesan, F. F. S., & Imas, J. M. (2020). Anthropocene and “development”: Intertwined trajectories since the beginning of the Great Acceleration. Revista de Administração Contemporânea, 24(5), 400-413. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190400
https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020...
; Gomes & Fantinel, 2022; Nascimento et al., 2015Nascimento, M. C. R., Oliveira, J. S., Teixeira, J. C., & Carrieri, A. P. (2015). Com que cor eu vou pro shopping que você me convidou? Revista de Administração Contemporânea, 19(3), 245-268. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20151510
https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2015...
; 2016; Rezende et al., 2024Rezende, A. F., Saraiva, L. A. S., & Andrade, L. F. S. (2024). “Transformando cruz em encruzilhada”: Blocos afro de carnaval e a produção de espaços negros em Belo Horizonte. Organizações & Sociedade, 30(107), 670-694. https://doi.org/10.1590/1984-92302023v30n0024PT
https://doi.org/10.1590/1984-92302023v30...
; Teixeira et al., 2015Teixeira, J. C., Saraiva, L. A. S., & Carrieri, A. P. (2015). Os lugares das empregadas domésticas. Organizações & Sociedade, 22(72), 161-178. https://doi.org/10.1590/1984-9230728
https://doi.org/10.1590/1984-9230728...
).
A influência dos estudos baseados em prática orienta para abordagens processuais (Reckwitz, 2002Reckwitz, A. (2002). Toward a theory of social practices: A development in culturalist theorizing. European Journal of Social Theory, 5(2), 243-263. https://doi.org/10.1177/13684310222225432
https://doi.org/10.1177/1368431022222543...
), mais próximas do cotidiano dos atores (Carrieri et al., 2014Carrieri, A. P., Perdigão, D. A., & Aguiar, A. R. C. (2014). A gestão ordinária dos pequenos negócios: Outro olhar sobre a gestão em estudos organizacionais. Revista de Administração, 49(4), 698-713. https://doi.org/10.5700/rausp1178
https://doi.org/10.5700/rausp1178...
), a partir de estudos situados desenvolvidos por meio de métodos observacionais (Oliveira & Figueiredo, 2021Oliveira, J. S., & Figueiredo, M. D. (2021). Os espaços, as práticas e as etnografias nos Estudos Organizacionais brasileiros. Farol-Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade, 8(21), 215-262. https://doi.org/10.25113/farol.v8i21.5225
https://doi.org/10.25113/farol.v8i21.522...
) que primam pela experiência do pesquisador com seus interlocutores (O’Doherty & Neyland, 2019O’Doherty, D., & Neyland, D. (2019). The developments in ethnographic studies of organising: Towards objects of ignorance and objects of concern. Organization, 26(4), 449-469. https://doi.org/10.1177/1350508419836965
https://doi.org/10.1177/1350508419836965...
). Tal orientação direciona para uma crítica a concepções que tomam os espaços como dados e os compreende em dinâmicas de práticas de espaço, sendo a espacialidade como praticada nas relações produzidas cotidianamente (Bezerra et al, 2019Bezerra, M. M., Lopes, L. L. S., Silva, J. S. D., & Ipiranga, A. S. R. (2019). Spatial practices in the city: The kidnapping of an arts organization. BAR-Brazilian Administration Review, 16(4), e180163. https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019180163
https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019...
). Estudar o espacializar motiva à análise da ação coletiva em que, de modo contínuo, dinâmico e fluido, praticantes são constituídos por modos socialmente sustentados de praticar (Beyes & Steyaert, 2011aBeyes, T., & Steyaert, C. (2011a). The ontological politics of artistic interventions: Implications for performing action research. Action Research, 9(1), 100-115. https://doi.org/10.1177/1476750310396944
https://doi.org/10.1177/1476750310396944...
; Feldman & Orlikowski, 2011Feldman, M. S., & Orlikowski, W. J. (2011). Theorizing practice and practicing theory. Organization Science, 22(5), 1240-1253. https://www.jstor.org/stable/41303116
https://www.jstor.org/stable/41303116...
; Gherardi, 2009Gherardi, S. (2009). Introduction: The critical power of the ‘practice lens’. Management Learning, 40(2), 115-128. https://doi.org/10.1177/1350507608101225
https://doi.org/10.1177/1350507608101225...
).
Assumimos esta herança e influência na medida em que nos interessa atentar a encontros possibilitados no aqui e agora por múltiplas materialidades, a arranjos espaço-temporais processuais, vívidos, abertos à experimentação e aos potenciais transformativos desse espacializar. Contudo, nos interessa também reconhecer uma limitação presente nesta tradição de pesquisa e, principalmente, problematizar esta limitação, no sentido proposto por Sandberg e Alvesson (2011Sandberg, J., & Alvesson, M. (2011). Ways of constructing research questions: Gap-spotting or problematization? Organization, 18(1), 23-44. https://doi.org/10.1177/1350508410372151
https://doi.org/10.1177/1350508410372151...
): a reavaliação crítica de uma determinada tradição teórica, um vocabulário e a construção de um terreno empírico. Interessa-nos fomentar, como defendem os autores, a elaboração de novas perguntas que permitam efetivamente romper com a lógica convencional.
Entendemos que um importante caminho para a problematização dessa tradição teórica que evocamos é questionar a invisibilidade de praticantes não humanos no organizar dos espaços, especialmente os praticantes que compõem o que convencionamos entender como natureza, a exemplo de animais, plantas, árvores, fungos, água/dique, etc. Tal questionamento pode nos ajudar a trazer à tona o antropocentrismo de nossa teoria e prática organizacional e a persistência de dicotomias que sustentaram a emergência do pensamento científico ocidental, como natureza e cultura, ou natural e artificial, ou sujeito e objeto. Ao desafiarmos uma pretensa separação ontológica entre organização e natureza, ou entre sujeitos e objetos do organizar espacial, tencionamos desordenar essas bases que parecem tão fixas que quase não são questionadas, ou que, quando o são, causam estranhamento, pois não costumamos pensar em grama, arbustos, peixes, vírus, cavalos ou cogumelos como agentes do organizar.
Quando nos dedicamos a estudar criticamente as práticas da mineração no Sul Global e seus desastres, temos muito a nos beneficiar de uma perspectiva multiespécies. A partir de uma ‘virada multiespécies’, podemos questionar as lógicas de poder assimétricas produzidas no contexto apresentado na introdução deste ensaio. O contexto da mineração não somente no Brasil apresenta lógicas similares e marca paisagens multiespécies em espaços que podemos chamar de ruínas do capitalismo, isto é, ruínas produzidas pela forma como indústrias diversas - incluindo a mineração, plantations - operam no capitalismo global e localmente (Tsing, 2019Tsing, A. L. (2019). Viver nas ruínas: Paisagens multiespécies no Antropoceno. IEB Mil Folhas.). Para Tsing (2005; 2015a; 2015b; 2019; 2021), importante expoente deste movimento, as paisagens são formadas a partir das fricções que se dão - em e entre - espaços que incluem um emaranhado de mundos sociais, humanos e não humanos, vivos ou não em constante praticar conjunto.
Uma abordagem multiespécies permite problematizar um emaranhado de mundos sociais, humanos e não humanos, vivos ou não, em constante praticar conjunto. Essa análise possibilita dar conta de enfocar as fricções entre dinâmicas locais (comunidades multiespécies afetadas e impedidas de viver suas vidas pelas ações perturbadoras da mineração) e globais (neoextrativismo e geopolíticas de exploração e exportação mineral). Argumentamos aqui que as fricções levam não somente às concretas ruínas, visíveis quando se observa uma região pós-desastre, por exemplo, mas a um conjunto de relações que são arruinadas ao longo do tempo a partir de articulações entre atores humanos e não humanos em ondas de destruição que se perpetuam aparentemente a partir da chegada da lama em comunidades locais na ocorrência de um desastre-crime (Leite & Zambeli, 2023Leite, M. C. O., & Zambeli, A. (2023). In the wake of the mudslide: Tensions, practices and new relationships based on the experience of victims of a Brazilian mining company’s dam collapse. In 39th EGOS Colloquium: Organizing for the Good Life: Between Legacy and Imagination.; Leite, et al., 2024).
Com isso, podemos também questionar a escalabilidade dos espaços produzidos pelas práticas de mineração. O contínuo tratamento dado como escalável (ou seja, que diz respeito às economias de escala, como se diz no mundo dos negócios) é algo fundacional neste ‘capitalismo da cadeia de suprimentos’ (Tsing, 2019Tsing, A. L. (2019). Viver nas ruínas: Paisagens multiespécies no Antropoceno. IEB Mil Folhas.), que vai da indústria de softwares à da mineração. A lógica de converter tudo em estoque, e commoditizar sempre, busca transformar as relações em escaláveis. No entanto, ao utilizarmos o framework dos estudos multiespécies para compreender esse fenômeno, veremos que se trata da exploração de relações ambientais não escaláveis. Dizer que essa indústria não é escalável significa compreender que à medida que a produção se expande, expandem-se também seus efeitos. Forçar a escalabilidade de práticas de mineração leva a uma expansão de impactos socioambientais desastrosos, com distribuição desigual de externalidades e produção de contínuos espaços em ruínas.
É com o olhar voltado à fricção e à paisagem, como conjunto de assembleias continuamente constituídas entre tempos distantes e atuais, que este ensaio resgata alguns pontos nessa agenda e alerta para a necessidade de transformar práticas organizativas com o objetivo não mais de fazer ajustes incrementais com vista à sustentabilidade, ou de recuperar áreas ou ecossistemas degradados, uma vez que o Antropoceno ensina que isso já não é mais possível. Este ponto de retorno já foi perdido. O que agora se faz fundamental é tornar possível (sobre)viver nesses espaços em ruínas e a partir de relações que têm se mantido arruinando.
Neste sentido, propomos que será necessário (re)organizar o espaço. Um reorganizar multiespécies, que implica reconstruir concepções e formas de ‘fazer mundo’ até então centradas apenas em elementos humanos em detrimento de outros mundos possíveis, que incluem paisagens multiespécies que coexistem, habitando perturbações diversas (Tsing, 2019Tsing, A. L. (2019). Viver nas ruínas: Paisagens multiespécies no Antropoceno. IEB Mil Folhas.). Isso demanda abrir mão de uma concepção (embora jamais concretizada totalmente) da produção de um único mundo constituído por uma sociedade ‘civilizada’, cuja expressão máxima emergiu com a denominada globalização capitalista que levou à destruição de grupos sociais periféricos, nos quais concepções de mundo não dualistas e multiespécies prevalecem (Escobar, 2015Escobar, A. (2015). Territorios de diferencia: La ontología política de los “derechos al território”. Cuadernos de antropología social, (41), 25-38. https://doi.org/10.34096/cas.i41.1594
https://doi.org/10.34096/cas.i41.1594...
; Tsing, 2005). Isso requer também conceber um caráter sistêmico multiespécies às próprias mudanças do organizar dito sustentável. Compreendemos que é necessário posicionar as catástrofes não somente em um contexto de mudanças climáticas, mas de necessárias mudanças sistêmicas. As ferozes explorações desproporcionais do que se convencionou chamar de recursos naturais a partir do trabalho dos chamados recursos humanos mantêm, no atual sistema econômico, insustentável um viver sem ruínas ao menos em âmbito local.
Mover-se na direção de compreender fenômenos organizacionais, como o espacializar, como mais que humanos, requer, portanto, um olhar ‘desantropocentrado’ para práticas e processos organizativos: humanos são apenas um tipo entre múltiplos agentes e comunidades de interesse, e comunidades puramente humanas não existem, já que essas comunidades têm profundas imbricações com outras tantas espécies em ecossistemas e ambientes diversos. O próprio corpo humano se apresenta como sistema, como organismo, na medida em que contém bactérias e outras formações. Não é possível avaliar o impacto de um desastre-crime da mineração sem considerar os inúmeros não humanos cujas existências estão imbricadas a esses humanos e esses espaços, sejam as árvores que habitavam uma praça local centenária do município de Mariana, sejam os peixes que viviam nos rios, sejam os animais domésticos que coabitavam as residências, ou ainda a grama que hoje cobre as áreas afetadas e dificulta enxergar as marcas da destruição concretizada com o desastre-crime. Para esse entendimento, é necessário atribuir àquilo que se convenciona chamar homogeneamente natureza um caráter que, em vez de singular ou externo ao humano, integra-se em projetos plurais, sistêmicos e polifônicos, que não podem ser apenas humanos, de produção de espaços (Aisher & Damodaran, 2016Aisher, A., & Damodaran, V. (2016). Introduction: Human-nature interactions through a multispecies lens. Conservation and Society, 14(4), 293-304. https://www.jstor.org/stable/26393253
https://www.jstor.org/stable/26393253...
).
Importa aqui analisar as práticas organizativas que emergem continuamente para manter a habitabilidade nas paisagens em ruínas. Isso possibilita a compreensão de como os atores humanos e não humanos organizam suas práticas (spacing) em paisagens multiespécies. A vida se expressa e se forma, dessa maneira, por meio de conexões, experiências e rotinas compartilhadas, hábitos de convívio, encontros, desencontros, movimentos, afetos, habilidades práticas e todas as formas de interações produzidas cotidianamente. As expressões e impactos desse movimento nas pesquisas realizadas no campo da administração são problematizados no tópico a seguir, tomando-se a indústria mineradora como contexto situado para discussão.
CONTRIBUIÇÕES PARA O CAMPO DA ADMINISTRAÇÃO: DIMENSÕES POLÍTICA, ONTOLÓGICA E METODOLÓGICA
A partir das reflexões produzidas até aqui, construímos nosso argumento central a partir do caso concreto de práticas da indústria mineradora. Trata-se, como vimos, de práticas que impõem às periferias do capitalismo a absorção de externalidades pelas comunidades e ecossistemas locais, produzindo e (des)organizando espaços em ruínas, perpetuando a destruição.
A noção de ruína, que aprendemos de Tsing (2019Tsing, A. L. (2019). Viver nas ruínas: Paisagens multiespécies no Antropoceno. IEB Mil Folhas.), nos ajuda a compreender o espaço a partir de fragmentos que compõem uma paisagem que, antes das perturbações, fora vista de modo escalável, restando destroços. As paisagens perturbadas passam a ser, então, espaços para conhecermos não somente as histórias que os humanos fizeram, mas também as histórias de participantes não humanos. Tsing (2015a) exemplifica que os defensores da restauração da floresta de Satoyama, no Japão, ensinam a compreensão de ‘perturbação’ como coordenação e história. Isso porque mostram como a própria perturbação permite iniciar histórias na floresta. Em espaços que não estão perturbados, dificilmente o pinheiro se instalará para uma relação de mutualismo com o matsutake. Assim, perturbação abre o terreno para ‘encontros transformadores’, como o da associação entre pinheiro e cogumelo. Muito embora a perturbação possa ser enxergada como algo positivo, a depender do encontro que permite, “… usada pelos ecologistas, nem sempre é ruim - e nem sempre humana”, pois perturbações para além de humanas também estimulam relações ecológicas” (Tsing, 2015a, p. 160).
Inviabilizadas as atividades de mineração, abandonadas as perturbações, mais uma vez a ocupação mais que humana se põe a espacializar essas ruínas. Na obra de Tsing, as paisagens multiespécies incluem novas coordenações que são possibilitadas exatamente porque a escalabilidade se espalhou e abriu caminho para um conjunto de ocupações que dependem de ruínas, como os cogumelos matsutake. Com os cogumelos na paisagem, humanos também passam a (re)ocupar, sejam fazendeiros, catadores de cogumelos, etc. A paisagem vai sendo modificada em espaços onde houve perturbação. Paisagens são constituídas por ‘projetos sobrepostos de fazer mundo’, isto é, uma diversidade de espécies coabitando.
O apelo de Tsing (2019Tsing, A. L. (2019). Viver nas ruínas: Paisagens multiespécies no Antropoceno. IEB Mil Folhas.) é para que as ruínas sejam ocupadas caso se queira ‘viver junto’ em espaços improváveis, ou mesmo proibidos para retomada da ocupação humana, como o são as ruínas da mineração no Brasil. Nesta direção, ocupar é recuperar e, caso queiramos viver, precisamos aprender a ocupar até os espaços mais arruinados e perturbados onde pode existir vida na Terra. Para aprender a reocupar, precisamos conceber as relações como multiespécies e compreender as lógicas de interação e movimentação na formação desses espaços. Por exemplo, as lógicas intencionais e não intencionais de expulsão humana de determinados grupos periféricos e de atração de determinadas espécies, por exemplo, de cobras, que, pejorativamente denominadas de peçonhentas como se fossem todas elas venenosas, frequentemente simbolizam o mal e causam medo no humano. Como diria a autora aqui citada, “não temos outras opções além de procurar vida nessa ruína” (Tsing, 2019, p. 7). Um dos caminhos para isso, segundo ela, é centralizar a atenção à socialidade das coisas vivas que compõem as paisagens multiespécies. A autora enfatiza o catar de cogumelos. Nessas paisagens, o ser humano desempenha um dos papéis, constituindo-se como parte de um todo biodiverso.
Como vimos ao longo deste ensaio, as práticas que perturbam ecologias locais não são apolíticas nem a-históricas, tampouco estão imbricadas em práticas exclusivamente humanas. Elas têm calado não somente vozes humanas periféricas, mas também vozes não humanas, desconsiderando relações mais que humanas que direcionam um espacializar que não somente atende a interesses específicos, mas que visa a manter as harmonias coercitivas citadas no início do texto. Assim, de forma geral, entendemos que abordagens multiespécies permitem avançar o campo na medida em que permitem visibilizar relações complexas que se imbricam nessas práticas destrutivas. Argumentamos que isso leva a compreender o espacializar em contínua (trans)formação nas relações entre humanos e outros modos de existência, considerando agências humanas e não humanas e dando foco aos viventes terrestres, em vez de tomar como dado o foco no agente humano, seus interesses e suas estruturas.
Com este olhar, sugerimos uma ruptura não somente com discursos dominantes na área de negócios que validam práticas que produzem espaços assimétricos, como também uma ruptura com a própria noção do organizar humano como o verdadeiro e legítimo. Acreditamos contribuir para produção de um conhecimento que valoriza tanto novos saberes para o campo da administração, a partir de uma diversidade teórica, quanto esferas de produções não científicas e não humanas que têm fortalecido assimetrias, especialmente no contexto brasileiro no setor de mineração, o que tem perpetuado desastres.
Neste contexto, é particularmente significativo para o campo científico da administração refletir sobre o papel que organizações, principalmente sob a forma corporativa, têm no estado de coisas marcado por grandes catástrofes ambientais mediadas pela ação humana organizada no planeta (Figueiredo et al., 2020Figueiredo, M. D., Marquesan, F. F. S., & Imas, J. M. (2020). Anthropocene and “development”: Intertwined trajectories since the beginning of the Great Acceleration. Revista de Administração Contemporânea, 24(5), 400-413. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190400
https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020...
). À medida que fatores climáticos e relações mais que humanas são permeados por verdadeiras catástrofes, faz sentido fortalecer uma agenda de pesquisa que contribua para a compreensão e produção de formas (in)sustentáveis de organizar (Delbridge et al., 2024Delbridge, R., Helfen, M., Pekarek, A., Schuessler, E., & Zietsma, C. (2024). Organizing sustainably: Introduction to the special issue. Organization Studies, 45(1), 7-29. https://doi.org/10.1177/01708406231217143
https://doi.org/10.1177/0170840623121714...
).
A aproximação com perspectivas multiespécies nos EOR, especialmente, mostra-se original e tem sido recentemente discutida internacionalmente em eventos da área2 2 A exemplo do 40º Colóquio do European Group for Organizational Studies, a ocorrer em 2024 na Itália. . Enquanto pesquisadoras brasileiras, apresentamos uma articulação inovadora entre ‘famílias’ de teorias que, embora com graus distintos de maturidade teórica, conversam de forma aplicada a contextos locais, ainda que alimentadas por uma lógica transnacional. Argumentamos que ambas as teorizações (consolidada e emergente no campo da administração) se encontram quando propomos uma produção de conhecimento plural que conecta e atualiza o processo de construção teórica em relação aos mundos concretos multifacetados dos quais elas fazem parte e os quais buscam interpretar.
Nesse aprendizado, entendemos que essas dinâmicas de espacializar (que não se limitam à mineração, incluindo outras tantas atividades corporativas que conduzem o planeta ao Antropoceno), no campo da administração, podem ser mais bem compreendidas a partir de uma perspectiva multiespécies, em linha com o que defendem Tsing e outros autores da chamada ‘virada multiespécies’. Aqui, defendemos as contribuições dessa perspectiva para a administração em três eixos principais: o primeiro, de ordem ontológica; o segundo, de ordem metodológica; e o terceiro, de ordem política.
A contribuição ontológica que se discute aqui se dá por meio da relacionalidade. A dimensão relacional poderia estabelecer visões mais integrativas ao considerar na análise elementos para além dos humanos. Nas ontologias relacionais, territórios são espaços-tempos vitais que permitem uma série de inter-relações com o mundo natural que o cercam e que constituem parte dele (Escobar, 2015Escobar, A. (2015). Territorios de diferencia: La ontología política de los “derechos al território”. Cuadernos de antropología social, (41), 25-38. https://doi.org/10.34096/cas.i41.1594
https://doi.org/10.34096/cas.i41.1594...
). A ontologia relacional e as paisagens multiespécies se alinham - e justificam a análise aqui pretendida - considerando que as teorias da prática assumem um ‘modelo ecológico’ em que a agência não se concentra em humanos, mas é distribuída entre não humanos e humanos (Gherardi, 2009Gherardi, S. (2009). Introduction: The critical power of the ‘practice lens’. Management Learning, 40(2), 115-128. https://doi.org/10.1177/1350507608101225
https://doi.org/10.1177/1350507608101225...
). Isso porque a produção dessas paisagens ocorre concomitantemente por relações multiespécies que, além de entrelaçadas, modificam-se no decorrer das práticas organizativas ao longo do tempo (spacing). É preciso atentar para onde a escalabilidade falha, irrompendo relações não escalonáveis, observar a não escalabilidade. É fundamental pensar uma teoria não escalável da mineração lançando luz sobre o que a escalabilidade deixou para trás e sobre aspectos relacionais, a partir das perturbações causadas por humanos buscando dominar ‘outras coisas vivas’ (Tsing, 2015aTsing, A. L. (2015a). The mushroom at the end of the world: On the possibility of life in capitalist ruins. Princeton University Press.).
Considerando uma percepção ontológica relacional, a contribuição metodológica vem da mobilização de abordagens de pesquisa que reconheçam a agência e as lógicas próprias do mundo mais que humano e dos estudos multiespécies, buscando-se interpretar a emergência da vida a partir das dinâmicas produzidas entre um conjunto de seres dotados de agência, sejam eles organismos, sejam entidades (Ogden et al., 2013Ogden, L. A., Hall, B., & Tanita, K. (2013). Animals, plants, people, and things: A review of Multispecies Ethnography. Environment and Society, 4(1), 5-24. https://doi.org/10.3167/ares.2013.040102
https://doi.org/10.3167/ares.2013.040102...
). Aqui, lama, diques e vegetações podem ganhar vida em encontros polifônicos, pautados nas diferenças entre os elementos que compõem paisagens assimétricas, o que Tsing (2019Tsing, A. L. (2019). Viver nas ruínas: Paisagens multiespécies no Antropoceno. IEB Mil Folhas.) denomina fragmentos.
Na sequência, a partir de vivências plurais e de maneira situada, a contribuição política vem no sentido de lançar luz sobre as lógicas assimétricas da indústria para melhor compreensão dos fenômenos organizacionais e dos distintos ‘modos de ser’, de fazer política e de organizar em relação ao contexto empírico analisado. Na discussão de espaço organizacional isso passa por trazer os afetos à discussão, por compreender os espaços como práticas políticas, bem como por traduzir o caráter orgânico, sistêmico, polifônico e processual das práticas que formam espaços considerando a noção de spacing e, ainda, as incertezas que permeiam os arranjos espaciais dos quais nós, humanos, podemos (ou não) fazer parte.
Dado que estão postas tais paisagens em ruínas, a exemplo das ruínas da mineração, restaria talvez questionar como procurar vida considerando estados de precariedade em âmbito global e local. Considerar a indústria mineradora sob esta perspectiva, por exemplo, possibilita salientar a importância de pensar o conjunto de articulações que têm configurado a mineração, por um lado, localmente (seus antecedentes e suas consequências) e, ainda, inserida dentro de uma lógica escalável e de uma dinâmica global.
Uma teoria da não escalabilidade na mineração, em vez de contar com uma ciência escalável - isto é, replicável em qualquer escala sem que seus resultados sejam alterados -, focaliza a atenção àquilo que a escalabilidade deixou para trás em forma de visíveis ruínas ou de relações mais que humanas arruinadas, de lama. A cada emergir de uma pequena coordenação (um momento de fricção, em outras palavras), essa coordenação produz paisagens. Para a autora, as paisagens decorrem de ‘momentos de fricção’ (Tsing, 2019Tsing, A. L. (2019). Viver nas ruínas: Paisagens multiespécies no Antropoceno. IEB Mil Folhas.). Esses momentos dão ao conjunto (assemblages) uma trajetória, ao menos momentânea, já que se trata de uma composição de histórias em devir. Entendemos, assim, que, ao lançarmos luzes sobre essas relações mais que humanas na produção dos espaços, evidenciamos como elas fazem parte de - e modificam - as relações de tensão (ou de harmonização das tensões) em si.
Buscamos trazer à tona esse elo relacional para que a lógica conflituosa não seja escamoteada por determinados interesses humanos que determinam o que pode ou não permanecer em um espacializar pós-desastre produto de práticas que ao longo de décadas centralizam determinados grupos de interesses na produção de ruínas. Destacamos o caráter tensional dessas relações, uma vez que os debates mais amplos sobre transições para uma possível (e efetiva) sustentabilidade frequentemente negligenciam as características de organizações enquanto sistemas sociais em tensão (Delbridge et al., 2024Delbridge, R., Helfen, M., Pekarek, A., Schuessler, E., & Zietsma, C. (2024). Organizing sustainably: Introduction to the special issue. Organization Studies, 45(1), 7-29. https://doi.org/10.1177/01708406231217143
https://doi.org/10.1177/0170840623121714...
). Além disso, é fundamental discutirmos as práticas de um setor econômico altamente conflituoso e contestado, como a indústria extrativa mineral. Sinalizamos que essa indústria não constitui a única a propagar a destruição, a escalabilidade e seus efeitos para humanos e não humanos em comunidades locais, mas sugerimos um olhar atento a ela como um ponto de partida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Que parte animais, plantas e outros seres vivos têm no organizar do espaço das práticas da mineração? Como árvores, pássaros, grama, cavalos, peixes, arbustos e insetos, entre muitos outros em relação, podem ser agentes que organizam e desorganizam espaços, que espacializam ativamente a área afetada por um desastre-crime como o ocorrido em Mariana? Responder a essas perguntas demanda questionarmos dispositivos antropocêntricos arraigados em nossos saberes e fazeres organizacionais. Desafiar uma suposta separação ontológica entre organização e natureza, ou entre sujeitos e objetos do organizar espacial, acaba por desarticular essas bases que, por parecerem inabaláveis, raramente são questionadas.
De que forma podemos, a partir da adaptação de nossas técnicas de coleta, produção e análise de dados, ou da adoção ou invenção de novas técnicas (Leite & Carolino, 2024Leite, M. C. O., & Carolino, A. (2024). Mining collapses in the Global South: Rethinking the research process in destroyed spaces. In 40th EGOS Colloquium: Crossroads for Organizations: time, Space, and People.), abraçar o tom mais que humano de práticas organizativas? Como as ciências naturais, as ciências do sistema-Terra, as ciências da vida, podem nos ajudar nesse caminho? De que ferramentas precisamos para pensar e produzir práticas organizativas efetivamente mais socioambientalmente responsáveis e responsivas, a partir de suas imbricações em ecossistemas? As perturbações a ecologias podem ser pequenas, como uma árvore caindo na floresta e criando uma lacuna de luz, ou enormes, como um tsunami que destrói uma usina nuclear ou uma barragem que se rompe. De que métodos precisamos para dar conta delas? No caso das perturbações da indústria mineradora, diferentes espécies se distanciam ou passam a coabitar destroços e ruínas nem sempre facilmente visíveis. Muitos animais, árvores, plantas, humanos, já não podem, por si mesmos, narrar relações danosas. Como fazer o luto, os destroços, enfim, toda a ruína produzida não ser esquecida em nossas pesquisas? A que técnicas precisamos recorrer, sejam elas as de que já dispomos, sejam as que de forma original concebemos?
Como auxiliar no processo de politização de espaços como diques e barragens, cuja produção tem se dado por justificativas que aparentam ser apenas técnicas? Como tomar posição em práticas que legitimam decisões em jogos de poder assimétricos e centrados no interesse de determinados grupos humanos? A escalabilidade, reduzida a problemas técnicos e a decisões racionalizadas, precisa ser desafiada, precisamente por conta dos interesses distintos, para construirmos mobilizações que de algum modo considerem as relações mais que humanas e as diferenças produzidas nessas relações e suas consequências distribuídas de modo desigual. Um pensar não escalável permite sinalizar e questionar camuflagens, descaracterizações e seus efeitos - nas e a partir de - relações sociais. Se cada praga que infesta exclui outras, quem se torna praga, por que e a partir de quais relações e práticas? Quais as ervas daninhas da mineração?
Este ensaio se debruçou sobre questões socioambientais complexas. Nesse contexto, entrecruzam-se diferentes modos de espacializar, particulares e repletos de vivências, produzidos por agências humanas e não humanas que, em conjunto, movimentam aspectos sociais de relações organizadas, desorganizadas e em fricção. Escrevemos norteadas pela importância de compreender e (re)pensar continuamente a realidade, e não pela busca de respostas e afirmações verdadeiras (Meneghetti, 2011Meneghetti, F. K. (2011). O que é um ensaio-teórico?. Revista de Administração Contemporânea, 15(2), 320-332. https://doi.org/10.1590/S1415-65552011000200010
https://doi.org/10.1590/S1415-6555201100...
). Enfocamos as contribuições de uma abordagem multiespécies para o campo da administração, tomando a necessidade de questionar as práticas organizativas da indústria mineradora como contexto situado.
Optamos por apresentar as contribuições que mapeamos em três eixos (ontológico, metodológico e político), discutidas no tópico anterior. Intensificamos as perguntas já ao final deste ensaio por duas razões. A primeira é enfatizarmos àqueles que se interessam pelo tema, sejam pesquisadoras, sejam ativistas ou produtores diversos de saber e dispostos a questionar o hegemônico teorizar e praticar humano, que no campo da administração identificamos mais perguntas do que respostas no momento. Convidamos a aceitarem o convite de debater conosco as nuances multiespécies. A segunda razão está relacionada à primeira: precisamos materializar os tipos de perguntas que estão em jogo na operacionalização de pesquisas com o uso dessas abordagens. Entendemos que, com elas, podemos criar formas alternativas de pesquisas para responder à demanda cada vez mais urgente de tratarmos dos ferozes efeitos da gestão centralizada no humano (que sequer consegue contribuir com o conjunto de seres humanos no planeta).
Atentamos para a visibilização de relações mais que humanas que costumam estar invisíveis aos olhos de muitos teóricos e praticantes: as comunidades locais que habitam espaços e ecossistemas produzidos nesse organizar multiespécies. Entendemos que a visibilidade é um passo importante no sentido de romper com práticas de destruição e modificar as relações de tensão (ou de harmonização das tensões) em si. Aspectos contemporâneos de governança, da dita sustentabilidade e da construção de relações menos danosas, perpassam pelo próprio descentramento do humano. Buscamos trazer à tona esse elo para que a lógica conflituosa não seja escamoteada por determinados interesses humanos que determinam o que pode ou não permanecer em um espacializar pós-desastre produto de práticas que ao longo de décadas centralizam determinados grupos de interesses na produção de ruínas. É considerando esta diversidade que podemos reposicionar questões relacionadas à equidade, à justiça social e à produção de novos saberes que permitam à sociedade como um todo enfrentar dilemas que se apresentam na contemporaneidade (Bispo, 2022Bispo, M. S. (2022). Editorial: Em defesa da teoria e da contribuição teórica original em Administração. Revista de Administração Contemporânea, 26(6), e220158. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022220158.en
https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022...
).
Nesse caminho, procuramos abraçar a necessidade de conceber teoria e prática como interdependentes e em simbiose. A consideração dos aspectos sociais como o mais que humano e da prática como continuamente realizada por multiplicidades de modos de vida situados leva à importante contribuição que propomos para um pensar e teorizar multiespécies como novas construções para a administração. Esperamos, com este esforço, abrir mais um caminho de diálogo entre a administração e outros campos de conhecimento.
Reconhecemos que constitui um desafio enfocar elementos não humanos (propondo um descentrar do humano) a partir do próprio pensamento humano e, ainda, de uma visão antropocêntrica em que determinados grupos de interesse estão diferentemente posicionados em campos de ação, em articulações locais e globais, que determinam decisões a partir de transações econômicas. Na mineração, existem fatores que tornaram possível a escalabilidade (como os conflitos decorrentes da assimetria e da insuficiência de regulação e controle, a dificuldade de fazer cumprir normas, etc.). No entanto, defendemos que é repensando as práticas como construções políticas, em vez de uma mera ponderação de custos e benefícios, que podemos deixar vívido tudo que a lama representa para que a destruição não seja apagada no decorrer do tempo.
REFERENCES
- Advocacia Geral da União (2016). Termo de transação e de ajustamento de conduta. http://www.ibama.gov.br/phocadownload/cif/ttac/cif-ttac-completo.pdf
» http://www.ibama.gov.br/phocadownload/cif/ttac/cif-ttac-completo.pdf - Aisher, A., & Damodaran, V. (2016). Introduction: Human-nature interactions through a multispecies lens. Conservation and Society, 14(4), 293-304. https://www.jstor.org/stable/26393253
» https://www.jstor.org/stable/26393253 - Alcântara, V., Yamamoto, É. A., Garcia, A., & Campos, A. (2020). Antropoceno: O campo de pesquisas e as controvérsias sobre a era da humanidade. Revista Gestão & Conexões, 9(3), 11-31. https://doi.org/10.47456/regec.2317-5087.2020.9.3.31771.11-31
» https://doi.org/10.47456/regec.2317-5087.2020.9.3.31771.11-31 - Best, K., & Hindmarsh, J. (2019). Embodied spatial practices and everyday organization: The work of tour guides and their audiences. Human Relations, 72(2), 248-271. https://doi.org/10.1177/0018726718769712
» https://doi.org/10.1177/0018726718769712 - Beyes, T., & Steyaert, C. (2011a). The ontological politics of artistic interventions: Implications for performing action research. Action Research, 9(1), 100-115. https://doi.org/10.1177/1476750310396944
» https://doi.org/10.1177/1476750310396944 - Beyes, T., & Steyaert, C. (2011b). Spacing organization: Non-representational theory and performing organizational space. Organization, 19(1), 45-61. https://doi.org/10.1177/1350508411401946
» https://doi.org/10.1177/1350508411401946 - Bezerra, M. M., Lopes, L. L. S., Silva, J. S. D., & Ipiranga, A. S. R. (2019). Spatial practices in the city: The kidnapping of an arts organization. BAR-Brazilian Administration Review, 16(4), e180163. https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019180163
» https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019180163 - Bispo, M. S. (2021). Editorial: Refletindo sobre Administração Contemporânea. Revista de Administração Contemporânea, 26(1), e210203. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022210203.en
» https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022210203.en - Bispo, M. S. (2022). Editorial: Em defesa da teoria e da contribuição teórica original em Administração. Revista de Administração Contemporânea, 26(6), e220158. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022220158.en
» https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022220158.en - Borsatto, A. R. S., & Fantinel, L. D. (2024). “Fazendo do limão uma limonada sofisticada”: Gênero e raça no organizar cotidiano das práticas culinárias. Organizações & Sociedade, 30(107), 695-722. https://doi.org/10.1590/1984-92302023v30n0025PT
» https://doi.org/10.1590/1984-92302023v30n0025PT - Bretas, P. F. F., & Saraiva, L. A. S. (2013). Práticas de controle e territorialidades na cidade: Um estudo sobre lavadores e flanelinhas. Gestão.org-Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, 11(2), 247-270. https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/gestaoorg/article/view/21921
» https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/gestaoorg/article/view/21921 - Bowker, L. N. (2015). Re: Samarco dam failure largest by far in recorded history. https://lindsaynewlandbowker.wordpress.com/2015/12/12/samarcodamfailure-largest-by-far- in- recordedhistory/#:~:text=Through%20creation%20of%20a%20magnitude,a%20magnitude%2 0score% 20of%2041.42
» https://lindsaynewlandbowker.wordpress.com/2015/12/12/samarcodamfailure-largest-by-far- in- recordedhistory/#:~:text=Through%20creation%20of%20a%20magnitude,a%20magnitude%2 0score% 20of%2041.42 - Bowker, L. N., & Chambers, D. M. (2017). In the dark shadow of the supercycle tailings failure risk & public liability reach all time highs. Environments, 4(4), 75. https://doi.org/10.3390/environments4040075
» https://doi.org/10.3390/environments4040075 - Carrieri, A. D. P., Perdigão, D., Martins, P. G., & Aguiar, A. R. C. (2018). A gestão ordinária e suas práticas: O caso da Cafeteria Will Coffee. Revista de Contabilidade e Organizações, 12, e141359. https://doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2018.141359
- Carrieri, A. P., Perdigão, D. A., & Aguiar, A. R. C. (2014). A gestão ordinária dos pequenos negócios: Outro olhar sobre a gestão em estudos organizacionais. Revista de Administração, 49(4), 698-713. https://doi.org/10.5700/rausp1178
» https://doi.org/10.5700/rausp1178 - Carrieri, A., Murta, I., Mendonça, M., Maranhão, C. M. S. A., & Leite-da-Silva, A. R. (2008). Os espaços simbólicos e a construção de estratégias no Shopping Popular Oiapoque. Cadernos EBAPE.BR, 6(2), 1-13. https://doi.org/10.1590/S1679-39512008000200004
» https://doi.org/10.1590/S1679-39512008000200004 - Celermajer, D., Chatterjee, S., Cochrane, A., Fishel, S., Neimanis, A., O’Brien, A., Reid, S., Srinivasan, K., Schlosberg, D., & Waldow, A. (2020). Justice through a multispecies lens. Contemporary Political Theory, 19(3), 475-512. https://doi.org/10.1057/s41296-020-00386-5
» https://doi.org/10.1057/s41296-020-00386-5 - Chao, S., Bolender, K., & Kirksey, E. (2022). The promise of multispecies justice. Duke University Press.
- Cigler, B. A. (2007). The “big questions” of Katrina and the 2005 great flood of New Orleans. Public Administration Review, 67(S1), 64-76. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00814.x
» https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00814.x - Costa, V. Jr., Chagas, P. B., & Oliveira, J. S. D. (2022). Organização-cidade e território: A territorialidade das pessoas em situação de rua a partir de suas práticas cotidianas. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, 21(1), 175-200. https://doi.org/10.21529/RECADM.2022007
» https://doi.org/10.21529/RECADM.2022007 - Coulter, K. (2022). From interesting to influential: Looking forward with multispecies organization studies. In L. Tallberg, & L., Hamilton (Eds.), The Oxford Handbook of Animal Organization Studies (pp. 17-27). Oxford University Press.
- Dale, K. (2005). Building a social materiality: Spatial and embodied politics in organizational control. Organization, 12(5), 649-678. https://doi.org/10.1177/1350508405055940
» https://doi.org/10.1177/1350508405055940 - Dale, K., & Burrell, G. (2008). The spaces of organization and the organization of space: Power, identity and materiality at work. Bloomsbury Publishing.
- Danby, P., Dashper, K., & Finkel, R. (2019). Multispecies leisure: Human-animal interactions in leisure landscapes. Leisure Studies, 38(3), 291-302. https://doi.org/10.1080/02614367.2019.1628802
» https://doi.org/10.1080/02614367.2019.1628802 - Dashper, K. (2019). Moving beyond anthropocentrism in leisure research: Multispecies perspectives. Annals of Leisure Research, 22(2), 133-139. https://doi.org/10.1080/11745398.2018.1478738
» https://doi.org/10.1080/11745398.2018.1478738 - Dashper, K. (2020). More‐than‐human emotions: Multispecies emotional labour in the tourism. Gender, Work & Organization, 27(1), 24-40. https://doi.org/10.1111/gwao.12344
» https://doi.org/10.1111/gwao.12344 - Delbridge, R., Helfen, M., Pekarek, A., Schuessler, E., & Zietsma, C. (2024). Organizing sustainably: Introduction to the special issue. Organization Studies, 45(1), 7-29. https://doi.org/10.1177/01708406231217143
» https://doi.org/10.1177/01708406231217143 - Domingues, F. F., Fantinel, L. D., & Figueiredo, M. D. D. (2019). Entre o concebido e o vivido, o praticado: O entrecruzamento dos espaços na feira de artes e artesanato da Praça dos Namorados em Vitória/ES. Organizações & Sociedade, 26(88), 28-49. https://doi.org/10.1590/1984-9260882
» https://doi.org/10.1590/1984-9260882 - Escobar, A. (2015). Territorios de diferencia: La ontología política de los “derechos al território”. Cuadernos de antropología social, (41), 25-38. https://doi.org/10.34096/cas.i41.1594
» https://doi.org/10.34096/cas.i41.1594 - Fantinel, L. D. (2020). O organizar multiespécie da cidade. In L. A. S. Saraiva & Ana Silvia R. Ipiranga (Orgs.), História, práticas sociais e gestão das/nas cidades (pp. 297-344). Barlavento.
- Fantinel, L. D. (2021, September). Viver e organizar multiespécies: Um convite à Administração para seguir com o incômodo. In Anais do 55° Encontro da a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Evento online.
- Fantinel, L. D., & Cavedon, N. R. (2010a). A cultura organizacional do restaurante Chalé da Praça XV em Porto Alegre: Espaços e tempos sendo revelados. Revista de Administração Mackenzie, 11(1), 6-37. https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100002
» https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100002 - Fantinel, L. D., & Cavedon, N. R. (2010b). Cardápio dos tempos e espaços de um bistrô. Pretexto, 11(3), 9-33. https://doi.org/10.21714/pretexto.v11i3.648
» https://doi.org/10.21714/pretexto.v11i3.648 - Fantinel, L. D., & Davel, E. (2020). Learning from sociability-intensive organizations: An ethnographic study in a coffee organization. Brazilian Administration Review, 16(4), e180142. https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019180142
» https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2019180142 - Fantinel, L. D., & Fischer, T. M. D. (2012). Organizações e contextos urbanos: Os cafés e as sociabilidades. Gestão e Sociedade, 6(15), 280-307. https://doi.org/10.21171/ges.v6i15.1553
» https://doi.org/10.21171/ges.v6i15.1553 - Feldman, M. S., & Orlikowski, W. J. (2011). Theorizing practice and practicing theory. Organization Science, 22(5), 1240-1253. https://www.jstor.org/stable/41303116
» https://www.jstor.org/stable/41303116 - Fernandes, T. A., Silva, A. R. L. D., & Machado, F. C. L. (2021). A organização da prática dos roteiros turísticos no turismo receptivo. Cadernos EBAPE.BR, 19(4), 842-857. https://doi.org/10.1590/1679-395120190138
» https://doi.org/10.1590/1679-395120190138 - Figueiredo, M. D., & Cavedon, N. R. (2020). O espaço dos indesejáveis: A circularidade da representação de estigma em um centro comercial de Porto Alegre. Civitas-Revista de Ciências Sociais, 12(3), 579-594. https://doi.org/10.15448/1984-7289.2012.3.13017
» https://doi.org/10.15448/1984-7289.2012.3.13017 - Figueiredo, M. D., Marquesan, F. F. S., & Imas, J. M. (2020). Anthropocene and “development”: Intertwined trajectories since the beginning of the Great Acceleration. Revista de Administração Contemporânea, 24(5), 400-413. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190400
» https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190400 - Fischer, T. M. D. (1997). A cidade como teia organizacional: Inovações, continuidades e ressonâncias culturais Salvador, BA, cidade puzzle. Revista de Administração Pública, 31(3), 74-88. https://periodicos.fgv.br/rap/article/view/7906
» https://periodicos.fgv.br/rap/article/view/7906 - Fontoura, Y., Naves, F., Teodosio, A. S. S., & Gomes, M. (2019). “Da lama ao caos”: Reflexões sobre a crise ambiental e as relações Estado-Empresa-Sociedade. Farol - Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade, 6(15), 17-41. https://doi.org/10.25113/farol.v6i15.5440
» https://doi.org/10.25113/farol.v6i15.5440 - Freitas, N. C., Casagrande, L., & Bittencourt Meira, F. (2021). O que o antropoceno tem a aprender com o decrescimento convivial? O campo ambiental diante dos imperativos da modernidade. Revista Gestão & Conexões, 9(3), 52-73. https://doi.org/10.47456/regec.2317-5087.2020.9.3.31845.52-73
» https://doi.org/10.47456/regec.2317-5087.2020.9.3.31845.52-73 - Gherardi, S. (2009). Introduction: The critical power of the ‘practice lens’. Management Learning, 40(2), 115-128. https://doi.org/10.1177/1350507608101225
» https://doi.org/10.1177/1350507608101225 - Gillespie, K. (2021). For multispecies autoethnography. Environment and Planning E: Nature and Space, 5(4), 2098-2111. https://doi.org/10.1177/25148486211052872
» https://doi.org/10.1177/25148486211052872 - Gomes, R., Cardoso, S. P., & Domingues, F. F. (2021). A (re)produção dos espaços urbanos brasileiros nos Estudos Organizacionais: Que cidade é essa? Gestão & Regionalidade, 37(111), 43-63. https://doi.org/10.13037/gr.vol37n111.6539
» https://doi.org/10.13037/gr.vol37n111.6539 - Gomes, R., & Fantinel, L. D. (2022). Gênero-corpo-sexualidade no espacializar: Produzindo corpos-em-campo na pesquisa. Revista de Administração de Empresas, 62(4), 1-17. https://doi.org/10.1590/S0034-759020220407
» https://doi.org/10.1590/S0034-759020220407 - Instituto Brasileiro de Mineração. (n. d.-a). Relatório anual de atividades - julho 2018 a junho 2019. https://ibram.org.br/relatorios-de- atividades
» https://ibram.org.br/relatorios-de- atividades - Instituto Brasileiro de Mineração. (n. d.-b). Panorama Mineração do Brasil 2023. https://panoramamineracao.com.br/pmb2023
» https://panoramamineracao.com.br/pmb2023 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. (2015). Laudo técnico preliminar: Impactos ambientais decorrentes do desastre envolvendo o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Brasília. http://www.ibama.gov.br/phocadownload/barragemdefundao/laudos/laudo_tecnico_prelimin ar_Ibama.pdf
» http://www.ibama.gov.br/phocadownload/barragemdefundao/laudos/laudo_tecnico_prelimin ar_Ibama.pdf - Ipiranga, A. S. R. (2010). A cultura da cidade e seus espaços intermediários: Os bares e os restaurantes. Revista de Administração Mackenzie, 11(1), 65-91. https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100004
» https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100004 - Ipiranga, A. S. R. (2016). Práticas culturais de espaços urbanos e o organizar estético: Uma proposta de estudo. Revista Interdisciplinar de Gestão Social, 5(2). https://doi.org/10.9771/rigs.v5i2.12527
» https://doi.org/10.9771/rigs.v5i2.12527 - Ipiranga, A. S. R., & Lopes, L. L. S. (2017). O organizar da estética espacial: Uma história táctil da Praça dos Leões. Sociedade, Contabilidade e Gestão, 12(1), 130-153. https://doi.org/10.21446/scg_ufrj.v12i1.13402
» https://doi.org/10.21446/scg_ufrj.v12i1.13402 - Kelman, I. (2020). Disaster by choice: How our actions turn natural hazards into catastrophes. Oxford University Press.
- Kirksey, E., & Helmreich, S. (2010). The emergence of multispecies ethnography. Cultural Anthropology, 25(4), 545-576. https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2010.01069.x
» https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2010.01069.x - Leite, M. C. O., & Zambeli, A. (2023). In the wake of the mudslide: Tensions, practices and new relationships based on the experience of victims of a Brazilian mining company’s dam collapse. In 39th EGOS Colloquium: Organizing for the Good Life: Between Legacy and Imagination.
- Leite, M. C. O., Gomes, M., & Fantinel, L. D. (2024). Camouflaging practices and economic exploitation of nature: Following the mud of destruction after a mining disaster. In 40th EGOS Colloquium: Crossroads for Organizations: Time, Space, and People.
- Leite, M. C. O., & Carolino, A. (2024). Mining collapses in the Global South: Rethinking the research process in destroyed spaces. In 40th EGOS Colloquium: Crossroads for Organizations: time, Space, and People.
- Mac-Allister, M. (2004). A cidade no campo dos estudos organizacionais. Organizações & Sociedade, 11(Spe), 171-181. https://doi.org/10.1590/1984-9110012
» https://doi.org/10.1590/1984-9110012 - Meneghetti, F. K. (2011). O que é um ensaio-teórico?. Revista de Administração Contemporânea, 15(2), 320-332. https://doi.org/10.1590/S1415-65552011000200010
» https://doi.org/10.1590/S1415-65552011000200010 - Munro, I., & Jordan, S. (2013). ‘Living Space’ at the Edinburgh Festival Fringe: Spatial tactics and the politics of smooth space. Human Relations, 66(11), 1497-1525. https://doi.org/10.1177/0018726713480411
» https://doi.org/10.1177/0018726713480411 - Nascimento, M. C. R., Oliveira, J. S., Teixeira, J. C., & Carrieri, A. P. (2015). Com que cor eu vou pro shopping que você me convidou? Revista de Administração Contemporânea, 19(3), 245-268. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20151510
» https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20151510 - Nascimento, M. C. R., Teixeira, J. C., Oliveira, J. S., & Saraiva, L. A. S. (2016). Práticas de segregação e resistência nas organizações: Uma análise discursiva sobre os “rolezinhos” na cidade de Belo Horizonte (MG). Revista de Administração Mackenzie, 17(1), 55-81. https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n1p55-81
» https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n1p55-81 - Nogueira, J. M. M., Rodrigues, C. C. C., & Aguiar, A. C. (2021). Enlightenment, critical theory, and the role of business schools in the Anthropocene. Revista de Gestão Social e Ambiental, 15, e02816. https://doi.org/10.24857/rgsa.v15.2816
» https://doi.org/10.24857/rgsa.v15.2816 - O’Doherty, D., & Neyland, D. (2019). The developments in ethnographic studies of organising: Towards objects of ignorance and objects of concern. Organization, 26(4), 449-469. https://doi.org/10.1177/1350508419836965
» https://doi.org/10.1177/1350508419836965 - Ogden, L. A., Hall, B., & Tanita, K. (2013). Animals, plants, people, and things: A review of Multispecies Ethnography. Environment and Society, 4(1), 5-24. https://doi.org/10.3167/ares.2013.040102
» https://doi.org/10.3167/ares.2013.040102 - Oliveira, J. S., & Figueiredo, M. D. (2021). Os espaços, as práticas e as etnografias nos Estudos Organizacionais brasileiros. Farol-Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade, 8(21), 215-262. https://doi.org/10.25113/farol.v8i21.5225
» https://doi.org/10.25113/farol.v8i21.5225 - Pinheiro, V. P., Ipiranga, A. S. R., & Lopes, L. L. S. (2023). A economia criativa enquanto prática de espaço no contexto das cidades criativas do sul global: O caso do Poço da Draga. Revista de Administração Pública, 57(6), e2023-0416. https://doi.org/10.1590/0034-761220220416
» https://doi.org/10.1590/0034-761220220416 - Reckwitz, A. (2002). Toward a theory of social practices: A development in culturalist theorizing. European Journal of Social Theory, 5(2), 243-263. https://doi.org/10.1177/13684310222225432
» https://doi.org/10.1177/13684310222225432 - Rezende, A. F., Saraiva, L. A. S., & Andrade, L. F. S. (2024). “Transformando cruz em encruzilhada”: Blocos afro de carnaval e a produção de espaços negros em Belo Horizonte. Organizações & Sociedade, 30(107), 670-694. https://doi.org/10.1590/1984-92302023v30n0024PT
» https://doi.org/10.1590/1984-92302023v30n0024PT - Rico, M., Benito, G., Salgueiro, A. R., Díez-Herrero, A., & Pereira, H. G. (2008). Reported tailings dam failures: A review of the European incidents in the worldwide context. Journal of Hazardous Materials, 152(2), 846-852. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.07.050
» https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.07.050 - Rupprecht, C. D. D., Vervoort, J., Berthelsen, C., Mangnus, A., Osborne, N., Thompson, K., Urushima, A. Y. F., Kóvskaya, M., Spiegelberg, M., Cristiano, S., Springett, J., Marschütz, B., Flies, E. J., McGreevy, S. R., Droz, L., Breed, M. F., Gan, J., Shinkai, R., & Kawai, A. (2020). Multispecies sustainability. Global Sustainability, 3, e34. https://doi.org/10.1017/sus.2020.28
» https://doi.org/10.1017/sus.2020.28 - Samarco (2016). Re: Fazer o que Deve ser feito: Esse é o nosso compromisso. Retrieved from https://www.samarco.com/wpcontent/uploads/2015/12/DossieSamarco_09_152.pdf
» https://www.samarco.com/wpcontent/uploads/2015/12/DossieSamarco_09_152.pdf - Sandberg, J., & Alvesson, M. (2011). Ways of constructing research questions: Gap-spotting or problematization? Organization, 18(1), 23-44. https://doi.org/10.1177/1350508410372151
» https://doi.org/10.1177/1350508410372151 - Santos, R. S. P., & Milanez, B. (2017). Estratégias corporativas no setor extrativo: Uma agenda de pesquisa para as ciências sociais. Caderno Eletrônico de Ciências Sociais, 5(1), 1-26. https://doi.org/10.24305/cadecs.v5i1.2017.17876
» https://doi.org/10.24305/cadecs.v5i1.2017.17876 - Saraiva, L. A. S., & Carrieri, A. P. (2012). Organização-cidade: Proposta de avanço conceitual a partir da análise de um caso. Revista de Administração Pública, 46(2), 547-576. https://doi.org/10.1590/S0034-76122012000200010
» https://doi.org/10.1590/S0034-76122012000200010 - Saraiva, L. A. S., Carrieri, A. P., Soares, A. S. (2014). Territorialidade e identidade nas organizações: O caso do mercado central de Belo Horizonte. Revista de Administração Mackenzie, 15(2), 97-126. https://doi.org/10.1590/S1678-69712014000200005
» https://doi.org/10.1590/S1678-69712014000200005 - Schatzki, T. R. (2006). On organizations as they happen. Organization Studies, 27(12), 1863-1873. https://doi.org/10.1177/0170840606071942
» https://doi.org/10.1177/0170840606071942 - Smart, A. (2014). Critical perspectives on multispecies ethnography. Critique of Anthropology, 34(1), 3-7. https://doi.org/10.1177/0308275X13510749
» https://doi.org/10.1177/0308275X13510749 - Svampa, M. N. (2013). “Consenso de los commodities” y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad, (244), 30-46. https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/
» https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/ - Svampa, M. (2020). As fronteiras do neoextrativismo na América Latina: Conflitos socioambientais, giro ecoterritorial e novas dependências. Elefante.
- Taylor, S., & Spicer, A. (2007). Time for space: A narrative review of research on organizational spaces. International Journal of Management Reviews, 9(4), 325-346. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00214.x
» https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00214.x - Teixeira, J. C., Saraiva, L. A. S., & Carrieri, A. P. (2015). Os lugares das empregadas domésticas. Organizações & Sociedade, 22(72), 161-178. https://doi.org/10.1590/1984-9230728
» https://doi.org/10.1590/1984-9230728 - Tierney, K. (2020). Disasters: A sociological approach. Polity Press.
- Tschakert, P., Schlosberg, D., Celermajer, D., Rickards, L., Winter, C., Thaler, M., Stewart-Harawira, M., & Verlie, B. (2021). Multispecies justice: Climate-just futures with, for and beyond humans. Wires: Climate Change, 12(2), 1-10. https://doi.org/10.1002/wcc.699
» https://doi.org/10.1002/wcc.699 - Tsing, A. L. (2005). Friction: An ethnography of global connection. Princeton University Press.
- Tsing, A. L. (2015b). Margens indomáveis: Cogumelos como espécies companheiras. Ilha Revista de Antropologia, 17(1), 177-201. https://doi.org/10.5007/2175-8034.2015v17n1p177
» https://doi.org/10.5007/2175-8034.2015v17n1p177 - Tsing, A. L. (2015a). The mushroom at the end of the world: On the possibility of life in capitalist ruins. Princeton University Press.
- Tsing, A. L. (2019). Viver nas ruínas: Paisagens multiespécies no Antropoceno. IEB Mil Folhas.
- Tsing, A. L. (2021). O antropoceno mais que humano. Ilha Revista de Antropologia, 23(1), 176-191. https://doi.org/10.5007/2175-8034.2021.e75732
» https://doi.org/10.5007/2175-8034.2021.e75732 - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2015). Gestão de riscos de desastres para o Patrimônio Mundial. Iphan.
- United Nations Environment Programme. (2017). Mine tailings storage: Safety is no accident. Nairobi, Arendal. UNEP.
- United States Geological Survey. (2020). Mineral commodity summaries 2020. U.S. Geological Survey. Reston, Virginia. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf
» https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf - Van Dooren, T., Kirksey, E., & Münster, U. (2016). Multispecies studies: Cultivating arts of attentiveness. Environmental Humanities, 8(1), 1-23. https://doi.org/10.1215/22011919-3527695
» https://doi.org/10.1215/22011919-3527695 - Vasquez, C. (2013). Spacing organization: Or how to be here and there at the same time. In D. Robichaud, & F. Cooren (Eds.), Organization and Organizing: Materiality. Agency, and Discourse (pp. 127-131). Routledge.
- Wels, H. (2020). Multi-species ethnography: Methodological training in the field in South Africa. Journal of Organizational Ethnography, 9(3), 343-363. https://doi.org/10.1108/JOE-05-2020-0020
» https://doi.org/10.1108/JOE-05-2020-0020 - Wilkie, R. (2015). Multispecies scholarship and encounters: Changing assumptions at the human-animal nexus. Sociology, 49(2), 323-339. https://doi.org/10.1177/0038038513490356
» https://doi.org/10.1177/0038038513490356 - Zhouri, A., Valencio, N., Oliveira, R., Zucarelli, M., Laschefski, K., & Santos, A. F. (2016). O desastre da Samarco e a política das afetações: classificações e ações que produzem o sofrimento social. Ciência e Cultura, 68(3), 36-40. http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602016000300012
» http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602016000300012
-
Classificação JEL:
Z130
-
1
Conforme nível de gravidade, em ordem decrescente, entendem-se por falhas ‘muito graves’ na barragem de rejeitos aquelas que causam perda múltipla de vidas (~ 20) e/ou liberação de descarga total ≥ 1.000.000 m3, e/ou runout de 20 km ou mais; por falhas ‘graves’ as que causam perda de vida e/ou liberação de descarga semissólida ≥ 100.000 m3. ‘Outras falhas nas barragens de rejeitos’ são classificadas como falhas de engenharia/instalações que não sejam as entendidas como muito sérias ou sérias, sem perda de vidas; já ‘outros acidentes relacionados a rejeitos’ constituem acidentes que não sejam classificados nas primeiras três categorias de falhas de barragens (Unep, 2017).
-
2
A exemplo do 40º Colóquio do European Group for Organizational Studies, a ocorrer em 2024 na Itália.
-
Pareceristas:
Wescley Xavier (Universidade Federal de Viçosa, Brasil) https://orcid.org/0000-0003-3524-3566Fabio Vizeu (Universidade Positivo, Brasil) https://orcid.org/0000-0003-2261-3142 -
Relatório de Revisão por Pares:
O Relatório de Revisão por Pares está disponível neste link externo. -
Financiamento
As autoras agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão de bolsa ao projeto que deu origem a este trabalho. -
Método de Revisão por Pares
Este conteúdo foi avaliado utilizando o processo de revisão por pares duplo-cego (double-blind peer-review). A divulgação das informações dos pareceristas constantes na primeira página e do Relatório de Revisão por Pares (Peer Review Report) é feita somente após a conclusão do processo avaliativo, e com o consentimento voluntário dos respectivos pareceristas e autores. -
Disponibilidade dos Dados
A RAC incentiva o compartilhamento de dados mas, por observância a ditames éticos, não demanda a divulgação de qualquer meio de identificação de sujeitos de pesquisa, preservando a privacidade dos sujeitos de pesquisa. A prática de open data é viabilizar a reproducibilidade de resultados, e assegurar a irrestrita transparência dos resultados da pesquisa publicada, sem que seja demandada a identidade de sujeitos de pesquisa.
Editado por
Editor-chefe:
Disponibilidade de dados
A RAC incentiva o compartilhamento de dados mas, por observância a ditames éticos, não demanda a divulgação de qualquer meio de identificação de sujeitos de pesquisa, preservando a privacidade dos sujeitos de pesquisa. A prática de open data é viabilizar a reproducibilidade de resultados, e assegurar a irrestrita transparência dos resultados da pesquisa publicada, sem que seja demandada a identidade de sujeitos de pesquisa.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
24 Maio 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
01 Nov 2023 -
Revisado
24 Jan 2024 -
Aceito
27 Fev 2024 -
Publicado
21 Mar 2024