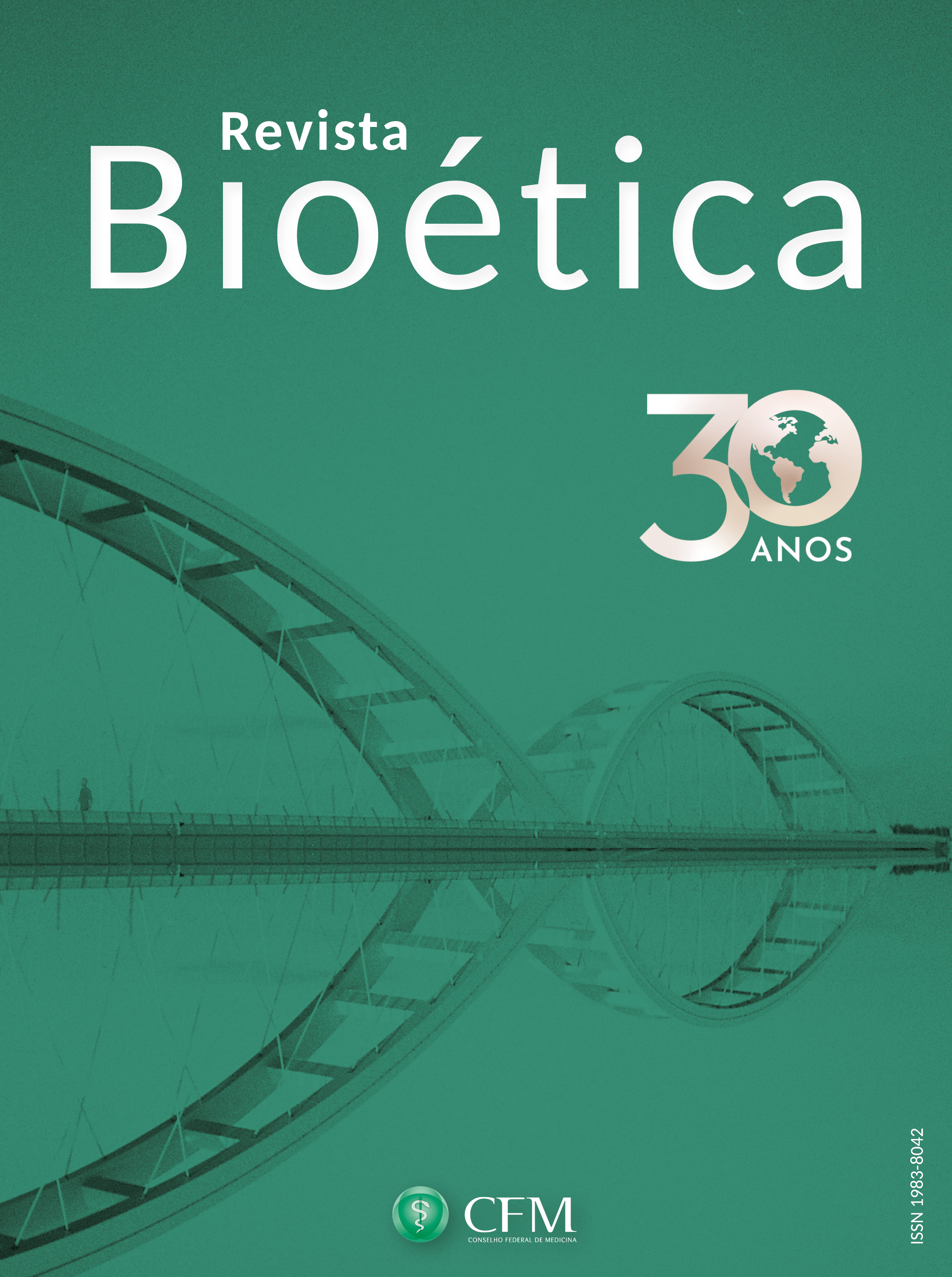Resumos
Este ensaio tem como objetivo apontar os possíveis elementos para a atuação da bioética no âmbito dos problemas urbanos. Para tanto, traça um breve histórico do conceito e propõe um modo de funcionamento, a partir da perspectiva potteriana de bioética, por meio de método, produção e aplicação – respectivamente, o trabalho etnográfico, a produção de princípios e a aplicação dos dois aos conflitos em foco.
Bioética; População urbana; Política
The aim of this essay is to describe the role of bioethics in relation to urban problems. The paper presents a brief history of the concept of bioethics, taking the Potter perspective as its starting point, and proposes a mode of operation through method, production and application, considering ethnography and the peodution of principles and the application of these concepts to the conflicts in focus.
Bioethics; Urban population; Politics
El presente ensayo pretende señalar los posibles elementos para la actuación de la bioética en relación a los problemas urbanos. Para ello, traza una breve historia del concepto y propone un método de operación, desde la perspectiva de la bioética potteriana por medio del método, la producción y la aplicación respectivamente, el trabajo etnográfico, la producción y la aplicación de estos principios a los conflictos enfocados.
Bioética; Población urbana; Política
Este breve ensaio pretende resgatar a discussão acerca de uma bioética urbana, atualizando o conceito e defendendo a ideia de que os conflitos urbanos emergem do encontro entre um modelo abstrato de cidade e aquela que se constrói permanentemente nas ruas, nas favelas, bairros populares e ocupações urbanas. Isso quer dizer que os agentes urbanos extrapolam os agentes formais – governos e proprietários, tidos como legítimos –, incluindo aquelas pessoas que, por vezes, são denominadas como “os problemas das cidades”. Considerando a urbanização das últimas quatro décadas como fenômeno planetário, em maior ou menor grau, aponta-se a importância de conduzir a reflexão bioética por essa vertente teórica, voltada para a identificação e a interpretação dos conflitos a partir do contexto no qual emergem, bem como para a contemplação dos diversos modos de existência envolvidos no conflito.
Isso porque as dinâmicas e as mudanças urbanas tanto modificam a cidade fisicamente quanto transformam as diferentes experiências de vida no espaço urbano: O que conta, com as cidades de hoje, é menos os seus aspectos de infraestrutura, de comunicação e de serviço do que o fato de engendrarem, por meio de equipamentos materiais e imateriais, a existência humana sob todos os aspectos em que se queira considerá-las 11 . Guattari F. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34; 2012. p. 152.. Partindo dessa dimensão ampla, que envolve aspectos objetivos e subjetivos da existência, este trabalho resgata perspectivas da produção teórica potteriana, inserindo-as em uma proposta analítica voltada especificamente para as dinâmicas coletivas que induzem e são induzidas pela urbanidade.
Bioética urbana
Ao equacionar as relações assimétricas, nas quais certas ações humanas podem acarretar transformações reconhecidas como significativas e/ou irreversíveis em outros modos de existência, a bioética atual tem seu campo de atuação voltado – necessariamente – para os problemas urbanos. O reconhecimento dessa característica, porém, transcende a ideia de que, por se acharem contextualizados em local específico, os problemas identificados e trabalhados pela bioética são traçados no espaço urbano como se o espaço fosse tabula rasa, mera superfície para os acontecimentos. Ao contrário, nessa reflexão, a cidade desponta como elemento ativo na produção de conflituosidade, condicionando e sendo condicionada pelas inter-relações e pela relação antrópica.
Da mesma forma que se reescreve a ideia de cidade, alçando-a à condição de agente, não se quer dizer que os problemas ou acontecimentos urbanos só possam ser analisados à luz da bioética se estiverem relacionados ao sentido mais restrito de saúde, como sugere Blustein em sua definição de bioética urbana: (…) estudo de problemas éticos relacionados à medicina e aos cuidados em saúde que emergem em contextos urbanos 22 . Blustein J. Setting the agenda for urban bioethics. J Urban Health. 2001;78(1):7-20.. Também nesse aspecto se pretende conferir à bioética sentido mais amplo e complexo, que enfatiza a proporção expandida tanto no que concerne à ética quanto no que diz respeito à ideia de saúde, ponderando ainda o efeito que as múltiplas relações de causalidade, potencializadas no meio urbano, podem estabelecer na realidade.
Embora se referende aqui a ideia de que a reflexão formal fundamentada na bioética urbana ainda é incipiente, não se advoga que o enfrentamento dos problemas urbanos pela bioética esteja totalmente ausente da análise desse campo. No resgate da proposição que originou a bioética, é possível encontrar a gênese dessa cosmovisão, que conflui para o reconhecimento da complexidade das interações entre os seres humanos e seus hábitos no hábitat urbano. Assim, a preocupação acerca da ausência virtual do contexto urbano na quase totalidade das formulações de problemas bioéticos 33 . Jonsen AR. Social responsibilities of bioethics. J Urban Health. 2001;78(1):21-8. reduz-se consideravelmente quando se insere o problema no intrincado desenho desse quadro maior. A bioética urbana, aqui esboçada em breves fragmentos, deve ser capaz de refletir a dinâmica das relações no espaço urbano, conferindo lugar de fala a todos os interlocutores do espaço social, para evidenciar, criticar e propor soluções às assimetrias de poder 44 . Jonsen AR. Op. Cit. p. 27..
História e funcionamento do conceito
No artigo “Social responsibilities of bioethics”, de 2001, Albert R. Jonsen apresenta a possibilidade de uma bioética urbana. O autor parte da crítica à bioética centrada na autonomia individual em detrimento dos aspectos e conflitos sociais. Para ele, a bioética urbana faz emergir casos da vida na cidade, de modo que, ao tratá-los, é preciso ter o cuidado de não convertê-los ao padrão da bioética de casos [focados na] autonomia pessoal, arrancando-os de suas origens urbanas 44 . Jonsen AR. Op. Cit. p. 27..
Dessa constatação de Jonsen, emerge a questão da adjetivação da bioética para a constituição da expressão bioética urbana. O questionamento remete não à constituição de mais uma unidade teórica ou disciplinar, mas a uma proposta analítica que articula elementos heterogêneos em relações provisórias, de acordo com o problema a ser enfrentado. Disso decorre um obstáculo, bem-vindo, à pretensão de formar outra subárea fechada na bioética, com experts próprios e sistematizações teóricas específicas.
Ao somar ao termo “bioética” o adjetivo “urbana”, tem-se como objetivo menos uma qualificação, ou explicitação exaustante, do que uma intrusão; ou seja, por meio dessa adjetivação, abre-se um novo campo de problematização que adentra o escopo de funcionamento da bioética. Tal como concebido aqui, o novo campo, contudo, não se molda a tal escopo, mas sim dá início a um processo no qual tanto o instrumento de análise – a bioética – modifica o campo de problematização – os conflitos urbanos – quanto este último modifica o instrumento de análise. Isso porque o campo de problematização demanda abordagem diferente daquela centrada no princípio de autonomia, forçando assim a busca e o desenvolvimento de outras ferramentas teóricas capazes de dar conta das variáveis que emergem dos conflitos urbanos.
Produz-se, assim, a diminuição da velocidade 55 . Stengers I. Cosmopolitics I. Minneapolis: University of Minnesota
Press; 2011. em direção à produção de respostas apressadas aos
problemas urbanos, como, por exemplo, aquelas que se dão por meio da subsunção da
complexidade de tais questões sociais ao respeito ao princípio de autonomia, como
proposta individual para resolução de resolução dos conflitos oriundos do ambiente
urbanos e/ou ao apelo a um Estado interventor/protetor, que teria capacidade de
atuar na dimensão coletivas. Subsumindo a fala daqueles que experimentam – de fato –
a complexidade dos conflitos sociais em seu cotidiano no discurso da
desfuncionalidade em relação ao padrão hegemônico, esse tipo de análise não promove,
a priori, nem o diálogo nem a emancipação 66 . Nascimento WF, Martorell LB. A bioética de intervenção em
contextos descoloniais. [Internet]. Rev. bioét. (Impr.). 2013 [acesso set 2014];
21(3):423-31. Disponível:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-80422013000300006
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
.
A justaposição entre os termos “bioética” e “urbana” refere-se também à comunicação entre diferentes esferas de existência, chamada de transversalidade. Em outras palavras, como queria Van Rensselaer Potter, pretende-se o funcionamento semelhante ao de uma ponte, mas não só entre ciências biológicas e humanidades, mas também entre diversos modos de existência, diferentes saberes e práticas, que compartilhem consensos ou dissensos, em associações ou batalhas.
Formalmente, essa intrusão dos problemas urbanos em relação à bioética aparece brevemente em seu livro de 1971, “Bioethics: Bridge to the future” 77 . Potter VR. Bioethics: bridge to the future. Englewood Cliffs: Prentice-Hall; 1971., no qual Potter enumera vários campos problemáticos em que as respectivas éticas deveriam funcionar e envolveriam – necessariamente – a bioética, a qual, segundo o autor, é uma ciência da sobrevivência: Nós nos encontramos em uma situação de grande necessidade de uma ética da Terra, uma ética da vida selvagem, uma ética populacional, uma ética do consumo, uma ‘ética urbana’ [destaque meu], uma ética internacional, uma ética geriátrica (...) e todas elas envolvem a bioética 88 . Potter VR. Op. cit. p. 7..
Apesar da generalidade e indefinição inicial do termo “sobrevivência” 99 . Schramm FR. Uma breve genealogia da bioética em companhia de Van Rensselaer Potter. Bioethikos. 2011;5(3):302-8., Potter, em textos posteriores 1010 . Potter VR. Global bioethics: building on the Leopold Legacy. Michigan: Michigan State University Press; 1988.,1111 . Potter VR, Potter L. Global bioethics: Converting sustainable development to global survival. Med Glob Surviv. 1995;2(3):185-91., busca pormenorizá-lo por meio de tipologia calcada na ideia de sobrevivência: mera sobrevivência; sobrevivência miserável; sobrevivência ideal; sobrevivência irresponsável; sobrevivência aceitável. A última dessas classificações seria o objetivo da bioética.
A categorização da ideia de sobrevivência em pormenores, proposta por Potter, não aponta exclusivamente para a sobrevivência da espécie humana de maneira generalizada, mas sobretudo estimula esquadrinhar todo conhecimento possível acerca das relações entre os diversos modos de existência, seus respectivos riscos de extinção/extermínio, assim como suas possíveis formas de atuação, que possam elevar ou diminuir os riscos a outros modos de existência ou causar-lhes danos.
Os problemas urbanos estendem e complexificam o termo “sobrevivência” aplicado por Potter a partir da intrusão das formas de saberes e de práticas respectivas nos próprios modos de existência urbana em questão. Tais modos guardam complexa relação com o território habitado – relação material e imaterial –, tendo em vista que os territórios estariam ligados a uma ordem de subjetivação individual e coletiva (...) território funciona em uma relação intrínseca com a subjetividade que o delimita 1212 . Guattari F. Espaço e poder: a criação de territórios na cidade. Revista de Estudos Regionais e Urbanos. 1985;5(16):109-20.. Isso quer dizer que levar em consideração os riscos concernentes a certos modos de existência, por meio de suas perspectivas próprias, implica compreender que esses riscos e os possíveis danos não concernem apenas à existência corporal, mas também à existência incorporal, ou seja, aos signos, relações, hábitos, referências que constituem um modo singular de existir no mundo.
Tal definição aproxima-se do que Isabelle Stengers 1313 . Stengers I. Un engagement pour le possible. Cosmopolitiques. 2002;1:27-36.,1414 . Stengers I. La proposition cosmopolitique. In: Lolive J, Soubeyran, diretores O. L’Émergence des cosmopolitiques. Paris: La Découverte; 2007. p. 45-68. chama de perspectiva etoecológica, na qual são inseparáveis o hábito e o hábitat. Isso não significa uma dependência funcional, o que poderia acarretar uma guinada determinista, mas sim uma relação na qual onde e como se habita funcionam como agentes um do outro. Em sentido urbano, portanto, tal perspectiva não designaria a identidade individual ou grupal, constituída também pelo pertencimento a um território, mas se trataria de um olhar que busca aprender com esses modos de existência. Um olhar que perscruta como se dá um certo viver, um certo habitar e um certo onde se habita que não são apenas elementos que se somam para formar um conjunto específico, mas elementos que se retroalimentam e se reengendram contínua e consequencialmente, constituindo um modo de existir que guarda certa coerência, sem, contudo, ser estanque nem fechado em si mesmo.
A partir dessa perspectiva, pode-se entender a cidade como ente em permanente processo de criação e transformação. Tal processo não se esgota na ação de parte dos viventes, especificamente daqueles que estudam os “problemas” da cidade, urbanistas, arquitetos e gerentes oficiais do espaço. Além desses e dos demais atores que se apropriaram do espaço e condicionaram as formas de existir hegemônicas, a vida urbana também experimenta a ação de pessoas cujo lugar de fala ecoa na periferia do poder, aqueles moram em favelas, que vivem em ocupações urbanas, que habitam bairros populares e os que se encontram em situação de rua; todos que também engendram sua própria existência na existência da cidade.
Essa perspectiva também revela uma encruzilhada no âmbito processo de decisão acerca de como lidar com os problemas urbanos, diante da qual se pode optar pela busca de soluções que privilegiem a simetria ou a assimetria. Nesse cruzamento, a alternativa passa pela consolidação ainda maior dos locais de fala instituídos, referendando o status quo, ou pela ousadia de fazer ressoar a voz de outros interlocutores, que habitam a cidade a seu próprio modo, inaugurando outras vias de diálogo.
O primeiro caminho, cimentado pela discursividade oficial, impõe-se pela ação governamental e do Estado, amparando-se nos pressupostos técnico-científicos para legitimar-se. O segundo brota como erva teimosa nos meandros das calçadas, insistindo em existir e tornar seu o mundo que lhe é permitido habitar. Para ambos, os problemas do espaço urbano configuram-se como imanentes e, paradoxalmente, transcendentes ao cotidiano, vez que a experiência de cada um é modulada pelo coletivo, o qual sobrepõe a fala de todos, muitas vezes de forma perversa e aleatória.
Como ponto de partida, afirma-se que a relação com esses problemas pode decorrer de uma escolha prática entre dois polos: o da complexidade e o da complicação 1515 . Stengers I. Réinventer la ville? Le choix de la complexité. Paris: Département de la Seine Saint-Denis; 2001.. Esse último refere-se à cidade como totalidade possível de ser decomposta em partes mais simples. Têm-se, como princípio, ações urbanas preestabelecidas materializadas em equipamentos urbanos específicos. O equipamento “calçada” exemplifica de forma simples o princípio da circulação. Tais equipamentos são compreendidos como organizados da parte para o todo, em um processo crescente, que parte da calçada para abranger paulatinamente a rua, o bairro, a circunvizinhança, até alcançar os contornos da urbe. A “verificação” de problemas no polo da complicação ocorre quando há desvio ou subversão das funções planejadas, seja por mau funcionamento, má utilização ou utilizações díspares de certos equipamentos, fatos que causam efeitos nocivos na cadeia linear de organização da cidade.
Por sua vez, no polo da complexidade, tanto as relações de aliança quanto as divergências ou batalhas situam-se em redes nas quais se incluem todos os agentes urbanos – humanos e não humanos. Dessa maneira, uma cidade, em seu sentido territorial-administrativo, é uma referência abstrata transpassada por relações e fluxos concretos que constituem redes. Esse aspecto não acarreta a inexistência de princípios e funções, mas faz que essa existência se dê de forma consequente, ou seja, que ela esteja associada nessas redes de relações a suas consequências, imediatas ou não. Logo, os problemas urbanos deixam de estar atrelados ao desvio ou à subversão de aspectos preestabelecidos, para se configurar a partir de práticas, consequências e, talvez o mais importante, do apontamento da existência de problemas por parte das pessoas interessadas em sua resolução.
Como escolha prática, os polos da complicação e da complexidade estão separados, mas, no desenrolar da relação com um problema, é possível que aspectos pertencentes a um ou outro se misturem. Com isso, a possibilidade de postular respostas ao problema se amplia e, portanto, a possibilidade de se relacionar com ele, também. Logo, essa estrutura binária não se hierarquiza, o polo complexo não exemplifica o progresso do conhecimento, como aponta Stengers 1515 . Stengers I. Réinventer la ville? Le choix de la complexité. Paris: Département de la Seine Saint-Denis; 2001., mas uma escolha, uma forma de situar-se em relação a um problema; em outras palavras, é um modo de optar pela complexificação do problema. Dessa maneira, passa-se à questão que diz respeito ao possível funcionamento de uma bioética dita urbana; ou seja, como a bioética pode atuar na complexificação e no enfrentamento dos problemas urbanos. Em princípio, dois elementos da bioética potteriana emergem: o primeiro relativo à sabedoria e o segundo, à ponte.
Sabedoria, para Potter, é o conhecimento de como usar o conhecimento 1616 . Potter VR. Op. cit. 1971. p. 1.. Isso quer dizer que a ciência é conhecimento mas não sabedoria, sabedoria é o conhecimento de como usar a ciência e como equilibrá-la com outros conhecimentos 1717 . Potter VR. Op. cit. 1971. p. 49.. A sabedoria funciona, então, como elemento regulador do conhecimento, principalmente aquele que o autor chama de perigoso: um conhecimento pode se tornar perigoso nas mãos de especialistas que não são capazes de vislumbrar as implicações de seus trabalhos 1818 . Potter VR. Op. cit. 1971. p. 69.. Um conhecimento não é intrinsecamente perigoso, mas o é por meio de seu uso: conhecimento não pode ser em si inerentemente bom ou mal. (...) Conhecimento é poder, e, quando um conhecimento está disponível, ele será utilizado como poder sempre que possível. Ninguém se preocupa com conhecimento que não é usado. É o seu uso que o faz perigoso ou prestativo 1919 . Potter VR. Op. cit. 1971. p. 70..
Logo, parte-se para duas questões acerca da funcionalidade de um conhecimento – ou workability, segundo Potter 2020 . Potter VR. Op. cit. 1971. p. 45.. A primeira delas refere-se à questão a coisa está funcionando agora? 2020 . Potter VR. Op. cit. 1971. p. 45., e relaciona-se ao pragmatismo de curto alcance (short-range pragmatism). A segunda questão pode ser associada a como a coisa afeta nossa sociedade 2020 . Potter VR. Op. cit. 1971. p. 45.. Essa última é exatamente o que Potter chama de pragmatismo de longo alcance (long-range pragmatism).
Sendo elemento regulador, a sabedoria, ao não funcionar em sua plenitude, pode, também, se tornar perigosa, e isso ocorre quando as perguntas pragmáticas são feitas e respondidas apenas por uma parcela de quem está envolvido no problema, e quando essas questões são direcionadas somente ao produto (conhecimento), e não, conjuntamente, ao processo de produção. Nesse sentido, assim como um conhecimento perigoso nunca pode ser devolvido aos laboratórios de onde surgiu 2121 . Potter VR. Op. cit. 1971. p. 63., um procedimento perigoso nunca pode ser totalmente desfeito.
Um conhecimento e/ou sua produção constituem-se em perigos quando funcionam como riscos ou danos a certos modos de existência. Dessa maneira, além de os diversos modos de existência entrarem no campo de consideração relativo a um problema urbano, cabe que participem da elaboração das questões acerca dos processos nos quais estão envolvidos. Isso quer dizer que certo modo de existência implicado em um processo/conhecimento exógeno precisa ser capaz de colocar em risco esse próprio conhecimento. A sabedoria não é exclusiva, e sim coletiva.
Tendo em vista que “conhecimento perigoso” se define como aquele que produziu um desequilíbrio temporário ao posicionar-se a frente de outros ramos de conhecimento 2222 . Potter VR. Op. cit. 1971. p. 76., e considerando também a sabedoria como princípio coletivo regulador, emerge a necessidade de se produzirem situações de “equilíbrio” entre os “ramos de conhecimento” em questão. Portanto, um dos fins da bioética é a busca do equilíbrio do conhecimento científico (ou disciplinar, incluindo o urbanismo, a arquitetura e outras disciplinas e práticas institucionais formalmente responsáveis por pensar e modificar a cidade) e de outros conhecimentos não institucionais, como aqueles produzidos permanentemente nas ruas, favelas e ocupações urbanas.
Para tanto, outro elemento priorizado por Potter revela sua importância, qual seja, aquele que prevê que a bioética deve funcionar como ponte: devemos construir ‘uma ponte para o futuro’ construindo a disciplina bioética como uma ponte entre as duas culturas, a ciência e as humanidades 88 . Potter VR. Op. cit. p. 7.. A bioética, para Potter, seria a chave interdisciplinar entre biologia, ciências sociais e filosofia. No entanto, com relação aos problemas urbanos, trata-se de multiplicar as pontes, e não restringi-las àquelas que se traçariam entre as disciplinas preconizadas por Potter, pois as decisões e as produções acerca da cidade funcionam por meio de outros saberes e práticas que afetam a sobrevivência de diferentes modos de existência. Destarte, as perguntas que podem orientar o traçar dessas pontes podem ser as formuladas por Stengers: como aquelas pessoas que são afetadas pelo que está sendo produzido podem ser ‘convidadas’ a participar dessa produção? Como podem se tornar partes interessadas, multiplicando perguntas, objeções e exigências? 2323 . Stengers I. Op. cit. 2011. p. 346..
Pode-se objetar que esse processo de multiplicação de quem pode intervir no processo produtivo ou decisório relativo à cidade fomente o caos ou a desordem. A esse respeito, cabe ressaltar que complexidade e caos guardam relação estreita, ou melhor, o caos habita o complexo; o complexo habita o caos 24 24 . Guattari F. Qu’est-ce que l’écosophie? Textes agencés et présentés par Stéphane Nadaud. Paris: Lignes; 2013. p. 292. . Trata-se de relacionar-se com o caos, a desordem, buscando fazer emergir os traços de complexidade dos problemas em questão. Tal complexificação abre novo campo de possibilidades, que dificilmente emergiria da busca apressada por solução. Nesse sentido, é preciso ter em conta a afirmação de Potter de que a desordem é uma força a ser utilizada, o material cru para a criatividade 25 25 . Potter VR. Op. cit. 1971. p. 25. . Ou seja, para desenvolver processos autênticos e encontrar soluções adequadas aos dilemas bioéticos, há que seguir a proposta de Nietzsche, que considerava ser necessário ter um caos em si para poder dar à luz uma estrela bailarina 26 26 . Nietzsche F. Assim falava Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Petrópolis: Vozes; 2007. p. 27. .
Considerações finais
De forma provisória, e à guisa de conclusão, apontam-se aqui elementos de um percurso sistemático pelo qual pode seguir uma bioética dita urbana, que faça funcionar esses aspectos apontados a partir de Potter. O primeiro elemento está relacionado com um possível método; o segundo, com o processo de variação e criação de princípios; o último, com a sua aplicação.
Assim, em primeiro lugar, no que se refere ao método, a coabitação urbana não permite a existência de um observador neutro. A construção permanente e o desenvolvimento da cidade abrangem a subjetividade e o corpo de quem a habita. Dessa maneira, qualquer método a ser utilizado no âmbito dos problemas urbanos parte do pressuposto de que quem pesquisa não se situa na posição de observador externo, mas sim está incluso nos processos sociopolíticos 2727 . Bruce A. Situation ethnographique et mouvements ethniques: notes sur le terrain postmalinowskien. In: Agier M, directeur. Les composantes politiques et éthiques de la recherche. Paris: ORSTOM; 1995. p. 9-18. ao redor dos conflitos em questão. É nesse sentido que o trabalho etnográfico parece interessante à bioética: nele, entra-se em contato com os discursos e os problemas criados em ato e por quem está envolvido na relação.
O trabalho etnográfico pode ser, assim, uma operação ético-política: uma situação na qual saberes e práticas desprivilegiados não apenas podem falar por si mesmos, como também afetar o saber de quem está no papel de etnógrafo, e, uma vez acoplados a esse saber disciplinar, podem afetar, por meio de uma ponte, uma gama maior de saberes e práticas, até mesmo aqueles institucionais, formalmente responsáveis pelo gerenciamento e transformação da cidade.
Associado à bioética, o trabalho etnográfico não seria uma forma de aproximar-se de situações concretas e assim poder responder melhor à pergunta o que você faria nessa situação? 2828 . Bosk CL. What would you do? Juggling bioethics & ethnography. Chicago: University of Chicago Press; 2008. p. 19., mas sim um modo de fazer emergir outras variáveis do problema – aquelas expostas voluntária ou involuntariamente, de forma verbal ou não verbal 2929 . Fravet-Saada J. Ser afetado. Rev Cad de Campo. 2005;(13):155-61., por quem está envolvido –, visando estender ou fazer surgir um campo de possibilidades, para além das probabilidades dadas, relativo ao problema em questão. Talvez essa associação entre etnografia e bioética possibilite, de fato, que a bioética ocupe, além da posição predominante de prescritora/proscritora, aquela que diz respeito à produção de novos campos.
O segundo elemento, o processo de variação e criação de princípios, decorre do método, no sentido de que quem pesquisa não busca verificar se princípios formulados anteriormente podem ser ou se são aplicados na rede de relações em questão. De maneira geral, os princípios são tomados como axiomas e, por isso mesmo, nunca questionados. De modo diverso, na atuação da bioética urbana, não se procura apreender a ação de princípios exógenos ao conflito em foco, mas sim, por um lado, compreender como o conflito gera variações em um princípio preestabelecido, recriando-o por meio de sua aplicação concreta; e, por outro lado, fazer emergir princípios criados em ato – voluntária ou involuntariamente – para dar conta das diferentes variáveis que emergem nas relações conflituosas em questão.
Ocorre, dessa forma, um salto de perspectiva 3030 . Mori M. A bioética: sua natureza e história. Rev Humanidades.
1994;9(4):332-41., como aquele promovido pelo surgimento da bioética
principialista, que, ao multiplicar os princípios a serem levados em questão na
análise de um problema, permite o abandono de um princípio absoluto, especificamente
aquele da sacralidade da vida. Da mesma forma, identifica-se a ampliação do campo de
atuação, como a promovida pela bioética produzida na América Latina, que procura
situar os conflitos da área da saúde em seu contexto social 3131 . Porto D. Bioética na América Latina: desafio ao poder hegemônico.
[Internet]. Rev. bioét. (Impr.). 2014 [acesso set 2014]; 22(2):213-24.
Disponível:
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/911/1036
http://revistabioetica.cfm.org.br/index....
, descentralizando-se assim do modelo biomédico,
preconizado pelo principialismo. Trata-se, aqui, de um salto que permite, por um
lado, a desvinculação de princípios preestabelecidos e, por outro, a vinculação dos
princípios criados ou recriados em ato com suas consequências. Essas últimas
engendram novos significados que modificam permanentemente os princípios.
Por fim, a partir do trabalho de tornar inteligíveis tais princípios, tem-se como objetivo fazê-los funcionar nos problemas em questão, buscando equilibrá-los e estabelecendo pontes entre os princípios que regem as ações potencial ou efetivamente causadoras de danos aos diversos modos de existência urbana. Tais pontes são interligações que admitem não apenas a comunicação consensual, mas também possíveis colisões e dissensos, os quais não devem ser vistos como obstáculos, e sim como material para a produção de novas possibilidades urbanas.
Referências
-
1Guattari F. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34; 2012. p. 152.
-
2Blustein J. Setting the agenda for urban bioethics. J Urban Health. 2001;78(1):7-20.
-
3Jonsen AR. Social responsibilities of bioethics. J Urban Health. 2001;78(1):21-8.
-
4Jonsen AR. Op. Cit. p. 27.
-
5Stengers I. Cosmopolitics I. Minneapolis: University of Minnesota Press; 2011.
-
6Nascimento WF, Martorell LB. A bioética de intervenção em contextos descoloniais. [Internet]. Rev. bioét. (Impr.). 2013 [acesso set 2014]; 21(3):423-31. Disponível: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-80422013000300006
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-80422013000300006 -
7Potter VR. Bioethics: bridge to the future. Englewood Cliffs: Prentice-Hall; 1971.
-
8Potter VR. Op. cit. p. 7.
-
9Schramm FR. Uma breve genealogia da bioética em companhia de Van Rensselaer Potter. Bioethikos. 2011;5(3):302-8.
-
10Potter VR. Global bioethics: building on the Leopold Legacy. Michigan: Michigan State University Press; 1988.
-
11Potter VR, Potter L. Global bioethics: Converting sustainable development to global survival. Med Glob Surviv. 1995;2(3):185-91.
-
12Guattari F. Espaço e poder: a criação de territórios na cidade. Revista de Estudos Regionais e Urbanos. 1985;5(16):109-20.
-
13Stengers I. Un engagement pour le possible. Cosmopolitiques. 2002;1:27-36.
-
14Stengers I. La proposition cosmopolitique. In: Lolive J, Soubeyran, diretores O. L’Émergence des cosmopolitiques. Paris: La Découverte; 2007. p. 45-68.
-
15Stengers I. Réinventer la ville? Le choix de la complexité. Paris: Département de la Seine Saint-Denis; 2001.
-
16Potter VR. Op. cit. 1971. p. 1.
-
17Potter VR. Op. cit. 1971. p. 49.
-
18Potter VR. Op. cit. 1971. p. 69.
-
19Potter VR. Op. cit. 1971. p. 70.
-
20Potter VR. Op. cit. 1971. p. 45.
-
21Potter VR. Op. cit. 1971. p. 63.
-
22Potter VR. Op. cit. 1971. p. 76.
-
23Stengers I. Op. cit. 2011. p. 346.
-
24Guattari F. Qu’est-ce que l’écosophie? Textes agencés et présentés par Stéphane Nadaud. Paris: Lignes; 2013. p. 292.
-
25Potter VR. Op. cit. 1971. p. 25.
-
26Nietzsche F. Assim falava Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Petrópolis: Vozes; 2007. p. 27.
-
27Bruce A. Situation ethnographique et mouvements ethniques: notes sur le terrain postmalinowskien. In: Agier M, directeur. Les composantes politiques et éthiques de la recherche. Paris: ORSTOM; 1995. p. 9-18.
-
28Bosk CL. What would you do? Juggling bioethics & ethnography. Chicago: University of Chicago Press; 2008. p. 19.
-
29Fravet-Saada J. Ser afetado. Rev Cad de Campo. 2005;(13):155-61.
-
30Mori M. A bioética: sua natureza e história. Rev Humanidades. 1994;9(4):332-41.
-
31Porto D. Bioética na América Latina: desafio ao poder hegemônico. [Internet]. Rev. bioét. (Impr.). 2014 [acesso set 2014]; 22(2):213-24. Disponível: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/911/1036
» http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/911/1036
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Jan-Apr 2015
Histórico
-
Recebido
8 Out 2014 -
Revisado
21 Jan 2015 -
Aceito
12 Fev 2015