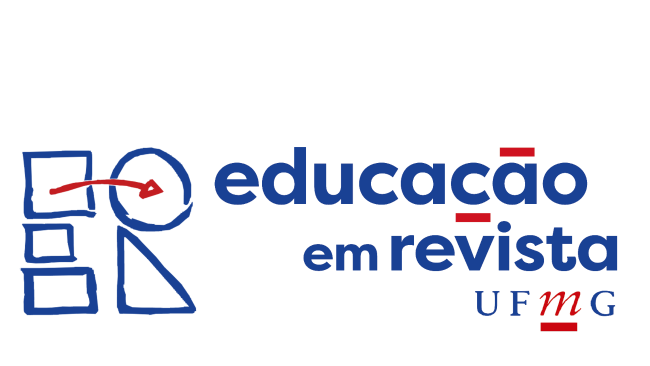RESUMO:
O presente artigo problematiza a dimensão ética ignorada pelos saberes sobre a deficiência e as epistemes utilizadas para designar no corpo em que a deficiência se inscreve um poder desmesurado, mesmo com as conquistas obtidas pelos movimentos políticos dos corpos com deficiência, nas últimas décadas, e a sua captura pelos atuais dispositivos de inclusão no ensino superior brasileiro. Recorreu-se, para tanto, ao método genealógico e à problemática ética do enunciado “indignidade de falar pelo outro”, propostos por Michel Foucault (1990), para situar, historicamente, em que momento os movimentos políticos das pessoas com deficiência assumem, de alguma forma, esse enunciado e quais os limites de seus efeitos de poder no ensino superior brasileiro. Objetivou-se, com isso, analisar criticamente as tensões internas de tais movimentos e os indícios do escape à norma médica e à normalidade social, com o intuito de problematizar os modelos de saberes que nestas se pautaram, assim como de assinalar os poderes emergentes de um “corpo comum”, como qualquer outro, em suas lutas por uma educação inclusiva e pela justiça social. Nesse sentido, argumenta-se pela formação de um “corpo comum” no ensino superior, constituído a partir dos encontros dos saberes e das diferenças e agenciado pelo exercício de uma alteridade radical e pela mobilização dos devires minoritários do “povo que falta”, como uma possibilidade de emergência de outro paradigma de inclusão.
Palavras-chave:
deficiência; encontros com as diferenças; corpo comum; ensino superior
RESUMEN:
Este artículo problematiza la dimensión ética ignorada por los saberes sobre la discapacidad y las epistemes utilizadas para designar en el cuerpo en el que se inscribe un poder inconmensurable, aún con las conquistas obtenidas por sus movimientos políticos en las últimas décadas, y su captura por los dispositivos actuales de inclusión en la educación superior brasileña. Recurrimos ttanto al método genealógico como a la problemática ética de la “indignidad de hablar por el otro” enunciada por Michel Foucault para situar históricamente en qué momento los movimientos políticos de personas con discapacidad asumen de alguna manera esta afirmación y cuáles son los límites de sus efectos de poder en ese nivel de enseñanza en Brasil. Pretendemos con ello analizar críticamente las tensiones internas de tales movimientos, los signos de evasión de la norma médica y de la normalidad social para problematizar los modelos de saber que se sustentaron en ellos, así como señalar los poderes emergentes de un “cuerpo común” como cualquier otro, en sus luchas por la educación inclusiva y la justicia social. En este sentido, he argumentado por la formación de un “cuerpo común” en la educación universitaria, constituido a partir de los encuentros de saberes y diferencias, actuando a través del ejercicio de una alteridad radical y la movilización de devenires minoritarios del “pueblo que falta” como posibilidad de emergencia de otro paradigma de inclusión.
Palabras clave:
discapacidad; encuentros con la diferencia; cuerpo común; enseñanza universitaria
ABSTRACT:
This article problematizes the ethical dimension ignored by the knowledge on disability and the epistemes used to designate unmeasured power in the body in which it is imprinted, even with the achievements obtained by its political movements in recent decades and its capture by current devices of inclusion in Brazilian higher education. To this end, we resort to the genealogical method and the ethical problematic of the “indignity of speaking for others” enunciated by Michel Foucault to situate, historically, at what moment the political movements of people with disabilities assume this statement in some way and what are the limits of its effects of power in Brazilian higher education. We aim to critically analyze the internal tensions of such movements, the signs of evasion from the medical norm and social normality, intending to problematize the models of knowledge that were based on them, as well as highlighting the emerging powers of a common body like any other in their struggles for inclusive education and social justice. In this sense, we debate for the formation of a “common body” in higher education, constituted from the encounters of knowledge and differences, syndicating for the practice of radical alterity and the mobilization of the becoming -minority of the “people lacking” as a possibility of the emergence of another paradigm of inclusion.
Keywords:
disability; encounters with differences; common body; higher education
INTRODUÇÃO
O acesso das pessoas com deficiência ao ensino superior tem sido visto como uma das conquistas das lutas de seus movimentos políticos por inclusão educacional e por justiça social. Esses movimentos ganharam força nas últimas quatro décadas, sofrendo alguns reveses nos últimos anos, em países da América Latina, especialmente no Brasil. Esses reveses decorreram, de um lado, da reconfiguração de forças sofridas com a ascensão ao poder estatal de um ultraliberalismo neoconservador; de outro lado, resultaram das sombras que acompanharam seus embates internos, que, não obstante a conquista de certo reconhecimento histórico da condição de sujeito de direitos à pessoa com deficiência, fez ressurgir, nos últimos cinco anos, uma visão retrógrada, no sentido integrativo, da inclusão educacional brasileira.
Interessa aqui ensaiar um olhar genealógico sobre os percursos desses movimentos, partindo do problema ético da “indignidade de falar pelo outro” - enunciado atribuído por Gilles Deleuze a Michel Foucault (1990FOUCAULT, Michel. Os intelectuais e o poder: conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 9. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1990.) -, evidenciando, em grossos traços, algumas tensões internas e situando historicamente a emergência de um outro ponto de vista sobre a inclusão educacional brasileira. O problema enunciado por esses filósofos da diferença é apropriado, neste momento, para interpelar a dimensão ética ignorada pelos saberes produzidos sobre a deficiência e as epistemes nas quais se apoiam, com o intuito de compreendê-la como um desvio que necessita de correção, segundo os modelos médicos e alguns sociológicos, a fim de se aproximar da norma e da regulamentação social. Esse ponto de vista ético interpela a objetivação do corpo com deficiência ao assujeitá-lo a tecnologias de reabilitação à luz daqueles saberes e ao submetê-lo a dispositivos de poder que ignoram sua singularidade, invisibilizam sua expressividade e, quando possível, silenciam seus enunciados discursivos. Dessa forma, este ensaio problematiza os saberes que falam sobre esse corpo designado de deficiente, assim como as práticas e as tecnologias que enquadram este em uma normalização, com vistas a integrá-lo, ou mesmo em uma regulamentação social, a qual se propõe inclusiva, porém excludente, porque é feita para e não com ele.
Mesmo na passagem de um modelo integrativo para um modelo político-social inclusivo, salientada por uma literatura conhecida (SASSAKI, 1997SASSAKI, Romeu Kasumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: Editora WVA, 1997.; MANTOAN, 2003MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.), pouca atenção foi dada a esse saber produzido conjuntamente, às tecnologias que, ao invés de subjugar esses corpos, evidenciassem sua potência, para se rever a normatividade e a regulação social vigentes, assim como aos movimentos políticos que empreenderam, historicamente, em prol da inclusão educacional e da justiça social, assumindo certo protagonismo em suas lutas pela afirmação da vida e de seus modos de existir e de ser no mundo. Em outras palavras, quanto aos movimentos das pessoas com deficiência, houve uma passagem de objeto de saberes, de poderes e de políticas públicas a atores ou parceiros de sua construção.
Esse é o objetivo geral deste ensaio, ao considerar a proveniência dos movimentos das pessoas com deficiência. Especificamente, para isso, analisa-se criticamente as tensões internas de tais movimentos e os indícios do escape à norma médica e à normalidade social, com o intuito de problematizar os modelos de saberes que nestas se pautaram; assim como são assinalados os poderes emergentes de um “corpo comum” como qualquer outro, em suas lutas. Mediante tal análise e tais apontamentos, o interesse aqui é vislumbrar no “corpo comum”, formado com a presença de múltiplas inscrições de corpos deficientes: negros, gays, dentre outros, no ensino superior, a potencialidade gerada pelos seus encontros e as formas como esse corpo agencia as linhas de fuga a uma molaridade e modelagem social, assim como a sua clandestinidade aos paradigmas de inclusão e de cultura universitária vigentes. Dessa forma, ensaia-se, nesta ocasião, um olhar genealógico sobre esses movimentos de pessoas com deficiência, na qualidade de um de seus aliados, e discute-se a possibilidade de pensar, sob a ótica filosófica da diferença, a formação de um “corpo comum” no ensino superior.
Ao evidenciar esse “corpo comum”, propõe-se visibilizar as arestas que escapam à inclusão educacional e às lutas pela afirmação dos devires minoritários presentes no ensino superior, problematizando a cultura universitária hegemônica e perspectivando uma maior abertura ao acolhimento desse comum no qual se inscrevem as diferenças, as quais, para usar a expressão de Deleuze (1997DELEUZE, Gilles. Crítica e Clínica. São Paulo: Editora 34, 1997.), fazem emergir um “povo que falta”. Isso implica em assumir que este ensaio tangencia uma escrita literária que escreve por esse povo, não em lugar dele, mas em intenção de um porvir, ou melhor seria dizer, de uma fabulação que o contorna, dando relevo à sua presença e à sua existência, já que nem sempre ele ocupa um lugar de fala ou desenha curvas enunciativas, como é o caso das pessoas com deficiência.
ENTRE O PROTAGONISMO DO SUJEITO DE DIREITOS E A OBJETIFICAÇÃO DOS SABERES ESPECIALIZADOS
Os movimentos das pessoas com deficiência nos países da América Latina, particularmente no Brasil, ocuparam papel relevante nas lutas políticas das últimas décadas, por inclusão educacional e justiça social. Júnior e Martins (2010JÚNIOR, Lanna; MARTINS, Mário Cléber(comp.). História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010. Disponível em: Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/21097_arquivo.pdf . Acesso em: 31 ago. 2022.
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bib...
) situaram a emergência desses movimentos em meados de 1980, com a assunção do protagonismo das pessoas com deficiência e de seus aliados - familiares e especialistas - nas reivindicações por inclusão educacional e justiça social, no Brasil. Por sua vez, Bueno (1993BUENO, José Geraldo Silveira. Educação especial brasileira: integração/segregação do aluno diferente. São Paulo: EDUC, 1993.), Januzzi (2012JANNUZZI, Gilberta M. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século XXI. 3. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2012.) e outros autores da área educacional sugerem antecedentes pregressos a essas lutas políticas, articulando estes ao desenvolvimento da área da Educação Especial e a um movimento social pelas pessoas com deficiência. Com vistas a pensar na genealogia histórica desses movimentos, de um ponto de vista diverso da restrição a um campo de saber e daquilo que se denominou de passagem de um modelo integrativo para um modelo inclusivo, anteriormente mencionado, situarei a sua emergência no contexto político dos anos da década de 1980, à medida que os corpos chamados deficientes se lançavam, por intermédio de algum de seus atores e aliados, na cena dos debates, protagonizando algumas lutas específicas por direitos civis e abandonando uma posição de subalternidade às associações que anteriormente os representavam.
O clima propiciado pela abertura política de 1984, com o fim da Ditadura Civil Militar brasileira, mobilizou os ativistas desses movimentos políticos, com o intuito de, diretamente ou por meio de seus representantes legislativos, colaborar ativamente com a Assembleia Nacional Constituinte, que se responsabilizaria pela elaboração da Constituição Federal de 1988. Juntamente a militantes de outros movimentos sindicais, a Trabalhadores Sem Terra, a afrodescendentes, dentre outros, esses ativistas, com seus aliados, lutaram por direitos à educação para todos e por seguridade social. Interessava a eles também introduzirem um capítulo sobre os seus direitos na referida Carta Magna. Estrategicamente, tendo em vista a federalização das instituições especializadas para cada deficiência em particular e da impossibilidade de os deficientes se reunirem numa única confederação, eles se organizaram em uma comissão, que teve papel decisivo nessa luta. Contudo, se os direitos gerais foram assegurados pela Constituição de 1988, a conquista dos direitos específicos somente foi regulamentada com a publicação da Lei no 13.146, de 06/07/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Presidência da República, Secretaria Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm . Acesso em: 12 abr. 2021.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_At...
) -, ou seja, quase três décadas depois. Por sua vez, contribuiu para essa conquista uma série de fatores externos2
2
Dentre os fatores externos, destacamos o decisivo papel da Organização das Nações Unidas (ONU), que, em 1981, com a proclamação do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência (AIPD), concorreu para a mobilização dos movimentos políticos das pessoas com deficiência no Brasil e em outras partes da América Latina. No continente, a Organização dos Estados Americanos (OEA) levou a cabo essa mobilização ao fomentar o Programa de Ações Mundiais para as Pessoas com Deficiência (Resolução ONU 37/52 - 03/12/1982) e ao implementá-lo (Resolução ONU 45/91 - 14/12/199), o que se denominou de uma década (2006 a 2016) de ações voltadas a esse púbico em nível global. Essas ações globais não apenas mobilizaram o movimento político brasileiro das pessoas com deficiência, como também contou com a participação de alguns de seus ativistas, que reciprocamente colaboraram para esse plano global, assim como para sua implementação nas décadas subsequentes, inspirados por um paradigma de inclusão educacional e um modelo social de deficiência. Papel crucial desempenhou também as Declarações, como, por exemplo, a de Salamanca (UNESCO, 1994), a qual serviu como um norte para essas ações globais, com grande repercussão para que o governo estatal brasileiro assumisse um compromisso com esse movimento transnacional pela inclusão das pessoas com deficiência, ao mesmo tempo que era pressionado pela sociedade civil a implementar algumas medidas em relação tanto a esse público quanto à educação inclusiva.
e, não sem algumas tensões, de gradativas vitórias internas desses movimentos da sociedade civil junto à sociedade política brasileira3
3
Decorreram dos compromissos com os organismos internacionais e a sociedade civil brasileira algumas propostas que antecederam o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, tais como: a publicação da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência - regulamentada pelo Decreto no 6.949, de 03 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009) - e da Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). Por meio dessas regulamentações, quanto ao público e ao planejamento para a implementação de uma educação inclusiva, garantiu-se o acesso dessa população aos espaços públicos, o direito ao trabalho e ao lazer e o ingresso das pessoas com deficiência em escolas regulares de educação básica, gradativamente - com a Lei de cotas para o ensino superior de 2003.
.
A implementação de um plano de educação inclusiva no Brasil, o qual foi analisado em outra ocasião por Pagni (2019bPAGNI, Pedro A. Dez Anos da PNEEPEI: uma análise pela perspectiva da biopolítica. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 1, e84849, 2019b. Disponível em: Disponível em: https://www.scielo.br/j/edreal/a/fDkYKgTgq8y5fqzWP9YyJ3b/?lang=pt . Acesso em: 1 out. 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/2175-623684849.
https://www.scielo.br/j/edreal/a/fDkYKgT...
), porém, não ocorreu sem disputas internas nesses movimentos políticos e sem um embate significativo com seus aliados, os quais taticamente se engajaram para que essas pessoas se constituíssem sujeitos de direitos. Afinal, essas disputas internas e esses embates ocorriam largamente nesse contexto de abertura política brasileira, como revelam as entrevistas, realizadas por Júnior e Martins (2010JÚNIOR, Lanna; MARTINS, Mário Cléber(comp.). História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010. Disponível em: Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/21097_arquivo.pdf . Acesso em: 31 ago. 2022.
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bib...
), com os ativistas desses movimentos políticos de pessoas com deficiência. Nessas entrevistas, encontra-se a menção comum a certo protagonismo de pessoas com uma determinada deficiência (deficientes físicos ou cegos, por exemplo) sobre outras (surdos e deficientes intelectuais), em razão de as barreiras linguísticas e cognitivas desfavorecerem para alguns um maior intercâmbio com o mundo normalizado. Ocorreu, igualmente, uma série de questionamentos sobre se aqueles ou aquelas que iriam representar essas pessoas junto ao poder público deveriam ter a mesma condição de deficiência ou, na qualidade de aliados, possuir abertura para as demandas vividas por elas.
As discussões sobre a deficiência ocorreram, em geral, em uma situação de registro, isto é, a partir do modo como elas foram concebidas nos campos acadêmicos, como os relacionados aos saberes médicos, sociológicos, psicossociológicos, filosóficos, dentre outros. Por vezes, os acadêmicos se reportavam às representações das próprias pessoas com deficiência, ou de seu reconhecimento, a partir desses saberes ou daqueles circulantes no senso comum, quando não presentes no aparato jurídico, nos documentos oficiais que regulavam os direitos dessas pessoas ou o estatuto de sua condição. Todavia, parece haver uma determinação daqueles saberes e das práticas circulantes em torno da qual as pessoas com deficiência se reconheceram na formulação das políticas públicas inclusivas, muitas vezes elaboradas pelos chamados especialistas, dentre outros, sem que aquele público efetivamente participasse de sua elaboração. Seguiu-se, dessa forma, um padrão frequente em torno do qual aqueles que se autodenominavam especialistas exerciam um poder velado sobre esses sujeitos, ignorando o quão seria “indigno falar pelo outro” e o quanto isso implicaria num exercício de poder sobre esse outro, quando não de completo abuso ao legitimar formas de violência e, porque não dizer, de exclusão exercidas contra eles.
Um sinal de reversão desse jogo de poder, todavia, só começou a ganhar significação, no Brasil, a partir dos anos da década de 1980, quando uma série de movimentos sociais, dentre eles os das pessoas com deficiência, começaram a tomar para si o protagonismo de suas ações e, gradativamente, a exigir sua conversão em uma atitude, na enunciação das pautas políticas relacionadas ao direito desse público à cidadania, nos anos da primeira década de 2000.
A frase “Nada sobre nós sem nós”4
4
Originalmente, segundo Sassaki (2007), essa frase foi expressa por William Rowland, ativista negro sul-africano, em plena luta contra o Apartheid, nesse país, e adotada pela Disabled People South Africa (DPSA - Pessoas Deficientes Sul-Africanas), em 1986. Alguns anos mais tarde, em 2001, foi retomada por Tom Shakespeare, em uma palestra sobre a Deficiência como atitude, proferida numa universidade australiana, e, no mesmo ano, adotada como lema por movimentos como People First, Mencap, Change e Speaking Up, da Grã-Bretanha. Desde então, ativistas de todo mundo têm adotado o lema e transformado essa frase numa bandeira de luta e do protagonismo das pessoas com deficiência na elaboração de políticas públicas voltadas para esse público.
foi o lema que emergiu da ação militante das pessoas com deficiência nesse período. A sua assunção promoveu maior participação desse público nos marcos das referidas políticas, não obstante as divergências internas entre as várias deficiências e tensões, expressas em um conjunto de entrevistas organizadas por Júnior e Martins (2010JÚNIOR, Lanna; MARTINS, Mário Cléber(comp.). História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010. Disponível em: Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/21097_arquivo.pdf . Acesso em: 31 ago. 2022.
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bib...
). Juntamente ao movimento pela vida independente dessas pessoas (SASSAKI, 2004SASSAKI, Romeu Kasumi. Vida independente: na era da sociedade inclusiva. São Paulo: RNR, 2004.), veiculado em países centrais do capitalismo, os quais atravessaram as demandas do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, essa ação política fez com que esses sujeitos exigissem maior participação na elaboração das políticas públicas voltadas a eles, naquele período. Todavia, tal movimento político ainda se encontrava bastante aliado a um grupo de especialistas, que, pautados num modelo social e na compreensão de que as lutas em jogo implicavam em reconhecimento, forjou uma proposta de educação inclusiva, marcada pelo paradigma científico da norma ou da normalidade (PAGNI, 2019bPAGNI, Pedro A. Dez Anos da PNEEPEI: uma análise pela perspectiva da biopolítica. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 1, e84849, 2019b. Disponível em: Disponível em: https://www.scielo.br/j/edreal/a/fDkYKgTgq8y5fqzWP9YyJ3b/?lang=pt . Acesso em: 1 out. 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/2175-623684849.
https://www.scielo.br/j/edreal/a/fDkYKgT...
).
No desenvolvimento desse movimento político, também se observou uma mudança do perfil social e do grau de engajamento das pessoas com deficiência, graças à emergência de uma série de organizações menores e dispersas quanto às suas reivindicações por inclusão educacional e justiça social. Para alguns desses ativistas, a questão era a de continuarem vivos, e isso significava não apenas maior engajamento e ativismo político mas também maior visibilidade às suas pautas e agendas comuns, postulando publicamente a condição de serem cidadãos como quaisquer outros. Foi essa forma de pensar que propiciou a esse movimento político maior reconhecimento das condições das pessoas com deficiência, e sua afirmação ganhou maior representatividade a partir do ano 2000, com a propagação da representação dessas pessoas como sujeitos de direitos, mediante a implementação de um plano político estatal inspirado em um paradigma de inclusão educacional e de justiça social. Esse plano, ainda que apoiado na crítica neoliberal ao Welfare State, buscava retomar os dispositivos de seguridade deste último, para reparar as desigualdades estruturais da sociedade brasileira, acirradas com a globalização da economia e do neoliberalismo.
No contexto político-econômico abordado, o governo estatal implementou dispositivos de segurança para as pessoas com deficiência, desde meados de 2000 até 2016, possibilitando-lhes, conforme os princípios liberais, certa igualdade formal perante a lei e maior oportunidade para atuarem em diversos campos da sociedade civil brasileira. Em plena globalização neoliberal, o movimento das pessoas com deficiência contou, internamente, com aliados importantes. No campo político, além dos movimentos da sociedade civil, anteriormente destacados, e de seus representantes no poder legislativo, havia ainda os governos de viés social-democrata, sensíveis às demandas dessas pessoas, como os de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011) e Dilma Rousseff (2011-2016) (RECH, 2011RECH, Tatiana Luiza. A emergência da inclusão escolar no Brasil. In: THOMAZ, Adriana da Silva; HILLESCHEIM, Betina(org.). Políticas de inclusão: gerenciando riscos e governando as diferenças. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. p. 19-34.). Esses governos criaram secretarias especiais, ligadas aos Direitos Humanos, ou próprias, como a Secretaria Nacional de Direitos às Pessoas com Deficiência, assim como assumiram compromisso com as pautas da inclusão e da justiça social. No campo acadêmico, as tecnologias e ciências da reabilitação foram acompanhadas de uma tendência a um modelo social da deficiência no desenvolvimento de algumas áreas do saber, como a Educação Especial. Desse modo, o viés médico desse campo cedeu espaço para um modelo social da deficiência, adotando um paradigma inclusivo mais amplo voltado ao referido público.
A aliança entre pesquisadores e educadores especialistas, formados nesse ponto de vista, contribuiu para que a pauta do movimento se centrasse em questões como a da matrícula de pessoas com deficiência no ensino regular, a da acessibilidade nas escolas e em outros espaços urbanos, a das cotas para tal público, conjuntamente a outros grupos denominados “minoritários” (afrodescendentes, povos indígenas, estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica), no ensino superior. As conquistas obtidas por esse movimento político foram relevantes até 2016 - assim como o são nos dias de hoje -, com a ampliação do número de matrículas de pessoas com deficiência nas escolas regulares, o estabelecimento de cotas para o público em questão e para outros minoritários em algumas instituições de ensino superior, sem contar o reconhecimento pleno de que as pessoas com deficiência seriam definitivamente sujeitos de direitos, não sem algum incômodo, obviamente.
Na ocasião da implementação dessa política de educação inclusiva, algumas resistências foram manifestadas, por exemplo, por parte de comunidades surdas e de associações de deficientes intelectuais, que não renunciaram às instituições especializadas destinadas aos estudantes com essas deficiências, com autonomia ou funcionamento conectado à escola regular. Essas tensões produziram, em algumas regiões do país, um sistema paralelo de instituições mais integrativas do que inclusivas, as quais, contraditoriamente, obtinham apoio financeiro estatal para atender a um público que relutava em se matricular no ensino regular e que demandava atendimento educacional especializado; as tensões se tornaram ainda maiores quando os ataques às conquistas no campo dos direitos civis das pessoas com deficiência emergiram com as políticas ultraliberais e neorreacionárias do governo de Michel Temer (2016-2018) e neoconservadoras, de Jair Bolsonaro (2018-2022).
Juntamente aos desmanches de políticas de seguridade social, nesses governos, a supressão da Secretaria Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência e o desmonte de Ministérios que atendiam aos Direitos Humanos indicaram um retrocesso no setor, culminando no Decreto no 10.502, de 30/09/2020 (BRASIL, 2020BRASIL. Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 6, 1 out. 2020. Disponível em: Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948 . Acesso em: 1 fev. 2021.
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decre...
), que fortaleceu as instituições especializadas e o retorno das classes especiais às escolas regulares. Ainda que tenha sido suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e revogado (em 01/01/2023) pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, esse decreto presidencial sinalizou até onde os ataques às conquistas dos direitos das pessoas com deficiência poderiam chegar no Brasil, assim como o apoio que estas pessoas tiveram de parte de seu movimento social, o qual, por vezes, ainda se pauta numa visão assistencial, paternalista e “capacitista” de deficiência ultrapassada (BRASIL, 2020BRASIL. Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 6, 1 out. 2020. Disponível em: Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948 . Acesso em: 1 fev. 2021.
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decre...
). O decreto sinalizou também para uma disputa que acompanhou o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, revertido judicialmente, com o apoio de seus setores majoritários provisoriamente, no presente, mas que ainda motiva muitas discussões e disputas na sociedade brasileira (CARVALHO, MENEZES, PAGNI, 2022CARVALHO, Alexandre F.; MENEZES, Eliana da Costa Pereira de; PAGNI, Pedro A. Diferença e corpo heterotópico da deficiência: um convite para se pensar de outro modo a escola inclusiva, Revista Cocar, [s. l.], n. 13, p. 1-22, 2022. Disponível em: Disponível em: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55163 . Acesso em: 11 nov. 2022.
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/...
).
O que se pode notar é que, além das conquistas enunciadas, o paradigma científico no qual se apoiou esse movimento político em busca de legitimação foi atravessado por tensões internas que, por vezes, resultaram em conflitos até hoje insuperáveis. Entretanto, esse movimento também trouxe conquistas positivas, como a da ampliação do número de matrículas desse público nas escolas regulares, a oferta de serviços educacionais especializados na educação básica, assim como, gradativamente, a possibilidade de acesso ao ensino superior, por meio das cotas (BRASIL, 2012). O problema é que essas conquistas ainda são vistas pelas culturas escolar e universitária com reservas; afinal, como mencionado em outras ocasiões (PAGNI, 2021PAGNI, Pedro A. Ingovernável da deficiência, sua radicalidade ontológica e seus devires clandestinos na educação e na filosofia. Revista Interdisciplinar Em Cultura E Sociedade, v. 7, n. 2, p. 157-178, jul./dez. 2021. DOI: https://doi.org/10.18764/2447-6498.v7n2p157-178.
https://doi.org/10.18764/2447-6498.v7n2p...
), a presença desses corpos, os seus movimentos minoritários - aliados a outros devires ou signos das diferenças - e os agenciamentos comuns evocam a exigência de profundas transformações dessas instituições.
Vencer essas reservas é um dos desafios que, juntamente aos movimentos das pessoas com deficiência, ainda temos pela frente, da educação básica ao ensino superior. Outras questões ainda se impõem, a saber: como criar dispositivos de inclusão com a participação desses corpos, de seus movimentos heterotópicos e dos agenciamentos que produzem em relação às formas de vida comum que habitam essas instituições?; ao mesmo tempo, é preciso indagar sobre como podemos visibilizar, na qualidade de aliados dessas pessoas - mais do que um “nós” vazio em termos discursivos -, a cartografia da expressividade dos processos de subjetivação do outro, ainda não codificados pela ciência? Tais desafios se justificam como um desdobramento dos movimentos das pessoas com deficiências, das últimas décadas.
No presente, os desafios anunciados não apenas demandam a presença de um “nós” conflituoso, protagonizado pelas pessoas com determinadas condições (com Deficiências Física ou Visual) em detrimento de outras (com Deficiências Intelectual ou Auditiva), em aliança com especialistas, familiares e representantes legislativos (ROCHA, 1991ROCHA, Eucenir Fredini. Corpo deficiente: em busca da reabilitação? - uma reflexão a partir da ótica das pessoas portadoras de deficiências físicas. 1991. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. Disponível em: Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/000735143 . Acesso em: 31 ago. 2022.
https://repositorio.usp.br/item/00073514...
; SASSAKI, 1997SASSAKI, Romeu Kasumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: Editora WVA, 1997.; CRESPO, 2009CRESPO, Ana Maria Morales. Da invisibilidade à construção da própria cidadania: os obstáculos, as estratégias e as conquistas do movimento social das pessoas com deficiência no Brasil, através das histórias de vida de seus líderes. 2009. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-28052010-134630/publico/ANA_MARIA_MORALES_CRESPO.pdf . Acesso em: 31 ago. 2022.
https://www.teses.usp.br/teses/disponive...
; JÚNIOR; MARTINS, 2010JÚNIOR, Lanna; MARTINS, Mário Cléber(comp.). História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010. Disponível em: Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/21097_arquivo.pdf . Acesso em: 31 ago. 2022.
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bib...
), mas também reclamam - talvez, mais pela parte dos aliados - a formação de um “corpo comum” atravessado por devires minoritários heterogêneos, de gênero, de raça, de condição socioeconômica, dentre outros, decorrentes de alianças mais amplas e estrategicamente pensadas, para que, mais do que serem representados, participem diretamente das políticas inclusivas. Essa participação reclamada não se faz somente mediante o reconhecimento legitimado de saberes e pautas identitárias propiciadas por esses movimentos políticos, os quais reiteram a sua condição de registro, mas se faz por meio do/no/com o corpo em que a deficiência se inscreve, de seu encontro com outros corpos, dos acontecimentos que suscitam e dos agenciamentos comuns que produzem, dando forma aos devires minoritários do já referido “povo que falta”.
A literatura recente tem tentado atribuir um nome a essa perspectiva do diferente, que está bastante parametrizada nas análises de Foucault (1990FOUCAULT, Michel. Os intelectuais e o poder: conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 9. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1990.), de Butler (2018BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.), das teorias queers (os diferentes), da interseccionalidade, dentre outras fontes, como sugerido por Gavério (2017GAVÉRIO, Marco A. Nada sobre nós, sem nossos corpos! O local do corpo deficiente nos disability studies: Nothing about us, without our bodies!Argumentos - Revista do Departamento de Ciências Sociais da Unimontes, [s. l.], v. 14, n. 1, p. 95-117, 2017. Disponível em: Disponível em: https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/argumentos/article/view/1158 . Acesso em: 20 nov. 2022.
https://www.periodicos.unimontes.br/inde...
), ao analisar os Disability Studies (Estudos da Deficiência). Algumas vezes, essas fontes foram mobilizadas para atribuir certa interseccionalidade às diferenças, por vezes, para criticá-la do ponto de vista do movimento CRIP5
5
A Teoria CRIP (aleijado, em inglês) busca a interseção entre a deficiência, o gênero e a sexualidade, sendo originalmente proposta por Robert McRuer, no livro Crip Theory: cultural signs of queerness and desability, publicado em 2006, com algumas variações desde então, no sentido de admitir outros atravessamentos, como o das questões étnico-raciais e de classe social.
ou do feminismo negro (ALMEIDA; ARAÚJO, 2020ALMEIDA, Philipe Oliveira de; ARAÚJO, Luana Adriano. DisCrit: os limites da interseccionalidade para pensar sobre a pessoa negra com deficiência. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 10, n. 2, p. 611-643, ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.5102/rbpp.v10i2.6861.
https://doi.org/10.5102/rbpp.v10i2.6861...
), das aproximações com as questões de gênero (MAGNABOSCO, LEMOS DE SOUZA, 2019MAGNABOSCO, Molise de Bem; SOUZA, Leonardo Lemos de. Aproximações possíveis entre os estudos da deficiência e as teorias feministas e de gênero. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 27, n. 2, e56147, 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n256147.
https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v2...
), ou mesmo da filosofia da diferença que evoca tanto a inclusão como uma governamentalidade biopolítica (LOPES, 2004LOPES, Maura C. A inclusão como ficção moderna. Revista de Pedagogia, UNOESC, São Miguel do Oeste, v. 3, n. 6, p. 7-20, 2004.; FABRIS; KLEIN, 2013FABRIS, Elí T.; KLEIN, Rejane Ramos(org.) Inclusão e biopolítica. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. p. 15-24.; LOPES, VEIGA-NETO, 2017LOPES, Maura C.; VEIGA-NETO, Alfredo. Acima de tudo que a escola nos ensine. Em defesa da escola de surdos. ETD-Educação Temática Digital, Campinas, v. 19, n. 4, p. 691-704, out./dez. 2017. DOI: https://doi.org/10.20396/etd.v19i4.8648637.
https://doi.org/10.20396/etd.v19i4.86486...
; PAGNI, 2019aPAGNI, Pedro A. Biopolítica, deficiência e educação: outros olhares sobre a inclusão escolar. São Paulo: Editora Unesp, 2019a.) quanto a deficiência em seu caráter ontológico (CARVALHO, 2015CARVALHO, Alexandre F. Por uma ontologia política da (d)eficiência. In: RESENDE, Haroldo. Michel Foucault: o governo da infância. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2015. p. 25-47.; PAGNI, 2017PAGNI, Pedro A. A deficiência em sua radicalidade ontológica e suas implicações éticas para as políticas de inclusão escolar. Educação e Filosofia, Uberlândia, v. 31, n. 63, p. 1443-1474, set./dez. 2017. DOI: https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0102-6801.v31n63a2017-08.
https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0...
), em sua designação ética como modo de vida (PAGNI, 2018PAGNI, Pedro A. Experiência, transversalidade e deficiência: desafios da arte de viver à educação escolar. Curitiba: Editora CRV, 2018.) e na potência de seus agenciamentos para interpelar, politicamente, a vida comum (PAGNI, 2021PAGNI, Pedro A. Ingovernável da deficiência, sua radicalidade ontológica e seus devires clandestinos na educação e na filosofia. Revista Interdisciplinar Em Cultura E Sociedade, v. 7, n. 2, p. 157-178, jul./dez. 2021. DOI: https://doi.org/10.18764/2447-6498.v7n2p157-178.
https://doi.org/10.18764/2447-6498.v7n2p...
)6
6
Particularmente, nesse debate atual, tenho-me situado mais proximamente dessa última tendência, articulando minha trajetória pregressa de pesquisador do campo da Filosofia da Educação com as experiências como pai e aliado de lutas dos movimentos das pessoas com deficiência. Talvez, retraído pela indignidade de falar por esse outro e percebendo o esgotamento do slogan “Nada sobre nós sem nós”, eu defenda que seria mais alvissareiro e provocativo proclamar, como enunciado desse desafio, a frase “Nada sobre nós sem esses corpos singulares, sem nosso ‘corpo comum’ formado a partir dos encontros com eles”, apoiado nos argumentos expressos no presente ensaio.
.
Dessa perspectiva, os movimentos brasileiros das pessoas com deficiência têm sido desafiados a se repensarem a partir da potencialidade desses encontros, das alianças com outros nos quais se inscreve a diferença (de raça, de gênero, de orientação sexual, de funcionalidade) e de uma expressão coordenada dessa política na esfera pública. Para tanto, tal perspectiva tem chamado a atenção para a visibilização da presença desses corpos na escola regular e para a cartografia dos movimentos que a habitam, agenciando uma outra organização da educação inclusiva nos diferentes níveis do ensino. Mais do que reivindicar direitos civis mediante uma política identitária, a formação desse “corpo comum”, marcado pela deficiência e/ou por outras diferenças, é vista a partir de sua participação ativa no aprimoramento da democracia brasileira, em um momento em que esta se encontra tão ameaçada, resistindo às sombras de um passado patriarcal, hierarquizado culturalmente e desigual socioeconomicamente.
Essas lutas estão ainda presentes no ensino superior, encontrando como aliados, graças à política de cotas anteriormente mencionada, outros corpos atravessados pelos signos da diferença socioeconômica, da diversidade étnico-racial, das condições de gênero e da orientação sexual, que, ao adentrarem nesse território, trazem para dentro dele seus saberes, suas experiências e sua gestualidade. Simbolicamente, a presença de tais lutas agencia deslocamentos incontornáveis, à medida que resiste a uma violência majoritariamente exercida por práticas de produção de conhecimento, de circulação desse conhecimento e, por que não dizer, de sua transmissão. Esta última valoriza uma cultura utilitária, arregimentada pela racionalidade econômica e neoliberal, com certo saudosismo de uma cultura clássica que mantem hierarquizados os saberes, considerados como superiores a tudo o que vem do que denominam popular. Por sua vez, esse elitismo arregimenta, ao mesmo tampo que inclui, uma exclusão dos saberes, da experiência e da gestualidade, manifestadas com a presença desses corpos comuns como um dispositivo de inclusão que se propõe a incluir formalmente determinado público, para que a exclusão se efetue nesse terreno simbólico, despotencializando e despolitizando esse encontro com as diferenças.
ENCONTROS COM A DIFERENÇA, A ALTERIDADE RADICAL E A FORMAÇÃO DO “CORPO COMUM”: TRÊS PLANOS PARA O ENSINO SUPERIOR
Os encontros com as diferenças são discutidos, neste artigo, em três planos distintos e interrelacionados entre si, no ensino superior. O primeiro deles se refere ao encontro com os saberes e práticas que decorrem da relação com esses corpos nos quais se inscrevem as diferenças e, particularmente, à possibilidade de aqueles denominados deficientes participarem de tais encontros, de suas trocas simbólicas e de reverter uma das formas de exclusão em vigor na cultura universitária que os inclui. O segundo diz respeito ao como a convivência com esses corpos triviais dão lugar, por meio de uma alteridade radical, a ações que congregam múltiplas diferenças e que permitem enunciá-las como um “nós” impreciso e provisório, utilizado para designar pontos que reúnem vários movimentos sociais em rede e para significar uma espécie de ontologia do que lhes é comum, porque humano, no ensino superior. O terceiro plano se relaciona ao como essa perspectiva ontológica das diferenças vislumbra a formação de um “corpo comum” em que esse outro não poderia ser mais tratado, em nome de um lugar enunciativo, como “eles” ou “elas” distantes, tampouco compreendido pela expressão indefinida “a gente”, para minimizar os devires minoritários suscitados por sua expressividade em cada um de nós, mas pela expressão da comunhão desse “nós” costurada pelo que há de comum entre aqueles devires e os que circulam em um corpo trivial como o nosso, retirando-o de sua trivialidade para se tornar comum.
Encontros de saberes e alianças estratégicas para os jogos de poder no ensino superior
Em algumas ações, há bons indícios de combate às estratégias, anteriormente enunciadas, de biopoder no ensino superior. Dentre elas, destacam-se alguns programas, como, por exemplo, o “Encontros de Saberes” (CARVALHO, 2020CARVALHO, José Jorge de. Encontro de saberes e descolonização: para uma refundação étnica, racial e epistêmica das universidades brasileiras. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSFOGUEL, Ramon(org.) Descolonialidade e pensamento afrodiaspórico. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020. p. 79-106. (Coleção Cultura Negra e Identidades).), implementado na Universidade de Brasília (UnB), que, ao valorizar a cultura dos mestres quilombolas, dos fármacos da floresta e dos povos indígenas e afrodescendentes, procura reverter o desiquilíbrio gerado pela cultura universitária brasileira. Para isso, ainda que minoritários na universidade brasileira, programas como esse propõem uma troca simbólica e colocam em circulação outras práticas que deslocam o centro de gravidade e de poder institucionalizado, convidando à sua participação os mestres quilombolas, as rezadeiras, que conhecem a fundo os fármacos da floresta, e os pais de santo, capazes de oferecer outro olhar acerca das religiões ocidentais, dentre outras práticas.
Não se trata somente de propor uma revitalização da cultura popular, trazendo-a para o interior da universidade, mas também de uma relação distinta com outras tradições e seus “clássicos”, com a cultura oral de outros povos e com uma cosmovisão que interpela o eurocentrismo, a escritura e a metafísica nos quais se fundaram as ciências e a filosofia moderna. Se estas últimas efetuaram, em nome de uma razão única, universalizante e determinante de juízos preconcebidos, toda sorte de violência e exclusão desses saberes outros, das múltiplas racionalidades e experiências empreendidas, os corpos em que se inscrevem expressam-se e afirmam-se reclamando um lugar no presente, não o de outrora, mas o produzido pela sua resistência, vibração e inovação crítica, no que se refere ao seu encontro com a produção e a circulação acadêmica atuais.
É possível vislumbrar em um programa como o “Encontros de saberes” a possibilidade de troca, de tensionamento e de empoderamento por parte desses corpos. Todavia, inspirados nesse programa, é possível questionarmos também se, afinal, os corpos deficientes, em virtude de sua particularidade, corroborariam ou não esse movimento? Para ser mais claro, há casos como o de toda uma cultura e língua da comunidade surda. Há também os modos de ver dos deficientes visuais, que, ao compensarem seu déficit, com um modo próprio de codificar o mundo, de imaginá-lo, produzem um ponto de vista e, porque não dizer, um modo particular de vê-lo. Há, ainda, os saberes acumulados e os atalhos pegos pelos deficientes físicos para se locomoverem numa cidade cujas barreiras materiais e atitudinais não seriam senão saberes, práticas e experiências decorrentes de um modo de ser no mundo, ignorado pelo saber denominado científico.
Como pai de uma pessoa com deficiência e partícipe de uma comunidade em que as trocas ocorrem num plano distinto com os deficientes intelectuais, questiono se não haveria aí, nesses modos de ser no mundo, a expressão de uma singularidade, de uma inteligência ímpar, muito distinta da nossa. Poderia ir além, ao perguntar se, nesse corpo em que a deficiência se inscreve, ante os bloqueios funcionais, cerebrais, pulsionais ou sociais, não haveria a criação de linhas alternativas de existência, pouco perceptivas à ciência e à nossa vã sabedoria? Enfim, o que se interpela aqui é, em suma: até que ponto esses saberes e práticas não poderiam ser colocados em circulação no meio acadêmico, uma vez que são expressões de modos de existência significativos, independentes dos déficits que habitam esses sujeitos, dando-lhes visibilidade?
Analogamente aos saberes ancestrais mencionados, a hipótese aqui enunciada para responder a esses questionamentos é a de que essas práticas, experiências e modos de existência, tanto singulares quanto comuns, poderiam entrar em circulação - se já não o estão -, em virtude do ingresso desses corpos e de sua presença no ensino superior. Isso porque rompem com uma visão que os tem como objetos, para torná-los sujeitos capazes de enfrentar as barreiras físicas, sociais e atitudinais que lhes são interpostas, com o luxuoso auxílio das ciências que os objetificam dessa forma, porém com um pendor “decolonial” ou, simplesmente, “anticapacitista”. Numa universidade que se dobrou à colonização e ao produtivismo acadêmico, com o advento da globalização da economia e do neoliberalismo, esse pendor parece ser estrategicamente crucial para ampliar os questionamentos sobre as epistemes em que se assentam a atual cultura universitária e seus processos de produção, de circulação e de avaliação do saber acadêmico.
A produção acadêmica e a circulação de seus produtos nas universidades brasileiras ainda estão marcadas, majoritariamente, por um paradigma das ciências de meados do século XX, sem o apoio da revolução epistemológica advinda, nesse campo, como parte de um processo político mais amplo que implica outro olhar para a pesquisa acadêmica, nos termos designados por Isabelle Stengers (2002STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas. São Paulo: Editora 34, 2002.) e Patrícia Hill Collins (2020COLLINS, Patrícia Hill. Epistemologia feminista negra. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSFOGUEL, Ramon(org.) Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020. P. 139-170. (Coleção Cultura Negra e Identidades).).
Essa virada epistêmica no campo da pesquisa universitária, que ainda é objeto de muitas polêmicas no contexto acadêmico mundial, em razão das questões geopolíticas, e que decorre dos efeitos dos movimentos sociais análogos ao analisado, todavia, merece ser mais bem aquilatada. Isso porque não apenas compreende o lugar da produção universitária brasileira no contexto geopolítico mundial como também a sua diversidade, respeitando a formação da sociedade brasileira e de suas efetivas contribuições em nível global, dependendo, para tanto, da adoção de estratégias políticas mais amplas e de um componente ético indispensável.
Esse processo político mais amplo e essas estratégias não se fazem sem alianças das ruas e dos corpos, como sugeridos por Judith Butler (2018BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.), tampouco se fixam apenas no âmbito da representação no plano macropolítico e muito menos, exclusivamente, na produção acadêmica em campos especializados. Ao contrário, taticamente, fazem-se a partir do encontro desses corpos com os demais e onde se pode afirmar, produtivamente, a potencialidade de suas diferenças, numa batalha travada nas relações de poder institucional e na esfera micropolítica, em que a apropriação dos saberes e das experiências vividos singularmente se confrontam com os saberes e as experimentações científicas. Com isso, tais encontros de corpos ensaiam trocas à luz desse afrontamento dos jogos de poder majoritários, mobilizando campos distintos e multidisciplinares para tentar codificar o que esses corpos deficientes querem subjetivar e o que os seus aliados, alguns deles especialistas, desejam objetivar.
Esse parece ser um solo profícuo onde se começa a pavimentar o caminho da elaboração de ferramentas para esse embate pela afirmação das diferenças propiciadas pelas políticas de cotas no ensino superior. Nesse território, refina-se, pela cultura acadêmica dominante, uma crítica radical e contundente, no sentido de sua revisão, para que efetivamente a universidade se torne inclusiva ou, caso não abandone completamente sua tradição majoritária, ao menos se module e se coloque em xeque com o intuito de se reinventar como instituição. Isso implicaria em exercer um papel estratégico nas lutas políticas em prol dos povos colocados à margem da sociedade brasileira e, ao reconhecer as particularidades da formação desta, apresentar-se com outro posicionamento no contexto acadêmico mundial - quem sabe, menos colonizado, mais focado na explicitação de sua particularidade regional e na assunção de um papel decisivo na geopolítica global, advindos das relações sul-sul.
A ressalva para que esses encontros de saberes ocorram, no que se refere às pessoas com deficiência na universidade, porém, é a seguinte: se, para a afirmação de algumas diferenças inscritas nesses corpos que transitam no ensino superior, o acúmulo da produção de saberes desde esse ponto de vista já é significativo - como demonstra a literatura sobre o feminismo negro, que já denota uma perspectiva interseccional -, para outras, ainda é bastante reduzida, como no caso dos corpos em que se inscrevem a deficiência. Talvez, isso ocorra, como mostrado na primeira parte desta seção, em razão da forma como a deficiência foi objetificada, sobre um corpo orgânico, pelos saberes médicos e subjetivada como representação social de um aparato funcional ou de um sujeito de direitos sobre o qual se decalca um papel ou se acusa um desvio, combatendo-o como estigma ou, simplesmente, enquadrando-o a um modelo social ou jurídico ideal. A dificuldade em sair desse registro parece ser maior para esse corpo, assim particularizado, em razão da genealogia histórica, apresentada anteriormente, das tensões que a acompanham e de alguns embates atuais que radicalizam essas lutas em torno de suas bioidentidades7 7 Ao se apropriar da noção de biossociabilidade (RABINOW, 1999) e de sua utilização por Francisco Ortega (2003), para argumentar que ela se forma mediante um procedimento ascético, Pagni (2019a, p. 77) designou as “bioidentidades” como “traços fisionômicos, genotípicos e fenotípicos, características comportamentais, dentre outros, definidos por códigos genéticos, antecipando os riscos que corremos e antecipando os acidentes que eventualmente teremos”. Em torno desses traços biológicos, vários grupos ou comunidades se articulam para reivindicar direitos civis em lutas de afirmação identitárias de suas diferenças. , produzidas a partir de um modelo médico da deficiência ou de uma acirrada disputa com outras singularidades sociais, por meio de um governo identitário das diferenças (PAGNI, 2023PAGNI, Pedro A. Retratos foucaultianos da deficiência e da ingovernabilidade na escola: Do governo das diferenças a outro paradigma de inclusão. Marília: Cultura Acadêmica; Oficina Universitária, 2023.).
As bioidendidades acompanharam e foram constituídas nas lutas dos movimentos políticos das pessoas com deficiência nas décadas anteriores, ao ponto de os deficientes físicos e visuais disputarem seu protagonismo com os surdos e deficientes intelectuais. Isso é uma clara demonstração de que essas pessoas se reconheceram a partir dos saberes veiculados pelos especialistas, tomados por seus aliados, assumindo-se e afirmando-se a partir desses registros identitários, os quais, primeiramente, foram conferidos a um corpo orgânico a partir dos saberes médicos, de uma denominação ou de um quadro diagnóstico da condição física desse corpo; posteriormente, esses registros tiveram suas representações social e formal, que se deram pelos saberes sociológicos e pelo aparato jurídico, respectivamente. Assim, esses movimentos políticos lutaram por reconhecer, gradativamente, as pessoas com deficiência como sujeitos de direitos e novas figuras da justiça social, advogando a sua inclusão social como esse corpo orgânico, individualizado, a partir do registro de seus desvios, com direito a serem corrigidos e normalizados, não sem uma disputa interna, que parece ter governado parte dessa população, distribuída por signos (Deficiência Auditiva - DA, Deficiência Visual - DV, Deficiência Intelectual - DI, Deficiência Física - DF) e individualizada em corpos particulares, cujo significado de suas disfunções os caracteriza como pessoas com deficiência.
Essa significação individualizada desses corpos se radicalizou no presente, como tem alertado Francisco Ortega (2009ORTEGA, Francisco. Deficiência, autismo e neurodiversidade. Ciência & Saúde Coletiva, v. 14, n. 1, p. 67-77, 2009. Disponível em: Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/CPcMbsxxyfF3CXSLwTcprwC/?format=pdf . Acesso em: 21 nov. 2022.
https://www.scielo.br/j/csc/a/CPcMbsxxyf...
), ao analisar os movimentos das pessoas diagnosticadas dentro dos Transtornos do Espectro Autista (TEA), nos Estados Unidos, produzindo uma disputa dos neurodiversos de altas habilidades com os tutores dos de baixas habilidades. No caso dos primeiros, eles recusaram o auxílio estatal indispensável para os últimos, em nome de uma maior autonomia e da liberação do estigma criado socialmente. Isso também ocorre no Brasil, quando vemos parte dos movimentos pelos direitos à inclusão das pessoas surdas ou com outra deficiência advogarem o retorno das escolas e classes especiais, como visto recentemente com o apoio ao Decreto presidencial no 10.502, sob alegação de que suas comunidades se beneficiariam dessa medida, livrando-as do sofrimento a que foram submetidas pela inclusão educacional ocorrida nas últimas décadas, restringindo a potência de seus corpos a uma condição orgânica limitante e revelando as cicatrizes culturais de um passado, que ainda não foram superadas.
A radicalização de certo identitarismo que ocorreu nessa direção também pode ser observada em outros movimentos sociais e políticos, como os afrodescendentes, feministas, quilombolas, dentre outros. De modo um pouco distinto, esses movimentos também foram capturados por uma forma de distribuição de suas representações identitárias, por signos, e por um governo das diferenças, pois muitos deles se dividem ao serem governados, reúnem-se em torno de padrões normativos e individualizados, reiterando uma totalização dessa individuação, verticalizada com o neoliberalismo, em torno da qual se alicerçaram as promessas de prosperidade econômica, talvez como seu dispositivo central de inclusão. Uma inclusão que, nas últimas décadas, encanta e entusiasma os sujeitos engajados nas lutas desses movimentos sociais e políticos por sua inserção no mercado e na economia do consumo. Tal inclusão alude a esse sujeito com deficiência como uma figura sem corpo orgânico, muito menos libidinal ou vital, ou seja, um corpo-máquina em torno do qual todas as diferenças seriam suprimidas pelo seu funcionalismo, pela sua utilidade como capital humano ou por sua eficiência na obtenção de renda - esse é um terreno em que se avalia objetivamente o resultado social, se houve ou não prosperidade individual, sendo esse resultado um sinal de seu sucesso ou fracasso.
No ensino superior, a captura desses signos, a sua distribuição e o governo identitário das diferenças se dão, muitas vezes, pelos próprios processos(s) de ingresso dos sujeitos com deficiência pelas cotas, com dispositivos como os da identificação ou autodeclaração, e também por outro maquinismo mais forte, em razão da disputa social mais ampla que qualifica os cotistas como privilegiados e que ignora (de boa ou má fé) o seu significado histórico para a sociedade brasileira, colocando-os num jogo de ter o imperativo de provar, por sua proveniência, que estão em níveis de desempenho acadêmico similares ou superiores aos demais jogadores. Para qualquer outro estudante, essa provação - porque é disso que se trata: a extrapolação dos tradicionais exames adentrando o campo de uma moral ascética - não é tão exigente quanto o é para esses corpos que se fazem presentes no ensino superior. Algo que ocorre em razão da superação de sua condição ser tomada para si mesmos como um caminho para se mostrarem acima da média e serem reconhecidos nesse universo; mas é preciso dizer que, embora possam, inclusive, superar os índices estabelecidos, e o fazem com frequência, os signos de “pretos”, “deficientes”, “mulheres”, “gays” são insuperáveis, visíveis e sedimentados no olhar alheio, normativo, regulador, sendo os deficientes vigiados em razão de trazerem esses signos, identificados como desvios, inscritos em seus corpos, assumindo-os como um registro com o qual se identificam. Por sua vez, esse processo de identificação já vem carregado de estigma, de preconcepções e, simbolicamente, de uma carga de violência, e, ao mesmo tempo, de uma exclusão obscurecida, que os designam como seres menos válidos, menores, fora dos seres mais válidos, ontologicamente superiores, dominantes ou majoritários.
O ensino superior brasileiro, analogamente ao que ocorre mundialmente, foi submetido, nas últimas duas décadas, a índices de eficiência e de produtividade, a avaliações e ranqueamentos internos e externos - algo que alterou, em nome do aumento quantitativo, a qualidade tanto da produção quanto da circulação do conhecimento acadêmico nos últimos anos. Ante o paradoxo enunciado anteriormente, a perspectiva que captura esses corpos seria a de que estes, para se corrigir essa distorção ontológica, ao menos para ser reconhecido nesse meio mais liberal que o do liberalismo político em épocas de liberalismo autoritário (CHAMAYOU, 2020CHAMAYOU, Grégoire. Sociedade ingovernável: uma genealogia do liberalismo Autoritário. São Paulo: UBU, 2020.), deveriam tornar-se mais, contra tudo e contra todos, superando seus déficits, para se provarem eficientes e se empreenderem a si próprios. Essa estratégia colocou muitos desses corpos em cena, reconhecendo em sua performatividade individual alguma prosperidade econômica, em relação às competências adquiridas para a sua formação do capital humano, graças ao seu ingresso numa maquinaria produtivista cuja moeda de troca é esquecer os signos aí inscritos para dar lugar a um rosto mais palatável e aceito majoritariamente. Desse modo, ao obscurecermos os vestígios escavados de suas diferenças, ou, então, ao assumirmos esses corpos oportunisticamente como parte daquele governo identitário das diferenças em escala micropolítica, sem interpelar ou resistir mais ativamente à razão governamental macropolítica, fazemos com que a relação com esses corpos com deficiência conduza a processos de subjetivação cada vez mais alinhados aos processos majoritários e, portanto, ao maquinismo do próprio capitalismo.
Nesse caso, alguns estudos poderiam ser desenvolvidos no sentido de um estado da arte sobre as produções acadêmicas, que tem mobilizado os saberes e as pautas desses movimentos políticos provenientes dos corpos em que as diferenças se inscrevem, tomando-os, porém, nessa sua significação entre aquelas que escapam dessa linha molar ou desse campo minado, em termos micropolíticos. Por sua vez, parece patente um alinhamento que, visto como único caminho possível para afirmação de suas vidas ou de sua sobrevivência, não traz escapatória, ou, então, essa escapatória não é vista porque apresenta outros caminhos para esses modos de existência na universidade; caminhos esses que podem ser muito árduos, mas vitalmente mais intensos e eticamente mais vibrantes do que os da ascese moral exigida e os do campo minado do reconhecimento. Isso ocorre porque, numa resistência proveniente desses corpos que os envolve em uma luta constante, cotidiana, não contra tudo e todos, há claras exigências de estratégias para a produção de novos lances no jogo, graças a alianças contraídas, assim como à coerência com a qual as pessoas com deficiência vivem, experienciam e, potencialmente, criam as inflexões desses modos de vida no encontro com o outro.
Como é possível observar, essas formas de resistência, de lutas e de novos lances emergentes desse terreno micropolítico podem provocar transformações macropolíticas, contudo essa é uma questão que merece ser discutida em outro momento. O que se presume é que há indícios de uma movimentação desses corpos com deficiência no que diz respeito ao como suas presenças no ensino superior colocam em circulação outros saberes, experiências e epistemes. Estou falando aqui de várias culturas que se formam e de ethos que ainda não foram devidamente mapeados e que poderiam ser favorecidos se pudessem ser expressos no ensino superior, indo além da presença desses corpos e fazendo veicular a sabedoria prática de suas experiências, parcialmente elaboradas e passíveis de enunciação. Nesse sentido, analogamente ao que foi feito com o programa “Encontros de saberes”, alguns mestres nessas artes de existência, como autistas, cegos, surdos, deficientes intelectuais e deficientes físicos que atuam nas universidades, ou seus aliados, poderiam ser convidados a relatar a si mesmos, manifestando suas culturas e modos de ser no mundo, assim como compartilhando seus desafios em relação aos diferentes temas, inclusive alguns comuns a todos os demais atores dessas instituições.
A alteridade radical como pressuposto ético a uma outra aliança política dos corpos no ensino superior
É reconhecido que as ações apresentadas não são suficientes para transformar o ambiente das instituições universitárias em um espaço para o estabelecimento de alianças políticas e para a formação dos corpos que o ocupam, por isso são necessárias outras ações, possíveis, mas desafiadoras, que favoreçam esse espaço; afinal, os atores dessas instituições se deparam, em seu dia a dia, com um limiar complexo para a emergência de uma vida comum, produtora tanto de inovações de sentidos quanto de alinhamento à maquinaria social. Refiro-me, aqui, ao limiar em que os corpos com deficiência são atravessados pelas questões que os objetificam e os qualificam como “deficientes” para, então, serem subjugados, como também a esse registro particular desses corpos nas relações consigo e, ao menos, a toda uma tecnologia de si que visa compensar seus déficits e almejar sua correção. Supostamente, essa correção é para normalizá-los em nome de um corpo orgânico escrutinado pela ciência, porém exercida para dominar sua mecânica instintual e para justificar a sua condução quanto aos fluxos de seu desejo, prevenindo a sociedade de seus desvios e minando sua força irruptiva ou, tenho preferido, ingovernável (PAGNI, 2021PAGNI, Pedro A. Ingovernável da deficiência, sua radicalidade ontológica e seus devires clandestinos na educação e na filosofia. Revista Interdisciplinar Em Cultura E Sociedade, v. 7, n. 2, p. 157-178, jul./dez. 2021. DOI: https://doi.org/10.18764/2447-6498.v7n2p157-178.
https://doi.org/10.18764/2447-6498.v7n2p...
).
Se a diferença ontológica do chamado deficiente decorre de alguma disfunção orgânica, ou, como tenho defendido, de um acidente que pode ou não se tornar um acontecimento para si, o seu corpo também é atravessado por outros signos relacionados à sua condição socioeconômica ou de classe, étnica ou de raça, de gênero e de sexualidade. Desse mesmo corpo advém devires mais complexos, cuja expressão faz emergir significações em consonância com a forma como as diferenças nele inscritas são governadas, subjugadas, conduzidas, afirmando-se em face a essas formas de governo, de subjugação e de condução em torno das quais é formada uma feição, um rosto.
Os movimentos provenientes desse corpo, irredutíveis ao orgânico e ao linguístico, podem se engajar, no âmbito desses múltiplos atravessamentos e signos das diferenças, em lutas que, como venho registrando até aqui, no caso das pessoas com deficiência, geram certa distribuição por identidades em movimentos, como os dos afrodescendentes, dos feministas, dentre outros, cada qual tentando se afirmar como sujeito de direitos na cena pública. Acontece, porém, cada vez mais, que uma caótica multiplicidade se impõe, colocando, por vezes, essas lutas quase no mesmo campo, como mostram os dados do IBGE sobre o quanto as pessoas com deficiência, e sendo mulheres e negras, têm um índice ainda menor de renda ou de participação no mercado de trabalho (DESIGUALDADE..., 2022DESIGUALDADE no Brasil atinge mais duramente pessoas com deficiência, mostra IBGE. Portal Terra, São Paulo, 21 set. 2022. Disponível em:Disponível em:https://www.terra.com.br/nos/desigualdade-no-brasil-atinge-mais-duramente-pessoas-com-deficiencia-mostra-ibge,0be89fb0a84f72c0b9e99b656727ef5dalbykuu7.html . Acesso em: 2 out. 2022.
https://www.terra.com.br/nos/desigualdad...
). Essa ocorrência sugere que, por si só, as demandas desses movimentos têm confluído para pautas comuns, saindo de seu registro político identitário para encontrar, numa política de alianças, outras estratégias de luta (BUTLER, 2018BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.). Ademais, a convivência desses movimentos políticos entre si e, mais particularmente, o encontro desses corpos das ruas nas escolas, passando pelas universidades, produzem trocas de estratégias políticas, de saberes, de experiências, vislumbrando, no corpo do outro, as linhas que tangenciam eles próprios.
Na pele desses corpos repercutem, dessa forma, quase os mesmos signos de poder e mecanismos de dominação, fazendo-os sentir a vibração de intensidades singulares, no que tange à confluência de devires minoritários produzidos em seus encontros, vislumbrando aí conexões em comum. Para que isso ocorra, certa alteridade entre pares e ímpares faz-se crucial para tornar possíveis as alianças experimentadas pelos diversos signos da diferença e dos devires minoritários. Essa alteridade, segundo essa chave de leitura esboçada a partir das filosofias da diferença, pressuporia uma abertura frente aos múltiplos devires minoritários suscitados pelo corpo deficiente ante a presença de outros corpos. Devires estes que produzem, inicialmente, um estranhamento aos corpos sensíveis a essa presença do corpo deficiente, provocando neles certo deslocamento ímpar em direção a si, para aí encontrarem o familiar, ao que lhes parecia estranho, e os laços comuns entre um e outro, em uma relação de parentesco que aparece como um horizonte ontológico à própria humanidade (CARVALHO, 2015CARVALHO, Alexandre F. Por uma ontologia política da (d)eficiência. In: RESENDE, Haroldo. Michel Foucault: o governo da infância. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2015. p. 25-47.).
Antes de avançar nessa direção, vale a pena destacar que, no ensino superior, essas alianças vêm sendo costuradas e ensaiadas, com trocas bastante profícuas entre os movimentos afrodescendentes, feministas, de pessoas com deficiência, dentre outros. Muitas vezes elas ocorrem à medida em que esses movimentos se dão conta dos limites de suas lutas identitárias, encontrando, em seu limiar, embates comuns contra certo eurocentrismo, racismo e capacitismo da chamada cultura acadêmica. Algo que somente foi possível na e pela participação dos atores dessas lutas na comunidade universitária, criando, em seu interior, outras comunidades e redes, onde as identidades se alargam em razão dos desafios postos, das táticas e estratégias desenvolvidas, especialmente em relação às alianças que se impõem nos embates contra esses aspectos mencionados da cultura acadêmica.
Numa enquete realizada há alguns anos, numa universidade do Estado de São Paulo, sobre acessibilidade, o público de estudantes ouvidos e, até mesmo, os professores e funcionários não titubearam em salientar o quanto as barreiras impostas não são somente físicas, mas também atitudinais e sociais. Muitas representações, nas respostas desses atores, apresentaram situações de obesidade, de perda de memória e étnico-raciais, apenas para ficar numa variedade dispersiva, assim como questões que deveriam ser objeto do acesso ao ensino, situando outros sujeitos e demonstrando que não são somente os eventualmente caracterizados como pessoas com deficiência que encontrarão barreiras dessas ordens. Mas se observa aí, conforme indicado no breve estudo de Ciantelli, Pagni, Amorim e Martins (2021CIANTELLI, Ana Paula C.; PAGNI, Pedro A.; AMORIM, Letícia. M.; MARTINS, Sandra E. S. O. O olhar de uma comunidade universitária sobre a acessibilidade: Da dispersão aos limiares de seus marcadores convencionais. Revista Pasajes, Universidad Nacional Autónoma de México, v. 12, p. 1-25, 2021. Disponível em: Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/359295704_O_OLHAR_DE_UMA_COMUNIDADE_UNIVERSITARIA_SOBRE_A_ACESSIBILIDADE_DA_DISPERSAO_AOS_LIMIARES_DE_SEUS_MARCADORES_CONVENCIONAIS . Acesso em: 20 nov. 2022.
https://www.researchgate.net/publication...
), a necessidade de se repensar a noção de acessibilidade a partir de uma perspectiva mais abrangente, indicando os campos de confluência e de ação política não restritos aos chamados corpos deficientes, como também aos movimentos díspares, agenciados pelo encontro de devires minoritários e alimentados por suas diferenças - reunidos sob o signo de uma estranha familiaridade.
Na reinterpretação dos resultados do referido estudo à luz das filosofias da diferença, pode-se dizer que, na ocasião de sua realização, já se percebia o transbordamento desses corpos aos códigos da ciência e da técnica em que se constituíam os saberes sobre a acessibilidade, assim como a necessidade de reelaborá-los. Considerava-se, com isso, a possibilidade do que extrapolaria as particularidades desses corpos, além de algumas de suas singularidades, as quais se misturavam às de outros corpos de sujeitos como professores, funcionários e estudantes da instituição universitária em questão. Isso porque, não obstante os estudantes tenham se declarado inseridos no campo majoritário dos processos de subjetivação (Brancos, com gênero e orientação sexual definidos, dentro do campo da chamada “normalidade”), eles se mostravam sensíveis a esses ouros corpos, estando dispostos a alianças e a repensarem, conjuntamente, os dispositivos de inclusão na universidade.
É como se, intuitivamente, esses outros corpos vislumbrassem em si mesmos um devir deficiente comum a esse outro, seja pelo fato de terem se percebido em razão de algum acidente com alguma deficiência ou por projetarem o avançar do tempo vital, dando-se conta das barreiras advindas com a idade, seja pelo acontecimento de se sentirem em alguma situação minoritária (referentes à sua condição étnico-racial, de proveniência socioeconômica, de gênero, dentre outras), associando-a ao que eventualmente sofria também esse corpo. Não se tratava, nesse caso, de uma compaixão desprendida totalmente de si, tampouco, no outro caso, de uma projeção sobre o corpo alheio do que poderia ocorrer consigo mesmo, ainda que tanto aquele sentimento quanto esse recurso projetivo sejam úteis para tornar familiar o que aparece como estranho. Dessa forma, o que se observou empiricamente, nesse estudo preliminar, foram os indícios de associações sem qualquer codificação ou interpretação possível, nem sequer a enunciação de um “nós”; mas retomo aqui esse estudo, seguindo um caminho diferente da política butleriana de alianças, respaldado pelas filosofias das diferenças e pela vaga noção de “corpo comum”, que congregaria esse “nós” para além de todo identitarismo grupal e aquém de toda enunciação discursiva.
Dessa perspectiva, o móvel do encontro desses corpos não é apenas a violência ou a opressão sofrida mas também a troca afetiva e a potência gerada pela confluência de seus devires comuns, promotoras da possibilidade de cada qual se perspectivar no outro, aprendendo com seus movimentos e, ao se voltar às suas próprias ações, afirmando-se de um modo distinto do que era antes desse acontecimento/encontro. Ao se exprimirem mediante essa transformação de si, esse movimento de alteridade e essa força dos devires minoritários em um corpo formado por essas redes de comunhão, os corpos deficientes podem confluir e se insurgir contra os devires majoritários do corpo social que os subjugam, conduzem, excluem.
No ensino superior, a atenção para essa alteridade é evocada pela possibilidade de se encontrar um “nós” provisório nesse tempo e espaço, por vezes tomado como parte da estratégia de lutas. Na verdade, às vezes, esse “nós” mais parece um “a gente”, em que o distanciamento do “ele” que designa o outro obscurece o que reúne essas diferenças. Não se trata de uma reunião ocasionada pelo sofrimento comum desses corpos, causado pela violência real ou simbólica, tampouco de um processo de mimese que eles produzem entre si, no qual veem no outro aquilo que é seu, muito menos de que a ocorrência de tal reunião se dê por simpatia, empatia ou qualquer outra noção advinda da ação consciente; ao contrário, essa reunião das diferenças parece ser agenciada por um estranhamento ao que é familiar no outro, em um esforço ético por tornar próximo algo estranho, mediante a ruptura da indiferença da consciência em uma identificação qualquer e, ao mesmo tempo, em um distanciamento, para que a alteridade almejada se torne radical.
Isso parece ocorrer ante a impossibilidade de se colocar no lugar do outro, por assimilação. Essa abertura provocada pela alteridade radical evoca a fabulação desse outro, encontrando nesse campo a possibilidade não de representá-lo, mas de tangenciá-lo em face do deslocamento que produziu e das forças em torno das quais gravita uma existência estruturada, normalizada, estática, a que boa parte de nós nos sujeitamos. É essa alteridade sem representação prévia do outro, ante a presença de um rosto sem qualquer transcendência, que possibilita tal familiaridade e, ao mesmo tempo, um distanciamento de si não egocentrado, no qual emerge a impessoalidade, assim como a possibilidade de uma vida comum por vir.
Possibilidades de formação de um “corpo comum” no ensino superior
O “corpo comum” nasce dessa impessoalidade em que o corpo do outro é tratado e do deslocamento que distende a configuração de um si mesmo fixo, ampliando tanto a percepção desse sujeito quanto o desubstantivando, para que, ao ser atritado e agenciado por esse corpo trivial, recobre o eixo gravitacional deslocado por esse processo. Entretanto, o eixo recobrado nesse movimento de transformação de si não seria mais o mesmo, mas aquele produzido pela compensação de forças suscitadas pelo outro e através do abrigo comum, possibilitando o convívio de corpos singulares, justamente em virtude de suas diferenças e dessa busca de ambos por uma relação simétrica entre eles. Antes de enunciar um “nós”, esses movimentos prévios constituem uma comunhão indizível, independentemente da capacidade de fala desses corpos e antes mesmo de um sujeito linguístico, para promover tal enunciação. Dessa forma, tal sentimento, ou desejo de comunhão, abriga corpos em sua expressividade e desubstantiva essa operação discursiva, uma vez que ocorre mediante um encontro afetivo e uma composição de forças que almeja uma circulação do poder, um desempoderamento de um ou de outro, para que a potência de um fazer junto e de uma troca (não simbólica?) se efetuem.
Um dos efeitos do encontro com esse outro e dessa alteridade radical é a experiência de transformação de si mesmo; outro efeito é o de que, ante a não redutibilidade desse outro ao mesmo, uma aliança com ele se faz e uma comunhão se produz em torno do que suscita afetivamente as forças provenientes desse jogo de um “corpo comum” em formação. Antes da formação desse “corpo comum”, como sugere José Gil (2002GIL, José. Corpo paradoxal. In: LINS, Daniel; GADELHA, Sylvio. Nietzsche e Deleuze: o que pode o corpo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. p. 131-148.), um paradoxo se impõe entre o senso comum em que emerge e o bom senso que o captura, pois ele é habitado virtualmente por inúmeras diferenças e múltiplos devires que se atualizam, trazendo à superfície da pele organizações singulares, que ora destacam a sua raça, ora a sua característica funcional, ora o seu gênero, e assim por diante. A cartografia desse corpo trivial se debruçaria como uma espécie de pragmática da multiplicidade sobre esse fazer do Corpo sem Órgãos, segundo Deleuze e Guattari (2012DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2012. v. 4.), oferecendo-nos mais do que um corpo sob o registro do modelo médico ou social, um campo de inscrição, de “territorialização” e de “reterritorialização” em que o outro se encontra disperso em devires, implicando numa experiência de alteridade a ser codificada. Estrategicamente, a importância dessa codificação, ou mesmo de sua fabulação, é a de dar corpo aos seus elementos incorporais, trazendo à superfície da pele seus móveis organizativos e utilizando essa forma de visibilizá-lo como possibilidade de se livrar de um corpo próprio, identitário, regido por certo narcisismo, despossuindo-se dele para liberar o “corpo comum”.
De acordo com Gil (2002GIL, José. Corpo paradoxal. In: LINS, Daniel; GADELHA, Sylvio. Nietzsche e Deleuze: o que pode o corpo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. p. 131-148., p. 146), paradoxalmente, esse corpo trivial corre o risco de cair em uma armadilha da significação das identidades, pois “quando estamos na plena posse de nosso corpo identitário, então ficamos condenados a habitá-las e - perversão maior - amá-las talvez”. A formação desse “corpo comum” poderia ser um caminho para liberá-lo da identidade, de seu reconhecimento como corpo próprio, como junção de devires minoritários que o encorpam, se não lhes dando forma, ao menos reunindo suas forças e alinhando os desejos de um “povo que falta”, nos termos antes salientados. Isso implicaria em assumir, por meio da visibilização das linhas de força do “corpo comum”, um povo por vir, dando relevo à sua presença e à sua existência em espaços como o das universidades, ainda que não possa ocupar seu lugar de fala ou desenhar curvas enunciativas com seu discurso.
Esse parece ser o caso de parte das pessoas com deficiência e, particularmente, dos corpos surdos, deficientes intelectuais e outros transtornos que limitam simbolicamente sua comunicação com o mundo oralizado, cognoscente e “normotípico”. A questão é a de como mapear o delineamento desse e de outros povos que, ao adentrarem em um universo em que as barreiras linguísticas, cognitivas e racionais são institucionalizadas, como o do ensino superior, percebem-nas claramente, quase como um interdito à formação desse “corpo comum”, não encontrando o abrigo e o acolhimento anteriormente mencionados, em virtude da aridez, sedimentação e predeterminação de um corpo social instituído. Esse é um corpo que somente entende a formação nos cânones já trilhados da produção acadêmica e de sua circulação, controlado molecularmente em sua capilaridade, que deixa poucas brechas para que o comum emerja, penetrando-as e rompendo as estruturas de uma cultura que o vê como ameaça. Nesse sentido, a questão que este ensaio tem enunciado em suas entrelinhas é a de como deixar de ver esse corpo deficiente como uma ameaça, por meio da alteridade radical propagada, vislumbrando aí os aliados e a emergência de um “corpo comum” capazes, quem sabe, de inovar essa cultura, revolvendo essa estrutura e agenciando mudanças profundas nos sedimentos das instituições universitárias, no Brasil.
Esse seria o corpo a ser cartografado em suas linhas de fuga, um corpo não orgânico, produzido, singularmente, pelos seus encontros com outros corpos, por intensidades que indicariam uma organicidade e linhas de expressão sem qualquer tipo de falta ou de déficit funcional produzidos por um padrão normativo qualquer, a partir do qual se infere sua anormalidade, a ser superada, ou seu estigma, a ser contornado. A trivialidade desse corpo se caracteriza como qualquer outro, não pelos diagnósticos prévios de deficiência, pelos estigmas por sua cor de pele ou por sua condição de gênero, nem mesmo por sua origem étnica ou orientação sexual; segundo Deleuze e Guattari (2010DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Féliz. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia 1. São Paulo: Editora 34, 2010., 2012DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2012. v. 4.), esse Corpo sem Órgãos (CsO) se forma a partir do encontro com outros corpos, na intersecção e na criação de zonas de intensidades que dão forma a modos de existência singulares. Isso implica em uma singularidade cuja ressonância de outras singularidades acordam os devires e conduzem os fluxos de seu desejo mediante não somente uma arte que esculpe a existência mas também mediante um “corpo comum” que se forma, no qual se misturam e se enredam no entreter das forças que o constituem e das redes formadas pela alteridade com o outro.
É na superfície da pele que esse “corpo comum” organiza os movimentos provenientes do corpo empírico, segundo José Gil (2002GIL, José. Corpo paradoxal. In: LINS, Daniel; GADELHA, Sylvio. Nietzsche e Deleuze: o que pode o corpo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. p. 131-148.), em uma direção distinta daquela produzida pelas linhas molares do poder e do maquinismo social vigente. Esses movimentos, ao esboçarem essa linha de fuga, ou de errância, somente vista por aqueles que comungam ou compartilham de experiências e de sentimentos comuns, não idênticos, mas tangenciais, trazem à tona a latência mais profunda desses corpos e a enredam em uma superfície trivial, comum, como qualquer outra, em torno da qual eles se sentem pertencentes: como uma rede que os acolhe e os protege.
No ensino superior, na falta de um nome próprio, esse “nós” que escapa à identidade é, por vezes, chamado de coletivos. São coletivos que se constituem de forma mais ou menos espontânea, em rede, em que a identificação pela cor da pele, pela particular deficiência ou pelas questões de gênero que os demarcam socialmente, muitas vezes, mesclam-se, misturam-se como corpos em busca de expressões ou reivindicações comuns. Armam-se, dessa forma, para as lutas ombro-a-ombro, com diferenças que ressoam em sua multiplicidade, mais do que na unidade necessária para qualquer identificação, encontrando aí uma rede de proteção mútua, ao mesmo tempo um móvel aglutinador, que os impulsiona e os entusiasma a se assumirem como margem, afirmando-se pelo que há de comum em suas diferenças, em especial a sua menos valia ontológica para o corpo social. Não se abatem com essa menos-valia ontológica, uma vez que aprenderam a resistir nessa direção, a se afirmar como um modo de existência singular cuja comunhão com outras singularidades acontece por meio dos encontros e, principalmente, reúne uma convergência das forças pelos agenciamentos comuns aí produzidos. E esses corpos coletivos já estão aí, empenhando-se em sair de sua trivialidade e se formar como um “corpo comum” no ensino superior.
As singularidades desse “corpo comum” estão inscritas em corpos que, inicialmente, são tratados por “eles” e que, gradativamente, em razão dos agenciamentos dos devires minoritários que suscitam em um e n’noutro, assumem-se como “nós”, dando força enunciativa ao “corpo comum” em devir, nesse processo formativo. Não se trata de um “nós” vago, sem corpo, sem agenciamentos comuns desses devires minoritários, mas de um “nós” que arregimenta, em sua multiplicidade, um povo por vir, um “povo que falta”, mais além do governo biopolítico da população, empreendido pelas políticas públicas de inclusão - analisado em outra ocasião por Pagni (2019aPAGNI, Pedro A. Biopolítica, deficiência e educação: outros olhares sobre a inclusão escolar. São Paulo: Editora Unesp, 2019a.) -, pois estas forçam aquele a ampliar seu alcance e a deslocar seu centro em direção à margem, às periferias. Essa forma de organização do “corpo comum” dispensa um “ a gente” para se fixar em um “nós”. Isso ocorre porque mesmo a enunciação desse “nós” precisa de um lugar e de uma capacidade de enunciação, uma vez que muitos sujeitos acometidos pela surdez, os estrangeiros, os deficientes intelectuais, os formados em outras culturas, ou mesmo os menorizados socialmente por sua condição socioeconômica, de gênero ou de orientação sexual, situam-se fora dos jogos de linguagem vigentes, embora partícipes integralmente dos dispositivos de poder e da razão governamental que os gestam.
Considerar esses corpos nesses jogos e na cultura universitária em que se ingressaram, dando forma a corpos denominados coletivos, portanto, não é somente escutá-los, para que ocupem o lugar de fala de um “a gente”, cuja enunciação discursiva faz circular saberes e experiências outras, reiterando os dispositivos de inclusão instaurados no ensino superior; mas é também mapear essa passagem dos corpos triviais aos comuns, auscultando seus devires minoritários e suas vibrações, que agenciam um “nós” do qual fazemos parte, como uma singular etnia que se forma ante a presença do outro e que nos faz sentir parte dela, vendo esse outro como um modo outro de vida comum.
INTERPELAÇÕES FINAIS: UM OUTRO PARADIGMA DE INCLUSÃO PARA O ENSINO SUPERIOR?
A expressão “singular etnia” também é inspirada na obra de Fernand Deligny (2018DELIGNY, Fernand. Cahiers de L'Immuable. In: DELIGNY, Fernand. Oeuvres. París: L'Arachnéen, 2018. p. 797-1030.). O etólogo francês criou essa expressão numa obra monumental, em que procura designar a relação entretecida na relação dos autistas com suas presenças próximas, isto é, com os educadores sociais da comunidade de Cévennes, assim como com os demais seres (água, pedra, árvore...) em torno deles, os quais seriam considerados da mesma forma como esses seres o são. Esses outros seres foram considerados presenças próximas, pelo autor, porque não partiam de um conhecimento prévio sobre os autistas, tampouco se propunham a enquadrá-los às tecnologias de poder ao seu alcance para subjugá-los, muito menos subordiná-los a um território fixo, mas para que os autistas gerassem um vínculo pela familiaridade obtida no cotidiano da relação com eles, traçando mapas dos movimentos próprios e dos garotos autistas, para, então, decifrar os gestos mínimos destes e encontrar traços errantes comuns que favorecessem o convívio entre eles e estes e “reterritorializasse” o caminho a seguir. Deligny (2015DELIGNY, Fernand. O Aracniano e outros textos. São Paulo: N-1 Edições, 2015.) afirma que tanto uns quanto outros fossem enredados a partir de certa despossessão da vontade de poder por parte das presenças próximas, para, então, serem enredados pelas teias tecidas em comunhão, sem se atentarem para o teor de verdade e de poder em jogo, ou mesmo ficarem atentos somente aos sentidos das intensidades e da liberação dos fluxos de desejo, que entretecem um mapa anônimo, porque nem de um, nem de outro, mas comum aos envolvidos. Essa ontologia relacional do “corpo comum”, filosoficamente, pode ser uma perspectiva aberta para se pensar a inclusão educacional nos mais diferentes níveis de ensino, em particular no superior.
A questão é que a fonte de inspiração do autor - a singular etnia e a forma como a comunidade de Cévennes a constituiu - diz respeito a um amplo território, circunscrito às montanhas e praticamente fechado ao mundo exterior, onde somente conviviam os autistas que lá habitavam e os educadores sociais, com visitas esporádicas de psiquiatras, cineastas, filósofos e outros educadores. A questão que eu gostaria de discutir com mais vagar, neste momento, seria a de se essa formação do “corpo comum” teria a possibilidade de ocorrer em instituições sociais onde o cerceamento, a cultura e os dispositivos de poder são mais acentuados, como é o caso das escolas e das universidades. Isso porque as condições da comunidade de Cévennes é distinta daquela enfrentada pela relação dos corpos deficientes, negros, transgêneros, quilombolas, indígenas, favelados, ou, como assinalado, de uma multidão desses e de outros signos da diferença que adentram o ensino superior, sem se subjugarem totalmente ao seu governo, como corpo social único ou como distribuído cada qual com a significação com que mais se identifica.
Não se trata apenas de uma distribuição que implica em uma imensa variedade impossível de ser racionalizada pela forma de “governamentalidade” operante, tampouco de uma unidade produzida em torno desta última sob um paradigma científico de inclusão que conclama o acesso de todos à universidade, para produzir oportunidades que, já se sabe de antemão, só serão aproveitadas por alguns. Essa distribuição implica também nas resistências a essas formas de governança institucional e a uma ramificação de linhas de fuga produzidas pela presença trivial desses corpos cujo alcance de seus mapeamentos são infinitos, dependendo da disposição à alteridade e ao acolhimento das tensões trazidas por esse outro, em virtude tanto da variação quanto da velocidade dessas ramificações produzidas a partir do encontro de corpos que encarnam uma diferença com outras diferenças e com um rosto que obscurece tal encarnação, para sinalizar um sorriso pálido, um sujeito uno, integralmente normalizado.
Esse teatro, seguramente, não era experimentado em Cévennes. Aí havia um ponto zero, um contexto em que as presenças próximas se interpelavam, no sentido de se tornarem inoperantes, para então traçarem os mapas que, por sua vez, também eram de incumbência dos autistas, que exprimiam gestos e gritos - mínimos para sua significação, máximos para sua própria existência -, encontrando nos traços comuns os diagramas de um “corpo comum” que habita aquele território. Essa outra forma de expressão artística poderia, no entanto, inspirar-nos a educar nosso olhar e a dirigir nossos traços como presenças próximas que atuam no ensino superior - não somente como aliados -, vislumbrando num “corpo comum” que também é nosso. É nosso, porque, agenciado pelos múltiplos signos de diferença, provocando o início de uma “reterritorialização”, movida pelos devires minoritários desse povo que faltava, pois agora não falta mais, já está a povoar as universidades, transformando sua cultura e, quem sabe, trazendo novos sopros vitais para essas instituições. Quem sabe, mapear esse “corpo comum” não seja a possibilidade de encontrar um modo outro de falarmos de inclusão!
Desse modo, deveríamos falar de uma inclusão que não se refira a algo prévio que parta da modelagem de um corpo orgânico chamado “deficiente”, ou de uma pele denominada de “negra”, ou de um gênero chamado “feminino”, uma vez que é por aí que se constrói o registro de várias caracterizações identitárias da diferença já imersas em uma mecânica, ou um dispositivo de poder, e em um maquinismo social abstrato que personaliza para excluir; mas de uma inclusão que diz respeito ao corpo que se molda a partir de sua imanência em um mundo, organizando-se a partir dos encontros com outros corpos e dos mecanismos de organização gerados pelas intensidades que o agenciam, conforme circula o prazer e faz fluir o desejo. O fato de esses corpos serem negros, deficientes, mulheres, homossexuais, dentre outros, não quer dizer que esses signos os minimizem, os desqualifiquem, os tomem como desvios a serem corrigidos, mas eles somente indicam outra organização, mecânica e economia libidinal, demandando maior esforço para que sejam esses corpos codificados em sua singularidade, pelo gesto cartográfico. E, seguramente, para se produzir essa codificação, é preciso a percepção de um “corpo comum” formado entre aquele que gesta a cartografia e o enigmático sujeito cartografado, cujo mapa somente pode ser elaborado com este, como uma singular etnia a ser decifrada somente à medida que aquele se sente pertencente ao mundo habitado por este, o qual, por sua vez, nota aquele como uma presença próxima, um aliado com quem convive, independentemente das diferenças inscritas em seu corpo.
Para isso, duas ações parecem prioritárias e imediatas. Essa inclusão que, em tese, formaria o “corpo comum”, com todo exercício de alteridade radical e de encontro de saberes que pressupõe, não começa na universidade, devendo ser expandida para outros níveis básicos do ensino, desde a educação infantil. Para isso, lá também a inclusão não deveria representar apenas acessibilidade, adaptação curricular e apoio escolar para quem, comprovadamente, necessita de atendimento educacional especializado, como também deveria propor uma reforma de toda cultura escolar, seguida da formação (continuada) de professores e de uma filosofia que se ocupasse da diferença, não da normalidade, delineando o outro olhar e os traços evocados anteriormente. Uma segunda ação, decorrente da primeira, implicaria em pautar essa inclusão educacional no terreno estético em que emerge, não se furtando, em nome de uma ética - mesmo a da diferença - a se esquivar de seus efeitos em níveis micro e macropolíticos, cambiando os jogos de poder em que as escolas e as universidades modernas se estruturam. Penso ser no compromisso com essas duas ações que passaríamos de aliados ou especialistas a presenças próximas, ainda que nem tão próximas..., preparando o terreno para que logo o povo que faltava não falte mais, mas que esteja entre nós.
REFERÊNCIAS
- ALMEIDA, Philipe Oliveira de; ARAÚJO, Luana Adriano. DisCrit: os limites da interseccionalidade para pensar sobre a pessoa negra com deficiência. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 10, n. 2, p. 611-643, ago. 2020. DOI: https://doi.org/10.5102/rbpp.v10i2.6861.
» https://doi.org/10.5102/rbpp.v10i2.6861 - BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva- PNEEPEI/MEC. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2008. Disponível em: Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politica-educespecial.pdf Acesso em: 17 maio 2019.
» http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politica-educespecial.pdf - BRASIL. Presidência da República. Decreto n° 6.949, de 25 de agosto de 2009 Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo facultativo, assinado em Nova York, em 30 de março de 2007. Presidência da República, Secretaria Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 2009. Disponível em: Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm Acesso em: 27 nov. 2019.
» http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm - BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Presidência da República, Secretaria Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm Acesso em: 12 abr. 2021.
» http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm - BRASIL. Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 6, 1 out. 2020. Disponível em: Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948 Acesso em: 1 fev. 2021.
» https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948 - BUENO, José Geraldo Silveira. Educação especial brasileira: integração/segregação do aluno diferente. São Paulo: EDUC, 1993.
- BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.
- CARVALHO, Alexandre F. Por uma ontologia política da (d)eficiência. In: RESENDE, Haroldo. Michel Foucault: o governo da infância. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2015. p. 25-47.
- CARVALHO, José Jorge de. Encontro de saberes e descolonização: para uma refundação étnica, racial e epistêmica das universidades brasileiras. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSFOGUEL, Ramon(org.) Descolonialidade e pensamento afrodiaspórico 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020. p. 79-106. (Coleção Cultura Negra e Identidades).
- CARVALHO, Alexandre F.; MENEZES, Eliana da Costa Pereira de; PAGNI, Pedro A. Diferença e corpo heterotópico da deficiência: um convite para se pensar de outro modo a escola inclusiva, Revista Cocar, [s. l.], n. 13, p. 1-22, 2022. Disponível em: Disponível em: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55163 Acesso em: 11 nov. 2022.
» http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/55163 - CHAMAYOU, Grégoire. Sociedade ingovernável: uma genealogia do liberalismo Autoritário. São Paulo: UBU, 2020.
- CIANTELLI, Ana Paula C.; PAGNI, Pedro A.; AMORIM, Letícia. M.; MARTINS, Sandra E. S. O. O olhar de uma comunidade universitária sobre a acessibilidade: Da dispersão aos limiares de seus marcadores convencionais. Revista Pasajes, Universidad Nacional Autónoma de México, v. 12, p. 1-25, 2021. Disponível em: Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/359295704_O_OLHAR_DE_UMA_COMUNIDADE_UNIVERSITARIA_SOBRE_A_ACESSIBILIDADE_DA_DISPERSAO_AOS_LIMIARES_DE_SEUS_MARCADORES_CONVENCIONAIS Acesso em: 20 nov. 2022.
» https://www.researchgate.net/publication/359295704_O_OLHAR_DE_UMA_COMUNIDADE_UNIVERSITARIA_SOBRE_A_ACESSIBILIDADE_DA_DISPERSAO_AOS_LIMIARES_DE_SEUS_MARCADORES_CONVENCIONAIS - COLLINS, Patrícia Hill. Epistemologia feminista negra. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSFOGUEL, Ramon(org.) Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2020. P. 139-170. (Coleção Cultura Negra e Identidades).
- CRESPO, Ana Maria Morales. Da invisibilidade à construção da própria cidadania: os obstáculos, as estratégias e as conquistas do movimento social das pessoas com deficiência no Brasil, através das histórias de vida de seus líderes. 2009. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-28052010-134630/publico/ANA_MARIA_MORALES_CRESPO.pdf Acesso em: 31 ago. 2022.
» https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-28052010-134630/publico/ANA_MARIA_MORALES_CRESPO.pdf - DELEUZE, Gilles. Crítica e Clínica São Paulo: Editora 34, 1997.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Féliz. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia 1. São Paulo: Editora 34, 2010.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2012. v. 4.
- DELIGNY, Fernand. O Aracniano e outros textos São Paulo: N-1 Edições, 2015.
- DELIGNY, Fernand. Cahiers de L'Immuable. In: DELIGNY, Fernand. Oeuvres París: L'Arachnéen, 2018. p. 797-1030.
- DESIGUALDADE no Brasil atinge mais duramente pessoas com deficiência, mostra IBGE. Portal Terra, São Paulo, 21 set. 2022. Disponível em:Disponível em:https://www.terra.com.br/nos/desigualdade-no-brasil-atinge-mais-duramente-pessoas-com-deficiencia-mostra-ibge,0be89fb0a84f72c0b9e99b656727ef5dalbykuu7.html Acesso em: 2 out. 2022.
» https://www.terra.com.br/nos/desigualdade-no-brasil-atinge-mais-duramente-pessoas-com-deficiencia-mostra-ibge,0be89fb0a84f72c0b9e99b656727ef5dalbykuu7.html - FABRIS, Elí T.; KLEIN, Rejane Ramos(org.) Inclusão e biopolítica Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. p. 15-24.
- FOUCAULT, Michel. Os intelectuais e o poder: conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder 9. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1990.
- GAVÉRIO, Marco A. Nada sobre nós, sem nossos corpos! O local do corpo deficiente nos disability studies: Nothing about us, without our bodies!Argumentos - Revista do Departamento de Ciências Sociais da Unimontes, [s. l.], v. 14, n. 1, p. 95-117, 2017. Disponível em: Disponível em: https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/argumentos/article/view/1158 Acesso em: 20 nov. 2022.
» https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/argumentos/article/view/1158 - GIL, José. Corpo paradoxal. In: LINS, Daniel; GADELHA, Sylvio. Nietzsche e Deleuze: o que pode o corpo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. p. 131-148.
- JANNUZZI, Gilberta M. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século XXI. 3. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2012.
- JÚNIOR, Lanna; MARTINS, Mário Cléber(comp.). História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010. Disponível em: Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/21097_arquivo.pdf Acesso em: 31 ago. 2022.
» https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/21097_arquivo.pdf - LOPES, Maura C. A inclusão como ficção moderna. Revista de Pedagogia, UNOESC, São Miguel do Oeste, v. 3, n. 6, p. 7-20, 2004.
- LOPES, Maura C.; VEIGA-NETO, Alfredo. Acima de tudo que a escola nos ensine. Em defesa da escola de surdos. ETD-Educação Temática Digital, Campinas, v. 19, n. 4, p. 691-704, out./dez. 2017. DOI: https://doi.org/10.20396/etd.v19i4.8648637.
» https://doi.org/10.20396/etd.v19i4.8648637 - MAGNABOSCO, Molise de Bem; SOUZA, Leonardo Lemos de. Aproximações possíveis entre os estudos da deficiência e as teorias feministas e de gênero. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 27, n. 2, e56147, 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n256147.
» https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n256147 - MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.
- ORTEGA, Francisco. Práticas de ascese corporal e constituição de bioidentidades. Cadernos de saúde coletiva, v. 11, n. 1, p. 59-77, 2003. Disponível em: file:///C:/Users/elise/Downloads/2003_1FOrtega.pdf. Acesso em: 21 nov. 2022.
- ORTEGA, Francisco. Deficiência, autismo e neurodiversidade. Ciência & Saúde Coletiva, v. 14, n. 1, p. 67-77, 2009. Disponível em: Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/CPcMbsxxyfF3CXSLwTcprwC/?format=pdf Acesso em: 21 nov. 2022.
» https://www.scielo.br/j/csc/a/CPcMbsxxyfF3CXSLwTcprwC/?format=pdf - PAGNI, Pedro A. A deficiência em sua radicalidade ontológica e suas implicações éticas para as políticas de inclusão escolar. Educação e Filosofia, Uberlândia, v. 31, n. 63, p. 1443-1474, set./dez. 2017. DOI: https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0102-6801.v31n63a2017-08.
» https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0102-6801.v31n63a2017-08 - PAGNI, Pedro A. Experiência, transversalidade e deficiência: desafios da arte de viver à educação escolar. Curitiba: Editora CRV, 2018.
- PAGNI, Pedro A. Biopolítica, deficiência e educação: outros olhares sobre a inclusão escolar. São Paulo: Editora Unesp, 2019a.
- PAGNI, Pedro A. Dez Anos da PNEEPEI: uma análise pela perspectiva da biopolítica. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 44, n. 1, e84849, 2019b. Disponível em: Disponível em: https://www.scielo.br/j/edreal/a/fDkYKgTgq8y5fqzWP9YyJ3b/?lang=pt Acesso em: 1 out. 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/2175-623684849.
» https://doi.org/10.1590/2175-623684849» https://www.scielo.br/j/edreal/a/fDkYKgTgq8y5fqzWP9YyJ3b/?lang=pt - PAGNI, Pedro A. Ingovernável da deficiência, sua radicalidade ontológica e seus devires clandestinos na educação e na filosofia. Revista Interdisciplinar Em Cultura E Sociedade, v. 7, n. 2, p. 157-178, jul./dez. 2021. DOI: https://doi.org/10.18764/2447-6498.v7n2p157-178.
» https://doi.org/10.18764/2447-6498.v7n2p157-178 - PAGNI, Pedro A. Retratos foucaultianos da deficiência e da ingovernabilidade na escola: Do governo das diferenças a outro paradigma de inclusão. Marília: Cultura Acadêmica; Oficina Universitária, 2023.
- RABINOW, Paul. Antropologia da razão Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999.
- RECH, Tatiana Luiza. A emergência da inclusão escolar no Brasil. In: THOMAZ, Adriana da Silva; HILLESCHEIM, Betina(org.). Políticas de inclusão: gerenciando riscos e governando as diferenças. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. p. 19-34.
- ROCHA, Eucenir Fredini. Corpo deficiente: em busca da reabilitação? - uma reflexão a partir da ótica das pessoas portadoras de deficiências físicas. 1991. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. Disponível em: Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/000735143 Acesso em: 31 ago. 2022.
» https://repositorio.usp.br/item/000735143 - SASSAKI, Romeu Kasumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: Editora WVA, 1997.
- SASSAKI, Romeu Kasumi. Vida independente: na era da sociedade inclusiva. São Paulo: RNR, 2004.
- SASSAKI, Romeu Kazumi. Nada sobre nós sem nós: Da integração à inclusão - Parte 1. Revista Nacional de Reabilitação, v. 10, n. 57, p. 8-16, 2007. Disponível em: Disponível em: https://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2012/01/nada-sobre-n%C3%93s-sem-n%C3%93s1.pdf Acesso em:21 nov. 2022.
» https://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2012/01/nada-sobre-n%C3%93s-sem-n%C3%93s1.pdf - STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas São Paulo: Editora 34, 2002.
- UNESCO. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais Brasília: CORDE, 1994.
-
1
Artigo publicado com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq/Brasil para os serviços de edição, diagramação e conversão de XML.
-
2
Dentre os fatores externos, destacamos o decisivo papel da Organização das Nações Unidas (ONU), que, em 1981, com a proclamação do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência (AIPD), concorreu para a mobilização dos movimentos políticos das pessoas com deficiência no Brasil e em outras partes da América Latina. No continente, a Organização dos Estados Americanos (OEA) levou a cabo essa mobilização ao fomentar o Programa de Ações Mundiais para as Pessoas com Deficiência (Resolução ONU 37/52 - 03/12/1982) e ao implementá-lo (Resolução ONU 45/91 - 14/12/199), o que se denominou de uma década (2006 a 2016) de ações voltadas a esse púbico em nível global. Essas ações globais não apenas mobilizaram o movimento político brasileiro das pessoas com deficiência, como também contou com a participação de alguns de seus ativistas, que reciprocamente colaboraram para esse plano global, assim como para sua implementação nas décadas subsequentes, inspirados por um paradigma de inclusão educacional e um modelo social de deficiência. Papel crucial desempenhou também as Declarações, como, por exemplo, a de Salamanca (UNESCO, 1994UNESCO. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais. Brasília: CORDE, 1994.), a qual serviu como um norte para essas ações globais, com grande repercussão para que o governo estatal brasileiro assumisse um compromisso com esse movimento transnacional pela inclusão das pessoas com deficiência, ao mesmo tempo que era pressionado pela sociedade civil a implementar algumas medidas em relação tanto a esse público quanto à educação inclusiva.
-
3
Decorreram dos compromissos com os organismos internacionais e a sociedade civil brasileira algumas propostas que antecederam o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, tais como: a publicação da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência - regulamentada pelo Decreto no 6.949, de 03 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009BRASIL. Presidência da República. Decreto n° 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo facultativo, assinado em Nova York, em 30 de março de 2007. Presidência da República, Secretaria Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 2009. Disponível em: Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm . Acesso em: 27 nov. 2019.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_At... ) - e da Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva- PNEEPEI/MEC. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2008. Disponível em: Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politica-educespecial.pdf . Acesso em: 17 maio 2019.
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/po... ). Por meio dessas regulamentações, quanto ao público e ao planejamento para a implementação de uma educação inclusiva, garantiu-se o acesso dessa população aos espaços públicos, o direito ao trabalho e ao lazer e o ingresso das pessoas com deficiência em escolas regulares de educação básica, gradativamente - com a Lei de cotas para o ensino superior de 2003. -
4
Originalmente, segundo Sassaki (2007SASSAKI, Romeu Kazumi. Nada sobre nós sem nós: Da integração à inclusão - Parte 1. Revista Nacional de Reabilitação, v. 10, n. 57, p. 8-16, 2007. Disponível em: Disponível em: https://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2012/01/nada-sobre-n%C3%93s-sem-n%C3%93s1.pdf . Acesso em:21 nov. 2022.
https://www.sinprodf.org.br/wp-content/u... ), essa frase foi expressa por William Rowland, ativista negro sul-africano, em plena luta contra o Apartheid, nesse país, e adotada pela Disabled People South Africa (DPSA - Pessoas Deficientes Sul-Africanas), em 1986. Alguns anos mais tarde, em 2001, foi retomada por Tom Shakespeare, em uma palestra sobre a Deficiência como atitude, proferida numa universidade australiana, e, no mesmo ano, adotada como lema por movimentos como People First, Mencap, Change e Speaking Up, da Grã-Bretanha. Desde então, ativistas de todo mundo têm adotado o lema e transformado essa frase numa bandeira de luta e do protagonismo das pessoas com deficiência na elaboração de políticas públicas voltadas para esse público. -
5
A Teoria CRIP (aleijado, em inglês) busca a interseção entre a deficiência, o gênero e a sexualidade, sendo originalmente proposta por Robert McRuer, no livro Crip Theory: cultural signs of queerness and desability, publicado em 2006, com algumas variações desde então, no sentido de admitir outros atravessamentos, como o das questões étnico-raciais e de classe social.
-
6
Particularmente, nesse debate atual, tenho-me situado mais proximamente dessa última tendência, articulando minha trajetória pregressa de pesquisador do campo da Filosofia da Educação com as experiências como pai e aliado de lutas dos movimentos das pessoas com deficiência. Talvez, retraído pela indignidade de falar por esse outro e percebendo o esgotamento do slogan “Nada sobre nós sem nós”, eu defenda que seria mais alvissareiro e provocativo proclamar, como enunciado desse desafio, a frase “Nada sobre nós sem esses corpos singulares, sem nosso ‘corpo comum’ formado a partir dos encontros com eles”, apoiado nos argumentos expressos no presente ensaio.
-
7
Ao se apropriar da noção de biossociabilidade (RABINOW, 1999RABINOW, Paul. Antropologia da razão. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999.) e de sua utilização por Francisco Ortega (2003ORTEGA, Francisco. Práticas de ascese corporal e constituição de bioidentidades. Cadernos de saúde coletiva, v. 11, n. 1, p. 59-77, 2003. Disponível em: file:///C:/Users/elise/Downloads/2003_1FOrtega.pdf. Acesso em: 21 nov. 2022.), para argumentar que ela se forma mediante um procedimento ascético, Pagni (2019aPAGNI, Pedro A. Biopolítica, deficiência e educação: outros olhares sobre a inclusão escolar. São Paulo: Editora Unesp, 2019a., p. 77) designou as “bioidentidades” como “traços fisionômicos, genotípicos e fenotípicos, características comportamentais, dentre outros, definidos por códigos genéticos, antecipando os riscos que corremos e antecipando os acidentes que eventualmente teremos”. Em torno desses traços biológicos, vários grupos ou comunidades se articulam para reivindicar direitos civis em lutas de afirmação identitárias de suas diferenças.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Jun 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
19 Set 2023 -
Aceito
27 Fev 2024
-
Este documento possui uma versão em preprint
10.1590/SciELOPreprints.4951