RESUMO:
Este artigo analisou textos de licenciandos em Ciências Biológicas sobre a temática ecológica, tendo por referência as concepções paradigmáticas da ciência contemporânea: complexa, sistêmica e cartesiana. O contexto da investigação foi o componente curricular Prática de Ecologia, de um curso de licenciatura em Ciências Biológicas de uma universidade pública do Nordeste brasileiro. A investigação empregou uma abordagem qualiquantitativa, com o objetivo de identificar a influência de concepções paradigmáticas da ciência na construção de significados de temáticas ecológicas pelos licenciandos que participaram dela. A metodologia combinou a elaboração de esquemas conceituais com a Análise Estatística Implicativa (ASI), o que permitiu visualizar as implicações de complexidade e profundidade das relações estabelecidas entre variáveis conceituais presentes nos textos. Os resultados indicaram que diferentes temáticas ecológicas sofrem distintas influências paradigmáticas. As concepções sistêmicas e complexas estiveram presentes em temas como conservacionismo e impacto ambiental, enquanto o consumismo esteve vinculado ao paradigma cartesiano. A pesquisa corroborou, ainda, com a adequação de abordagens mistas de pesquisa para a área de ensino de ciências.
Palavras-chave:
paradigmas científicos; ensino de ecologia; crônica ambiental
RESUMEN:
Este artículo analizó textos de estudiantes de licenciatura en Ciencias Biológicas sobre el tema ecológico, teniendo como referencia las concepciones paradigmáticas de la ciencia contemporánea: compleja, sistémica y cartesiana. El contexto de investigación fue el componente curricular de Práctica Ecológica de la carrera de Ciencias Biológicas de una universidad pública del Nordeste de Brasil. La investigación empleó un enfoque cualitativo y cuantitativo con el objetivo de identificar la influencia de las concepciones paradigmáticas de la ciencia en la construcción de significados de los temas ecológicos por parte de los estudiantes de grado que participan en la investigación. La metodología combinó el desarrollo de esquemas conceptuales y el Análisis de Implicación Estadística (ASI), lo que permitió visualizar las implicaciones de complejidad y profundidad de las relaciones que se establecen entre las variables conceptuales presentes en los textos. Los resultados indicaron que diferentes temas ecológicos sufren diferentes influencias paradigmáticas. Las concepciones sistémicas y complejas estuvieron presentes en temas con conservacionismo e impacto ambiental, mientras que el consumismo se vinculó al paradigma cartesiano. La investigación también corroboró la idoneidad de los enfoques mixtos de investigación para el área de enseñanza de las ciencias.
Palabras clave:
paradigmas científicos; enseñanza de la ecología; crónica ambiental
ABSTRACT:
This article analyzed texts by undergraduates in Biological Sciences on the ecological theme, having as reference the paradigmatic conceptions of contemporary science: complexity, systemic and Cartesian. The research context was the Ecology Practice that is a curricular component of an undergraduate course in Biological Sciences at a public university in the Brazilian Northeast. The investigation employed a qualitative and quantitative approach with the objective of identifying the influence of paradigmatic conceptions of science in the construction of meanings of ecological themes by the undergraduate students participating in the research. The methodology combined the development of conceptual schemes and Statistical Implicit Analysis (SIA), which allowed viewing the implications of complexity and depth of the relationships established between conceptual variables present in the texts. The results indicated that different ecological themes suffer different paradigmatic influences. Systemic and complex conceptions were present in themes with conservationism and environmental impact, while consumerism was linked to the Cartesian paradigm. The research also corroborated the adequacy of mixed research approaches for the science teaching area.
Keywords:
scientific paradigms; ecology teaching; environmental chronicle
INTRODUÇÃO
O ensino da Ecologia, na atualidade, tem trazido vários desafios a docentes e estudantes em razão das inúmeras e complexas questões associadas a essa disciplina. Alguns desses desafios têm relação com a tradição do ensino de Biologia e a quantidade exacerbada de terminologias e descrições de processos e estruturas que esse campo tem, o que, muitas vezes, produz a imagem de uma ciência de verdades prontas e acabadas (MOTOKANE, 2015MOTOKANE, Marcelo Tadeu. Sequências didáticas investigativas e argumentação no ensino de ecologia. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v.17 n. especial, p. 115-137, 2015. https://doi.org/10.1590/1983-2117201517s07
https://doi.org/10.1590/1983-2117201517s...
). Outros podem ser relacionados às próprias orientações curriculares para a educação básica, nas quais a temática aparece de forma escassa e com pouca visibilidade, como é o caso da atual Base Nacional Curricular Comum (BNCC) (KRIZEK; MULLER, 2021KRIZEK, João Pedro Ocanha; MULLER, Marcus Vinícius D. Vieira. Desafios e potencialidades no ensino de ecologia na educação básica.Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio,[S. l.], v. 14, n. 1, p. 700-720, 2021. https://doi.org/10.46667/renbio.v14i1.401
https://doi.org/10.46667/renbio.v14i1.40...
).
Soma-se a esses desafios a natureza da própria disciplina, que envolve a complexidade das interações entre organismos - e entre estes e um mundo variado e em constantes mudanças. A própria Ecologia enquanto disciplina tem crescido e influenciado a formação de outras novas disciplinas e novos debates em muitas áreas do conhecimento. Sua importância, há muito tempo, ultrapassou os limites acadêmicos e escolares para fomentar novas formas de pensar e agir em sociedade.
Essa compreensão tem afetado nossas formas de ensinar e aprender tal matéria, visto que, de um ponto de vista conceitual, além de compreender a rede que forma os sistemas vivos, suas interligações e interdependências, é desejável que se consiga distinguir as várias ecologias que coexistem (ecologia natural ou científica, humana, social, política, profunda etc.) (BOMFIM; KAWASAKI, 2015BOMFIM, Vanessa L.; KAVASAKI, Clarice S. As “Ecologias” Presentes nas Pesquisas em Educação Ambiental. In: VIII EPEA - Encontro Pesquisa em Educação Ambiental, 2015, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: EPEA, Disponível em: Disponível em: http://epea.tmp.br/epea2015_anais/pdfs/plenary/176.pdf . Acesso em: 23/11/22.
http://epea.tmp.br/epea2015_anais/pdfs/p...
, JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
, MANZOCHI, 1994MANZOCHI, Lúcia Helena. Participação do ensino de Ecologia em uma educação ambiental voltada para a formação da cidadania: a situação das escolas de 2º grau no município de Campinas. 1994. 544 f. 2v. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas., LAGO; PÁDUA,1985LAGO, Antônio; PÁDUA, José Augusto. O que é Ecologia. São Paulo: Brasiliense, 1985. 108p), bem como suas relações com os paradigmas científicos contemporâneos (complexo, sistêmico e cartesiano) (MORIN, 2002MORIN, Edgar. A religação dos saberes. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.; MACÊDO, 2019MACÊDO, Patrícia Barros de. Significados sistêmico-complexos mediados pela linguagem audiovisual: investigando os fatores bio-sócio-histórico-culturais que permeiam as interações entre “ser humano-ambiente-teia alimentar”. 2019. 286 f. Tese (Doutorado em Ensino das Ciências e Matemática) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco, 2019. Disponível em: Disponível em: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/8326 Acesso em: 23/10/21.
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/hand...
, GONZÁLEZ, 2018GONZÁLEZ, Enrique L. Las vertientes de la complejidad: pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas. Guadalajara, México: ITESO. 2018. 220 p., MOUL; SÁ; CARNEIRO-LEÃO, 2018MOUL, Renato Araújo T. de M; SÁ, Risonilta Germano B.; CARNEIRO-LEÃO, Ana Maria dos Anjos. Influências das concepções paradigmáticas de ciência sobre a prática pedagógica de futuros licenciados em biologia. Vidya, v. 38, n. 2, p. 181-194, 2018.).
Se falamos em várias ecologias, é porque há diferentes formas de se acercar desse tema. Neste trabalho, problematizamos o ensino da disciplina a partir de sua dimensão polissêmica e adotamos um caminho epistemológico e metodológico que evidencia as influências de paradigmas das ciências sobre significados da própria Ecologia acionados por licenciandos em Ciências Biológicas2 2 No Brasil, a formação de professores é realizada através de cursos de graduação específicos a uma área propedêutica (áreas vinculadas às formações gerais do Ensino Básico, como Letras, História, Ciências, Biologia, Química, Matemática, dentre outras), chamados de Licenciaturas. Os cursos, nessas áreas do saber, são de dois tipos: Licenciatura, destinada à formação de professores, e Bacharelado, destinado às atividades generalistas não vinculadas ao ensino. Assim, podemos falar de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas para formação do professor de Biologia ou em um curso de Bacharelado em Ciências Biológicas para a formação do profissional Biólogo. . Lidamos com essa problemática há cerca de uma década como docentes da disciplina Prática de Ecologia (três autores deste trabalho ministram ou já ministraram essa disciplina). Trata-se de um componente obrigatório, inserido na matriz do curso, no eixo da “prática como componente curricular”3 3 A prática como componente curricular está prevista na Resolução CNE/CP (Comissão Nacional de Educação/Conselho Pleno) n. 2, de 19 de fevereiro de 2002, que instituiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior; e na Resolução CNE/CP n. 2, de 9 de junho de 2015, que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. , ofertado no final da graduação, geralmente depois de cursadas as disciplinas de Ecologia Geral e Biologia da Conservação4 4 A disciplina Prática de Ecologia foi instituída em 2007 e, até 2018, teve como pré-requisitos a Ecologia Geral e a Biologia da Conservação. Depois disso, por motivos administrativos, deixou de ter os pré-requisitos. .
Por ser uma disciplina de prática como componente curricular, a Prática de Ecologia teve na sua constituição referenciais críticos da área da educação em ciências e abarcou conceitos e metodologias afinados com as ciências humanas. Essa condição conferiu um espaço de expressão do mosaico de ideias que povoam os discursos científicos e sociais sobre ecologia, assim como seus vieses paradigmáticos. Nesse sentido, e a partir da nossa prática e experiência com essa disciplina, indagamos neste trabalho: quais as influências de concepções paradigmáticas da ciência podem ser observadas na escrita sobre temáticas ecológicas pelos licenciandos? A partir dessa questão, estabelecemos como objetivo analisar em quais situações as concepções paradigmáticas (cartesiana, sistêmica e complexa) influenciam a construção de significados de Ecologia pelos licenciandos participantes da Prática de Ecologia.
A partir dessa pergunta orientadora, organizamos o trabalho em três partes: a primeira é de base teórica e tematiza elementos do avanço da ecologia enquanto ciência e política, assinalando uma possível reverberação de concepções paradigmáticas da ciência nos seus significados correntes; a segunda apresenta a metodologia da investigação, explicitando seu contexto, os tipos de materiais analisados e o percurso qualiquantitativo oferecido pela aplicação da Análise Estatística Implicativa; e a terceira contém as interpretações dos resultados da investigação à luz da questão orientadora e do diálogo com os referenciais teóricos.
Queremos, com este trabalho, contribuir com práticas e processos de pesquisa e formação de docentes de Ciências Biológicas, enfatizando a importância do ensino de Ecologia a partir de seus muitos significados que evocam concepções paradigmáticas.
A ECOLOGIA NA ESTEIRA DE UMA MUDANÇA PARADIGMÁTICA
Até fins do século XIX, as relações entre organismos e seu ambiente eram abordadas por estudiosos naturalistas, sem ainda constituir uma disciplina independente da Biologia. Tem-se notícias de que a Ecologia já seria uma disciplina curricular nos Estados Unidos em 1858; e que o escritor e naturalista Henry David Thoreau já a teria mencionado em suas cartas de viagens. Além disso, uma definição sua já estaria presente em escritos de 1859, de Charles Darwin, e de outros estudiosos em anos seguintes, ainda que não houvesse, de fato, a nomeação para ela (ÁVILA-PIRES, 1999ÁVILA-PIRES, Fernando Dias. Fundamentos históricos da ecologia. Ribeirão Preto: Holos Editora, 1999.).
Em 1866, o biólogo Ernest Haeckel propôs, então, o termo “oecologia” para o estudo da economia da natureza e das relações dos animais e plantas com o ambiente, e o termo teria aparecido pela primeira vez em uma nota de rodapé de página do volume I da sua obra. Nos anos seguintes, Haeckel teria traçado as relações da Ecologia com a Evolução e outras disciplinas, avançado em sua definição, sem, contudo, ter destacado ou reclamado sua autoria (ÁVILA-PIRES, 1999ÁVILA-PIRES, Fernando Dias. Fundamentos históricos da ecologia. Ribeirão Preto: Holos Editora, 1999.).
No século XX, a ecologia desenvolveu-se e difundiu-se amplamente, construindo seus próprios caminhos de investigação e de interpretação, deslocando o ser humano de uma perspectiva antropocêntrica para a de um elo nas cadeias tróficas e, com isso, abrindo trilhas para uma visão integrada que avançou as fronteiras tradicionalmente erigidas entre as ciências da natureza e as humanas e sociais. Por ser uma ciência das relações, a Ecologia fez surgir uma nova forma de pensar e de relacionar conceitos de diferentes áreas de conhecimento, trazendo contribuições importantes ao desenvolvimento científico e filosófico.
Para o físico e escritor Fritjof Capra (2006CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 2006.), os problemas da nossa época não podem ser compreendidos isoladamente, porque são problemas sistêmicos, ou seja, estão interligados e são interdependentes. Para ele, o que está em questão é a “crise de percepção” instaurada por um modo de conhecer que não atende à complexidade de um mundo globalmente interligado. A mudança só pode acontecer a partir de uma mudança radical de nossa percepção, pensamento e valores compartilhados, o que resultaria dizer uma mudança paradigmática, tão radical quanto a Revolução Copernicana. Olhando para as grandes mudanças que ocorreram na física nas primeiras décadas do século XX, Capra reconhece que está em curso, desde então, uma profunda mudança em nossas visões de mundo, de uma visão mecanicista, para uma visão holística e ecológica.
A partir da generalização do conceito de mudança paradigmática que Thomas Kuhn atribuiu à ciência, Fritjof Capra vê as mudanças operadas na Física e na Biologia como parte de uma mudança cultural muito mais ampla, uma mudança de paradigma que não se aplica somente ao campo científico e aos cientistas, mas à própria sociedade. É nesse sentido ampliado que ele defende a necessidade de um novo paradigma compatível com uma visão de mundo sistêmica ou ecológica, atribuindo, aqui, à Ecologia, um sentido muito mais amplo e profundo que o usual.
A percepção ecológica do mundo, para o autor de A Teia da Vida, reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos e o fato de que os seres humanos participam e são dependentes dos processos cíclicos da natureza. González (2018GONZÁLEZ, Enrique L. Las vertientes de la complejidad: pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas. Guadalajara, México: ITESO. 2018. 220 p.) reconhece a contribuição de Capra e de outros importantes autores no processo de constituição do sentido paradigmático da ecologia, como Gregory Bateson e Edgar Morin. Para ele, o paradigma sistêmico ou ecológico continuou sendo problematizado e desenvolvido por Morin, resultando na constituição do pensamento complexo.
Nesse sentido, a designação da ecologia como uma referência paradigmática refere-se, justamente, a esse poder de questionar as bases da tradição da ciência e propor novas lentes para compreender a realidade das relações entre ambiente e sociedade. Não sendo parte da evolução normal da ciência, mas uma insurgência no seu meio, a ecologia alcançou o sentido revolucionário que Kuhn (2006KUHN, Thomas Samuel. A estrutura das revoluções científicas. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.) reconheceu na história da ciência, um sentido subversivo que conferiu condição para a emergência de uma nova visão sobre as relações entre os organismos e seu meio até a ressignificação do lugar do ser humano no planeta.
Em termos paradigmáticos, a expressão da ecologia abalou estruturas epistemológicas bem estabelecidas, como o deslocamento do sujeito cartesiano de sua posição privilegiada em relação aos outros elementos do mundo e o questionamento profundo das oposições que lhe são constitutivas: sujeito e objeto, natureza e cultura, corpo e mente, razão e emoção, além de outras. Ademais, as investigações ecológicas contribuíram para fazer aparecer um conjunto novo de questões e problemas situados, além das chamadas “duas culturas” de Snow (1997SNOW, Charles Percy.As duas culturas. São Paulo: Edusp, 1997.), as ciências naturais e das humanidades, já que são produzidos justamente no seu entrelaçamento e, portanto, dependentes de práticas de pesquisa renovadas para sua interpretação e solução.
Foram as questões e problemáticas ambientais, surgidas em meados do século XX, que mais destacaram a importância dos conhecimentos e metodologias da ecologia e lhe conferiram um desenvolvimento ainda maior. Foi aqui, talvez, que a ecologia tenha deixado marcas mais profundas de cunho paradigmático, influenciando a criação de interdisciplinas e áreas do conhecimento ou modificando estruturalmente as já existentes. Contudo, a influência da ecologia não ficou contida no contexto acadêmico e tampouco restrita a uma ecologia científica, visto que ela se expandiu para o contexto social mais abrangente, compondo um campo de lutas e denúncias contra a opulência e predação sustentadas pelas modernas sociedades industriais (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
).
De fato, o aprofundamento dos processos de modernização e a proliferação dos riscos associados ao avanço científico e tecnológico conduziram à definição de uma problemática ambiental urgente e planetária, epistemologicamente situada em lugar de fronteira, entre conhecimentos estabelecidos e outros nem tanto: ciência, política, natureza, cultura, religião. Alguns autores contemporâneos que têm se dedicado ao estudo de questões relacionadas ao ambiente e aos movimentos ambientalistas, especialmente no campo das pesquisas interdisciplinares, frequentemente veem nelas uma oportunidade - e uma possibilidade - de se fazer um profundo questionamento das relações sociedade-natureza, o que remete a uma contundente crítica aos cânones epistemológicos, sociais, culturais e políticos enraizados nos sistemas de pensamento e nas formas de organização das sociedades atuais. Ao lado do estatuto pluralista da própria noção de natureza e do caráter socialmente construído da questão ambiental, é comum a ênfase e a preocupação com temas de ordem pragmática, de explicitação e avaliação crítica das condições de viabilidade de enfoques que realmente operacionalizam a ideia de “sustentabilidade socioambiental” (VIEIRA; WEBER, 1997VIEIRA, Paulo Freire; WEBER, Jacques. (Org). Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 1997.).
Apesar da visibilidade que os problemas ambientais planetários assumiram no presente e da sua constância na vida social das sociedades modernas, as formações políticas e as instâncias de pesquisa, planejamento e execução se mostraram incapazes de apreender a problemática no conjunto de suas implicações. E não apenas por que as soluções propostas estão embasadas em um ponto de vista tecnocrático e reducionista, às quais estivemos imersos por muitas décadas, mas por que, mais recentemente, também se tornaram alvos de investidas negacionistas e anticientíficas (DANOWSKI, 2012DANOWSKI, Déborah. O hiper-realismo das mudanças climáticas e as várias faces do negacionismo.Sopro, v. 70, p. 2-11, 2012., SANTINI; BARROS, 2022SANTINI, Rose Marie; BARROS, Carlos Eduardo. Negacionismo climático e desinformação online: uma revisão de escopo.Liinc em Revista, v. 18, n. 1, p. e5948-e5948, 2022.).
Leff (2011LEFF, Enrique. Complexidade, interdisciplinaridade e saber ambiental. Olhar de Professor, v. 14, nº. 2, p. 309-335, 2011. https://doi.org/10.5212/OlharProfr.v.14i2.0007
https://doi.org/10.5212/OlharProfr.v.14i...
) considera que a problemática socioambiental põe em questão os paradigmas estabelecidos do conhecimento atual e demanda novas perspectivas e metodologias que possam orientar um processo de reconstrução do saber no sentido de uma análise integrada da realidade. Isso porque tais questões confluem processos naturais e sociais de diferentes ordens de materialidade, não podendo ser compreendidas nas suas complexidades sem o concurso de campos diversos do saber. Embora de difícil refutação, tal premissa tem demonstrado muitas dificuldades no campo prático e foi conduzida a modificações pífias no conjunto das sociedades, justamente por elas serem dependentes de uma outra racionalidade ou, nos termos deste trabalho, de um outro paradigma.
Ecologias e paradigmas da ciência: fazendo correspondências conceituais
Segundo Macêdo (2019MACÊDO, Patrícia Barros de. Significados sistêmico-complexos mediados pela linguagem audiovisual: investigando os fatores bio-sócio-histórico-culturais que permeiam as interações entre “ser humano-ambiente-teia alimentar”. 2019. 286 f. Tese (Doutorado em Ensino das Ciências e Matemática) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco, 2019. Disponível em: Disponível em: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/8326 Acesso em: 23/10/21.
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/hand...
), os paradigmas científicos podem, atualmente, ser classificados em três tipos - o cartesiano, o sistêmico e o complexo. Segundo a autora, o paradigma cartesiano tem sido dominante desde seu aparecimento, por volta do século XVII, e apresenta como características a verticalização, o reducionismo e especialização do conhecimento, além de promover distinções dicotômicas entre ciência e ética, sujeito e objeto, qualitativo e quantitativo. Já o paradigma sistêmico, firmou-se como oposição ao paradigma vigente e promove a articulação entre as partes e o todo, deslocando o pensamento entre os níveis sistêmicos em uma dinâmica de rede. Por sua vez, o paradigma complexo se caracteriza pela articulação cognitiva que emerge da união entre o conhecimento aprofundado das partes, constituído pelo cartesianismo, e as interrelações entre as partes e destas com o todo, que constitui o paradigma sistêmico, de maneira que aborda ideias intersistemáticas.
Para González (2018GONZÁLEZ, Enrique L. Las vertientes de la complejidad: pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas. Guadalajara, México: ITESO. 2018. 220 p.), o paradigma sistêmico, que ele intitula como ecológico, é uma vertente do pensamento complexo. Em concordância dessa afirmação, podemos citar Mariotti (2000MARIOTTI, Humberto. As paixões do ego: complexidade, política e solidariedade. São Paulo: Palas Athena, 2000.), que afirmou que o paradigma complexo é representado pelo abraço entre os paradigmas cartesiano e sistêmico. A complexidade não nega os paradigmas anteriores, principalmente o cartesiano, mas se constitui pela interação plena entre as duas bases paradigmáticas. Para González (2018GONZÁLEZ, Enrique L. Las vertientes de la complejidad: pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas. Guadalajara, México: ITESO. 2018. 220 p.), a complexidade ainda não é um paradigma normalizado, está em desenvolvimento e muito falta para que ela possa se normalizar, tal qual a dinâmica do desenvolvimento científico que Thomas Kuhn preconiza.
Estando a ecologia no foco das transformações da ciência, propomos, neste trabalho, uma correlação entre as concepções paradigmáticas da ciência e as distintas perspectivas de ecologia apresentadas por Jatobá, Cidade e Vargas (2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
), que são: ecologia radical, ambientalismo moderado e ecologia política.
A ecologia radical é a perspectiva que nasce junto com a ecologia científica e se expressa principalmente no preservacionismo, conservacionismo, ecologia profunda, economia ecológica e outras correntes consideradas tradicionais. Nessa perspectiva, prevalece uma ótica biocêntrica rígida, cuja expressão territorial exemplar é a criação de áreas de proteção integral, ou seja, sem ou com mínima presença humana. As políticas e estratégias associadas à ecologia radical são variadas e, segundo os autores, “um traço comum entre elas é a submissão dos aspectos econômicos e sociais ao enfoque ecológico” (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
, p. 9). Ainda que esta perspectiva tenha sido imprescindível para o desenvolvimento de uma consciência ecológica, sua marca é a impossibilidade de conciliação entre objetivos econômicos, ecológicos e sociais.
Na direção de uma visão conciliatória, o chamado ambientalismo moderado busca combinar os princípios da ecologia radical com os objetivos do crescimento econômico, desenvolvimento sociocultural e conservação ambiental. Dessa perspectiva decorreram propostas de ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Destaca-se que a noção de ecodesenvolvimento é anterior à noção de desenvolvimento sustentável, que foi utilizada, pela primeira vez, em 1973 por Maurice Strong. Para Sachs (1993 apudJATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
), o ecodesenvolvimento é definido como um caminho intermediário entre o “ecologismo intransigente” e o “economicismo de visão estreita”. O autor defende a revisão do modelo econômico, a superação da pobreza e da destruição do ambiente e maior justiça econômica para os países em desenvolvimento. A noção é multidimensional: sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade espacial e sustentabilidade cultural (JACOBI, 1999JACOBI, Pedro Roberto. Meio ambiente e sustentabilidade. O município no século XXI: cenários e perspectivas. São Paulo: CEPAM, 1999. Disponível em:Disponível em:https://michelonengenharia.com.br/downloads/Sutentabilidade.pdf Acesso em: 20/01/2023.
https://michelonengenharia.com.br/downlo...
).
Já o conceito de desenvolvimento sustentável foi difundido em 1987 pelo Relatório Brundtland, como também é conhecido o Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. De acordo com Jatobá, Cidade e Vargas (2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
), esse conceito contempla uma proposta mais moderada que a do ecodesenvolvimento e, por isso, vem sendo reiteradamente utilizado nas conferências mundiais promovidas pela Organização das Nações Unidas e nas políticas da maioria dos países. Sua maior aceitação e difusão não eliminam, no entanto, as tensões presentes em torno de um termo tão polissêmico que promete combinar dois tipos distintos de racionalidade, a econômica e a ecológica.
A terceira perspectiva, a ecologia política, faz críticas às duas anteriores e procura avançar o debate a respeito dos problemas ambientais, dando ênfase aos contextos socioeconômico, político e ideológico. A ecologia política busca fundamentos em teorias críticas da sociedade e se alinha aos movimentos sociais contestatórios, como os ambientalistas, raciais e feministas, que surgem nos países desenvolvidos, mas também, e especialmente, no contexto de injustiça social e ambiental, que caracteriza a história dos países em desenvolvimento. De acordo com Jatobá, Cidade e Vargas (2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
, p. 22), a ecologia política “postula que os problemas ambientais não podem ser compreendidos isolados do contexto político e econômico em que foram criados. É preciso relacionar processos socioeconômicos e políticos e atores sociais nos níveis global, regional e local”.
Nesse sentido, no centro dos debates da ecologia política, estão os conflitos socioambientais enquanto reflexo de uma sociedade profundamente desigual e injusta social e ambientalmente. “Só por meio de uma abordagem política das questões socioambientais pode-se buscar um novo equilíbrio de forças entre atores sociais, gerando maior justiça na distribuição de ônus e benefícios decorrentes de alterações ambientais” (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
, p. 30).
A partir dessas três perspectivas ecológicas, propomos a seguinte correlação: a ecologia radical tende a premissas reducionistas, o que é típico do paradigma cartesiano; a perspectiva do ambientalismo moderado avança às relações com as práticas humanas de cunho socioeconômico, estabelecendo a consideração de relações ecológicas com as humanidades e se aproximando de uma perspectiva paradigmática sistêmica; e a ecologia política, ao incluir plenamente os seres humanos e suas culturas no âmbito ecológico, passa a considerar uma compreensão da ecologia das ciências humanas, sociais, políticas e naturais, estabelecendo-se como perspectiva pautada na complexidade.
A correlação aqui proposta não pretende encerrar as perspectivas ecológicas apresentadas dentro de um quadro rígido de concepções paradigmáticas, como se fossem categorias indiscutivelmente fechadas. Nem as concepções paradigmáticas, nem as perspectivas ecológicas podem ser assim consideradas, pois abrigam dentro delas um gradiente fluído de correntes. O que propomos é o uso desses constructos conceituais para apoiar uma abordagem teórica e metodológica, cujo percurso apresentamos na sequência.
METODOLOGIA
Na linha do que desenvolvemos ao longo do artigo, a metodologia visou usar, de modo complementar, as abordagens qualitativa e quantitativa de pesquisa. Com essa abordagem mista, que chamamos de qualiquantitativa, buscamos explorar de modo mais complexo ou ecológico o fenômeno pesquisado. Seguindo as palavras de Minayo e Sanches (1993MINAYO, Maria Cecilia de S.; SANCHES, Odécio. Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade?Cadernos de saúde pública, v. 9, p. 237-248, 1993. Disponível em:Disponível em:https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csp/v9n3/02.pdf Acesso em: 23/01/2023.
https://www.scielosp.org/article/ssm/con...
),
A relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetividade e subjetividade não se reduz a um continuum, ela não pode ser pensada como oposição contraditória. Pelo contrário, é de se desejar que as relações sociais possam ser analisadas em seus aspectos mais “ecológicos” e “concretos” e aprofundadas em seus significados mais essenciais. Assim, o estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa (MINAYO; SANCHES, 1993MINAYO, Maria Cecilia de S.; SANCHES, Odécio. Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade?Cadernos de saúde pública, v. 9, p. 237-248, 1993. Disponível em:Disponível em:https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csp/v9n3/02.pdf Acesso em: 23/01/2023.
https://www.scielosp.org/article/ssm/con... , p. 247).
Nesse tópico, apresentamos a contextualização da investigação, o desenho metodológico que inclui os procedimentos e instrumentos de pesquisa e as formas de análise empregadas.
Contextualização
A investigação foi realizada a partir de atividades de ensino conduzidas em uma turma da disciplina Prática de Ecologia, componente curricular obrigatório ofertado em um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma universidade pública, situada no Nordeste brasileiro. A referida disciplina compõe o oitavo período da matriz curricular do curso como “prática como componente curricular”, e foi criada em atendimento às reformas curriculares deliberadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002, para a formação de professores (BRASIL, 2002BRASIL. Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, p. 31, 09 abr. 2002.).
A disciplina já teve como pré-requisitos outras duas disciplinas, Ecologia Geral e Biologia da Conservação. Além das considerações da ecologia científica e conservacionista abordadas por essas disciplinas, a Prática de Ecologia visa ampliar o escopo formativo, apresentando vieses históricos, antropológicos, sociológicos e políticos implicados nos estudos do ambiente.
O plano de ensino dessa disciplina foi construído com vistas a embasar uma formação crítica acerca da ecologia, de seus múltiplos sentidos e relações com vários campos do saber, além de relacionar os conceitos ecológicos com o contexto de vida e com discussões sobre os paradigmas científicos e perspectivas ecológicas pautadas pela sustentabilidade. Nesse sentido, foram propostas, ao longo da disciplina, atividades diversas, como narrativas fotográficas de situações ecológicas do entorno, esquemas conceituais em grupos e reflexão partilhada em sala de aula, bem como a produção de textos do gênero crônica como parte de um projeto coletivo de produção de um livro cartonero5 5 A produção de livros cartoneros na disciplina Prática de Ecologia é desenvolvida desde 2013. A proposta pedagógica se inspira no “movimento cartonero” (SIQUEIRA, 2019) e tem como princípios o aproveitamento de recursos, a escrita autoral, a relação entre a ciência e a arte e a cidadania socioambiental. Os participantes elaboram textos críticos e, coletivamente, editam um livro físico com capas artesanais feitas de papelão. Na universidade, além de um projeto de ensino, esse é também um projeto de extensão e pesquisa. .
A atividade de escrita de crônicas autorais, vale dizer, gênero textual não acadêmico, constitui uma prática singular no contexto geral do curso. Geralmente, quando apresentamos a proposta para uma turma nova, há curiosidades de alguns e, às vezes, estranhamento de outros. De fato, a proposta enfatiza uma escrita pessoal, portanto, mais livre, sem as amarras da escrita acadêmica convencional. Ficou acordado com a turma que a primeira versão do texto seria apresentada para interlocução com o docente da disciplina, depois retornaria ao autor para revisão ou reescrita, até a entrega final, que comporia a obra coletiva.
Essa proposta de ensino encontrou resistências iniciais por parte dos licenciandos que tinham expectativas de cursar uma disciplina pautada pelas condições do bacharelado, onde teriam práticas de ecologia conduzidas em campo ou em laboratório, por exemplo. Essa situação reflete o condicionamento ao paradigma cartesiano que permeia a estrutura educacional na qual estamos imersos. Isso, inclusive, reverbera em condições paradigmáticas de ordem prática no exercício da docência (MOUL; SÁ; CARNEIRO-LEÃO, 2018MOUL, Renato Araújo T. de M; SÁ, Risonilta Germano B.; CARNEIRO-LEÃO, Ana Maria dos Anjos. Influências das concepções paradigmáticas de ciência sobre a prática pedagógica de futuros licenciados em biologia. Vidya, v. 38, n. 2, p. 181-194, 2018.). Para Behrens e Rodrigues (2015BEHRENS, Marilda Aparecida; RODRIGUES, Daniela Gureski. Paradigma emergente: um novo desafio. Pedagogia em Ação, v. 6, n. 1, p. 51-64, mar. 2015. Disponível em: Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/9233/7685 . Acesso em: 03/04/2022.
http://periodicos.pucminas.br/index.php/...
), a prática pedagógica tradicional está relacionada às influências do paradigma científico cartesiano, e as práticas emergentes ou inovadoras tendem a se apoiar nos paradigmas científicos sistêmico e complexo, instaurando novas práxis.
Desenho metodológico
A metodologia empregou quatro procedimentos principais: a) textos de crônicas produzidos por licenciandos; b) análise de texto e elaboração de esquemas conceituais; c) Análise Estatística Implicativa; e d) articulação empírico-teórica dos textos dos licenciandos, perspectivas ecológicas e concepções paradigmáticas. A Figura 1 ilustra os principais momentos da pesquisa.
a) Produção de crônicas
Como mencionado anteriormente, foram consideradas, nesta análise, a versão final das 34 (trinta e quatro) crônicas com temáticas ecológicas produzidas por licenciandos de Ciências Biológicas, conforme apresentado na contextualização. Vale destacar que, embora o gênero textual em questão seja mais livre, foram dadas algumas orientações para sua escrita: escrita de um texto curto de até 3 páginas; abordagem a uma temática ecológico-ambiental relacionada com a vida da pessoa autora à sua escolha; ênfase a questões que poderiam ser de interesse de um público amplo; apresentação de conhecimentos plausíveis; e uma opinião pessoal.
b) Análise de texto e elaboração de esquemas conceituais
Cada crônica foi lida e interpretada individualmente, para se destacar conceitos e seus termos correlatos referentes à ecologia. A partir dessa análise textual, foram elaborados esquemas conceituais (pelo primeiro autor deste artigo), conforme exemplifica a Figura 2.
Utilizamos, neste trabalho, o termo “esquemas conceituais” para designar uma forma particular de organizar conceitos e outros conhecimentos, mais flexível que os mapas conceituais. Para Ferrão e Santarosa (2020FERRÃO, Naíma Soltau; SANTAROSA, Maria Cecília P. Mapas conceituais para a compreensão de textos no âmbito de um curso de pós-graduação. Revista Eletrônica de Educação Matemática - REVEMAT, v. 15, n. 1, p. 01-21, 2020. https://doi.org/10.5007/1981-1322.2020.e67861
https://doi.org/10.5007/1981-1322.2020.e...
), os mapas conceituais são ferramentas de representação de um texto que permitem organizar as proposições e conceitos em níveis hierárquicos de relacionamento. Essa representação relacional hierarquizada de conceitos presentes em um texto permite representar o discurso textual através da articulação dos objetos discursivos, que, no campo do ensino de ciências, podemos compreender como conceitos científicos.
No caso dos esquemas conceituais, seguimos o sentido empregado por Müller (2014MÜLLER, Angela Denise E. Esquemas conceituais como recurso de ensino, aprendizagem e avaliação na eletrodinâmica em nível médio. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.), que os consideram mais flexíveis que os mapas conceituais, justamente por possibilitarem a composição entre conceitos, mas também entre estes e eventos e fenômenos. Em se tratando deste trabalho, adaptamos pelo termo para também incluir outros termos que se organizam em torno de uma temática ecológica central, que podem ser temas, processos e até artefatos. Por exemplo, os termos ligados ao conceito de bioma podem ser: lixo, plástico, petróleo, desmatamento, indústria, praia, mar, oceano, corais etc.
c) Análise Estatística Implicativa (ASI)
Uma vez concluída a etapa de análise textual, os conceitos e termos encontrados na primeira etapa foram submetidos à Análise Estatística Implicativa (RÉGNIER; ANDRADE, 2020RÉGNIER, Jean-Claude; ANDRADE, Vladimir Lira V. X. de. A Análise Estatística Implicativa e Análise de Similaridade. In: RÉGNIER, Jean-Claude; ANDRADE, Vladimir Lira V. X. (dir.). Análise estatística implicativa e análise de similaridade no quadro teórico e metodológico das pesquisas em ensino de ciências e matemática com a utilização do software CHIC. p. 41-840. Recife: EDUFRPE, 2020. Disponível em:Disponível em:http://editora.ufrpe.br/ASI . Acesso em: 07/02/2022.
http://editora.ufrpe.br/ASI...
). Eles foram categorizados, tabulados binariamente (0 e 1 - não contém e contém, respectivamente) e relacionados à produção textual de cada estudante em uma planilha Microsoft Excel®, apropriada para leitura analítica realizada pelo software Classificação Hierárquica Implicativa e Coesitiva (CHIC) versão 7.0 (2014).
A Análise Estatística Implicativa (ASI) é um campo teórico pautado no conceito de implicação estatística ou, mais precisamente, no conceito de quase implicação para distingui-la da alusão dos campos da lógica matemática (A.S.I. 11, 2021). Segundo Gras e Régnier (2015GRAS, Régis; RÉGNIER, Jean-Claude. Origem e desenvolvimento da Análise Estatística Implicativa (ASI). In: VALENTE, José A.; ALMEIDA, Maria Elizabeth B. (Orgs.). Uso do CHIC na formação de educadores: à guisa da apresentação dos fundamentos e das pesquisas em foco. 1ª ed.Rio de Janeiro: letra Capital, 2015, p. 22-45.) o raciocínio que apoia a interpretação dos resultados da análise implicativa é essencialmente de natureza estatística e probabilística. A força de uma associação entre duas variáveis é aferida pela probabilidade P (Nma < nma | independência) - que, no caso de independência, o número de ocorrência (Nma) é mais fraco do que o número efetivamente observado (nma) (ORIS; RITSCHARD; PERROUX, 2013ORIS, Michel; RITSCHARD, Gilbert; PERROUX, Olivier . Le pluralisme religieux croissant à Genève dans la première moitié du xixe siècle: Une exploration des dynamiques sous-jacentes. In: F. Amsler & S. Scholl(Ed.).L'apprentissage du pluralisme religieux. Le cas genevois au XIXe siècle. Genève: Labor et Fides, 2013.).
Neste trabalho, a ASI foi calculada conforme a condição matemática selecionada no software CHIC 7.0 (2014CHIC - Classificação Hierárquica Implicativa e Coesitiva. Versão 7.0, Copyright. Método de Análise implicativa de dados de Régis Gras: École Polytechnique - Université de Nantes. Colaboração: Saddo Ag Almouloud, Marc Bailleul, Anleine Bodin, Annie Larher, Harrison Ratsimba-Rajohm, Jean-Claude Régnier, André Totohasina. Versão Windows: Raphaël Couturier, 2014.), considerando os “nós” significativos, a teoria clássica e aplicação da lei binomial. A expressão analítica dos dados escolhida foi a do grafo implicativo para relações de implicação com índice de implicação mínimo de 0,75.
As variáveis (conceitos e termos correlatos) são apresentadas entre parênteses e estão integradas ao texto descritivo e analítico sobre as relações entre elas. Dessa forma, conforme o número de variáveis relacionadas no texto, os significados construídos foram classificados em concepção cartesiana, quando articulavam até cinco variáveis; e em concepção sistêmico-complexa, quando foram articulados a mais de cinco variáveis conceituais.
A delimitação do número de relações entre as variáveis e sua caracterização conforme os paradigmas científicos justificam-se em função de: (1) a articulação de até cinco variáveis representa uma tendência ao reducionismo que estrutura o paradigma cartesiano, ou seja, os textos tendem a apresentar um conceito ou tema central com escassas relações com outros conceitos e temas; (2) à medida que os autores utilizam mais de cinco conceitos relacionando-os entre si, verificamos que as crônicas apresentavam estruturas narrativas mais ricas que não se prendem ao conceito focal, mas possibilitam outras considerações que ressignificam o conceito central da temática abordada. Destacamos que as considerações sobre o número de relações entre os conceitos presentes nas crônicas atendem às limitações desse estilo textual, uma produção textual livre e caracterizada como texto curto, com média de 600 caracteres.
O resultado pode ser interpretado com a leitura do grafo implicativo onde determinada variável conceitual implica em outra. Por exemplo, abordar a ecologia marinha implica que o estudante contemple temas relacionados com poluição, depois plásticos, que implicam nos microplásticos, que causam a morte de organismos marinhos etc. Esta linha de raciocínio parece lógica, mas ela é resultado da experiência e conhecimento do estudante que formam significados construídos sobre ecologia.
Ressaltamos que a análise baseada na classificação em conceitos e termos correlatos pode restringir a complexidade das relações que é infinita, mas finita na concepção individual. Entretanto, esta organização dos grafos implicativos tem caráter didático para melhor visualização das interações na intenção de compreender como podem ser formadas essas “teias” sistêmicas.
Neste estudo, a análise dos dados seguiu etapas distintas e complementares, como apresentado na figura 1. Tendo em vista a estrutura complexa da organização analítica, é pertinente explicitar que, após a análise individual das crônicas, em que obtivemos a identificação dos conceitos e suas relações, o quadro da ASI é aplicado como método integrativo e holístico de todos os dados construídos com os esquemas conceituais e respectivas identificações da natureza paradigmática de cada crônica. Dessa forma, o grafo implicativo (instrumento gráfico e analítico construído através da análise estatística implicativa) utilizado nos resultados apresenta relações conceituais e características de cada crônica em perspectiva completa e integrada. Embora as figuras, pareçam diferentes grafos implicativos, elas são recortes de um só grafo implicativo que relaciona todas as crônicas em uma análise complexa e holística. Em todas as figuras, aparecerá abaixo, a localização exata do recorte das relações que são destacadas na análise dos resultados.
Isso favorece a interpretação das influências paradigmáticas para o grupo considerado nesta pesquisa e contribui com a análise de dados em perspectiva complexa: primeiro, porque, conforme Morin (2000MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2ª ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2000.), a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade; e segundo, de acordo com Santos de Aquino (2022SANTOS DE AQUINO, Rafael. Ensino de ciências em cultura cruzada: a formação de conceitos em sala de aula multicultural em Salgueiro, Pernambuco, Brasil. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências). Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. 361 p.http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8708
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/han...
), o grande número de variáveis dependentes e independentes que exercem suas influências em um determinado objeto de pesquisa, em ciências humanas, impossibilita o controle e a padronização dos coeficientes de variação, fato que favorece a ASI como método adequado aos estudos em ciências da educação e a aproxima da complexidade.
d) Articulação empírico-teórica
Os resultados obtidos pela produção de esquemas conceituais associados à ASI nos permitiram avançar em uma análise e reflexão articulada ao arcabouço teórico dos paradigmas científicos (MORIN, 2002MORIN, Edgar. A religação dos saberes. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.; BEHRENS; RODRIGUES, 2015BEHRENS, Marilda Aparecida; RODRIGUES, Daniela Gureski. Paradigma emergente: um novo desafio. Pedagogia em Ação, v. 6, n. 1, p. 51-64, mar. 2015. Disponível em: Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/9233/7685 . Acesso em: 03/04/2022.
http://periodicos.pucminas.br/index.php/...
, MACÊDO, 2019MACÊDO, Patrícia Barros de. Significados sistêmico-complexos mediados pela linguagem audiovisual: investigando os fatores bio-sócio-histórico-culturais que permeiam as interações entre “ser humano-ambiente-teia alimentar”. 2019. 286 f. Tese (Doutorado em Ensino das Ciências e Matemática) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco, 2019. Disponível em: Disponível em: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/8326 Acesso em: 23/10/21.
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/hand...
), das perspectivas ecológicas (JATOBÁ, CIDADE E VARGAS, 2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
). Ao cotejar o material empírico resultante do trabalho pedagógico em sala de aula e as elaborações teóricas, conseguimos compreender mais amplamente as correlações e influências que se produzem no ensino e aprendizagem de temáticas ecológicas.
Ética na pesquisa
Os materiais utilizados na análise foram provenientes do desenvolvimento normal da prática docente dos autores deste trabalho e se enquadram no art. 1º da Resolução CNS6 6 CNS (Conselho Nacional de Saúde) é a organização brasileira responsável pela legislação da ética em pesquisa e pela aplicação das leis e normas através da apreciação ética em projetos de pesquisas científicas com seres humanos. 510 de 2016: “parágrafo único: Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP7 7 CEP (Comissão de Ética em Pesquisa) é uma organização local, instituída por comissão em cada uma das instituições de ensino superior, como universidades públicas federais, estaduais ou universidades privadas que atuam com pesquisa, bem como autarquias e fundações de pesquisa públicas ou privadas que atuam no Brasil. A CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) tem abrangência nacional, ambas comissões são instituídas sob as normas da CNS. O sistema CEP/CONEP é responsável pela execução da lei, realizando a apreciação da ética na pesquisa científica, onde a CEP compõe a apreciação inicial no âmbito local, ou seja, das instituições de pesquisa específicas (universidades, institutos federais, institutos de pesquisa), e a CONEP realiza a apreciação secundária em nível nacional. O sistema CEP/CONEP executa as atividades de apreciação da ética em projetos de pesquisa através da Plataforma Brasil, meio digital pelo qual se disponibilizam os projetos, os documentos comprobatórios e obrigatórios, além dos pareceres de apreciação ética emitidos e a comunicação entre membros das comissões e pesquisadores postulantes de projetos de pesquisa que tende a passar pela apreciação. : VII - pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito”.
Em cumprimento às normas de ética em pesquisas com seres humanos, neste trabalho, a identidade dos estudantes ou qualquer informação que possa identificá-los não foram mencionadas, como a universidade, o ano e o semestre que eles cursaram a disciplina Prática de Ecologia (por exemplo, o segundo semestre do ano de 2023) etc. As identidades autorais dos textos de crônicas não foram computadas nem reveladas, tendo sido aproveitados, no estudo, apenas o título e o corpo dos textos de crônicas.
INFLUÊNCIAS PARADIGMÁTICAS NA CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS EM ECOLOGIA
Propor atividades que buscam ativar um pensamento sistêmico-complexo não é trivial, já que a consequente quebra da lógica linear característica do paradigma cartesiano e traz desafios a docentes e desconforto a estudantes que podem vir a apresentar um comportamento reativo a metodologias não convencionais.
A expectativa dos licenciandos com o componente curricular Prática de Ecologia, geralmente, é a de desenvolver uma extensão dos componentes Ecologia Geral e Biologia da Conservação, quase no modelo do bacharelado, com estudos sobre as interações entre as espécies não humanas, suas populações e comunidades e o meio, biomas e ecossistemas, preservação e conservação etc. Dessa forma, é comum que esperem abordar o ensino desta área pautada no tipo ecológico que transita entre o que se designa perspectivas da ecologia radical e moderada, em que o humano, ainda, é compreendido fora da ecologia ou unicamente fator de sua perturbação (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
). Quando é ponderada a ação antrópica no ambiente, o entendimento costuma se embasar na moderação econômica como interpretação reducionista da sustentabilidade. Essas observações fazemos a partir da experiência prática da sala de aula, o que nos leva a investir em vários momentos pedagógicos para pactuar modos e atividades de ensino e aprendizagem diferenciados.
Apesar das dificuldades iniciais costumeiras, o desenvolvimento da Prática de Ecologia costuma obter engajamento dos licenciandos, especialmente por meio da escrita das crônicas. No caso em questão, foram produzidas 34 crônicas. Como anteriormente descrito, utilizamos como método de análise a elaboração de esquemas conceituais para identificar os conceitos e os termos relacionados e apontar as influências paradigmáticas, permitindo-nos classificá-los conforme os paradigmas científicos cartesiano e para a perspectiva paradigmática sistêmico-complexa.
Ao confrontarmos o conjunto dos esquemas conceituais, identificamos apenas 3 (três) deles associados à concepção cartesiana, por apresentarem relações com até 5 variáveis conceituais; e 31 (trinta e um) apresentaram relações com mais de 5 variáveis conceituais, coadunando-se, portanto, à concepção paradigmática sistêmico-complexa. A observação de relações reducionistas é fácil de ser percebida por que se limitam a descrever um encadeamento entre variáveis que refletem a relação de causa e efeito.
Além disso, poucas variáveis ou conceitos são considerados na articulação conceitual, geralmente são construídos a partir de uma linha de raciocínio que vincula conceitos primários em ordem de causa e efeito e sequência reducionista. Nesses casos, variáveis ou conceitos que se relacionam com essa linha primária são desconsideradas, limitando a construção de significados. Percebemos que crônicas com mais de cinco variáveis conceituais consideravam um ou mais conceitos secundários, promovendo uma construção de significados em perspectiva sistêmico-complexa. No total, percebemos 85 (oitenta e cinco) variáveis conceituais, sendo que apenas 69 (81% do total) delas apresentaram relações de implicação estatística.
Trabalhos que integram a ASI para a compreensão de influências paradigmáticas, filosóficas e culturais na construção de significados e conceitos já foram realizados. Estes estudos indicaram o potencial da ASI como método estatístico aplicado às perspectivas metodológicas mistas. Constituem exemplos de estudos dessa natureza o trabalho de Fazio e Spagnolo (2008FAZIO, Claudio; SPAGNOLO, Filippo. Conceptions on modeling processes in Italian high-school prospective mathematics and physics teachers. South African Journal of Education, v. 28, n. 4, p. 469-488, 2008. Disponível em:Disponível em:http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-01002008000400002 Acesso em: 28/01/2023.
http://www.scielo.org.za/scielo.php?scri...
), que investigaram a influência filósofo-metodológicas (construtivismo, aristotélico-galileu, platonismo etc.) de estudantes de graduação do curso de Professores da Educação Secundária da universidade de Palermo, na Itália, que almejavam atuar como professores de matemática e física.
Outro exemplo foram as estratégias de aprendizagem de matemática utilizadas por estudantes chineses e italianos pesquisados por Di Paola e Spagnolo (2009DI PAOLA, Benedetto; SPAGNOLO, Filippo. Argumentation and proving in multicultural classes: a didactical experience with Chinese and Italian students. Journal of Mathematics Education, v. 2, n. 1, p. 1-4, 2009. Disponível em:Disponível em:https://educationforatoz.com/images/_1_Benedetto_Di_final.pdf Acesso em: 28/01/2023.
https://educationforatoz.com/images/_1_B...
), onde a utilização da ASI permitiu analisar a forma de pensar e o comportamento dos estudantes. Mais recentemente, foi vista a influência das perspectivas paradigmáticas de estudantes do Ensino Médio na região do semiárido brasileiro sobre a construção de conceitos acerca do bioma caatinga (SANTOS; SANTOS DE AQUINO; RAMOS, 2021SANTOS, Patrícia Janiely dos; SANTOS DE AQUINO, Rafael; RAMOS, Aretuza Bezerra Brito. Uma análise paradigmática dos conhecimentos estudantis sobre o bioma Caatinga no ensino médio: implicações da realidade. International Journal Education and Training - PDVL, v. 4, p. 108-126, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3>
https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3...
).
O grafo implicativo geral (75% de nível de implicação) está apresentado na Figura 3. Ressaltamos que a sua ilegibilidade se deve ao seu tamanho, resultado da complexidade das relações conceituais estabelecidas, o que justifica sua inserção neste artigo. Contudo, para dar legibilidade aos resultados encontrados ao longo da exposição, faremos uso de recortes, sempre identificados no interior do grafo implicativo geral.
No grafo implicativo, centramos a observação na rede formada pela conexão de 69 variáveis conceituais. Cada linha inicia em uma variável e termina noutra, sempre indicada pelo sentido de uma flecha terminal. Essa representação significa que determinada variável A implica em outra(s) variável(is) B (ou C, D etc.). Esse grafo implicativo será analisado a partir de recortes, nas figuras seguintes.
Sobre os temas tratados, 34% corresponderam à poluição marinha, trazendo, principalmente, o caso do desastre petrolífero nas praias do Nordeste brasileiro8 8 O desastre por petróleo no litoral pernambucano e de outros estados do Nordeste gerou comoção e mobilização social em ações voluntária de limpeza das praias. Algumas das consequências podem ser vistas em Araújo, Ramalho e Melo (2020). e da poluição por plásticos. Outras temáticas foram identificadas, como poluição urbana, crescimento urbano desordenado, desmatamento, enchentes, adaptação de animais silvestres à vida urbana, impacto ambiental causado por tráfego rodoviário devido ao atropelamento de espécies nativas dentre outros.
O grafo também pode ser compreendido como uma rede complexa formada por 69 variáveis conceituais e revela uma representação sistêmica e/ou complexa sobre a temática Ecologia, que foi tratada no conjunto das crônicas ambientais. Cada texto tratou de temas independentes relacionados à temática escolhidos pelos alunos e alunas. É relevante destacar que, mesmo quando a crônica tratou do mesmo assunto ecológico, como foi o caso da ecologia marinha, a construção e os conceitos utilizados não foram exatamente os mesmos. Isso materializa a complexidade existente sobre o conteúdo de Ecologia, tendo amplas possibilidades de relações.
Para melhor compreensão deste grafo, faremos sua leitura e interpretação em partes, começando pela Figura 4, que trata do problema do lixo, e suas consequências são relacionadas a outras variáveis vinculadas às questões, como política pública socioambiental e educação.
Visão parcial do grafo implicativo das variáveis conceituais relacionadas às chuvas e enchentes
É possível perceber que pensar em efeitos da chuva (V29-Chuva) ou em enchentes (V36-Enchente) implicou em pensar na ocupação do espaço (V23-Ocupação), relacionando os efeitos das chuvas e enchentes (como um efeito pluviométrico) com a ocupação desordenada dos grandes centros urbanos. A compreensão das condições de ocupação do espaço pelos seres humanos volta à cena nas temáticas dos lixões, coleta de lixo e limpeza urbana. A implicação dessas variáveis mostra certa reflexão articulada dos fenômenos naturais (chuva e seus efeitos, como as enchentes) com fatores antrópicos, como poluição (tratamento do lixo e ocupação desordenada).
Na Figura 5 podemos verificar que o problema do lixo e suas consequências são relacionados a outras variáveis vinculadas às questões, como política pública socioambiental e educação, mesma vertente da Figura 4.
Visão parcial do grafo implicativo das relações conceituais referentes às temáticas lixo, políticas públicas e educação
A coleta de lixo (V60-Coleta de Lixo) implica em articular a problemática do lixo (do plástico; V10-Plástico), da poluição dos rios, e de variáveis vinculadas com as políticas públicas (V39-Políticas Públicas) nas áreas socioambiental (V81-Socioambiental), de saúde (não visível na figura 5) e de educação (V37-Educação).
Em paralelo, pensar sobre a problemática do plástico implica relacionar essa temática aos descartáveis e aos esgotos (o canal do Arruda em Recife/PE - um riacho que foi transformado em esgoto -, tendo sido citado em duas crônicas). Além disso, há menção sobre a educação e políticas públicas como saídas para solucionar o problema.
Sobre o aquecimento global, quando abordado, apresentou implicação com o consumo de produtos descartáveis, que, por sua vez, implicou com a temática da poluição no ambiente, consequentemente em desequilíbrio ambiental (relacionado diretamente com os danos ao ecossistema). E o microplástico implica na compreensão do lixo descartável (relações não visíveis totalmente na figura 4 e impossíveis de serem representadas no espaço deste trabalho, visto que atravessam o grafo em sua totalidade).
Na Figura 6, visualizamos uma área de relações implicativas que retrata como as ciências humanas (V49-Cien_Hum) são compreendidas pelos licenciandos ao pensar a ecologia. A variável (V49_Cienc_Hum) foi identificada em crônicas que explicitavam diretamente as ciências humanas, relacionando esse campo com a conservação das matas (V55-Mata). Pensar sobre a sustentabilidade (V46-Sustent) implicou na reflexão sobre a presença de pássaros em sua diversidade (V44-Passaros) e na relação com o hábito consumista da sociedade moderna (V35_Consumo). Assim como as ciências humanas, a ecologia humana (V65-Eco_Hum) foi relacionada à presença e diversidade de pássaros (V44-Passaros).
Tais relações evidenciam quão superficial é a compreensão da importância da área de humanidades em cursos de Ciências Biológicas para os estudos de temáticas ecológicas, embora as ciências humanas sejam vez e outra citadas. Isso parece decorrer do fato de que, para muitos, o componente Prática de Ecologia está associado à ecologia científica tradicional, podendo, nessa acepção, prescindir da complexidade da relação humano-ambiente-sociedade9 9 Sobre a importância e papel estratégico das humanidades para o desenvolvimento nacional sob diversas abordagens, inclusive, ambiental, sugere-se consultar o Relatório do Diagnóstico das ciências humanas, sociais aplicadas, linguística, letras e artes (CHSSALLA) no Brasil (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2019). .
Visão parcial do grafo implicativo das variáveis conceituais referentes às ciências humanas
Em certo momento, percebemos que discussões envolvendo o tema de políticas sociais soou estranho para uma parte dos licenciandos. Por exemplo, o lixo enquanto fator impactante no ambiente foi facilmente identificado e discutido em diversas produções textuais, mas a relação das causas vinculadas ao consumo humano, não foi efetiva, pois resumiu-se às relações causais diretas ao meio ambiente, características do senso comum. Esse reducionismo é uma das características do paradigma cartesiano, e é facilmente identificado nas produções dos alunos, evidenciando que os temas lixo e consumismo (essa relação será apresentada a seguir), apesar de serem reconhecidos como problemáticas ambientais, ainda são percebidos de forma superficial quando se tenta refletir sobre as origens dessas questões.
Nessas relações, há uma subtração dos aspectos econômicos e sociais. Como as concepções acerca da problemática ecológica do lixo estiveram limitadas à causalidade da lógica cartesiana, não se refletiu sobre o papel das ciências humanas relacionadas à ecologia, colocando essas relações na perspectiva de uma ecologia radical (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
).
Na tentativa de discutir as relações ecológicas do lixo e do consumismo, os estudantes acabaram por não considerar aspectos que contribuem com o impacto ambiental causado pelo lixo e que estão situados nas ciências humanas e sociais. Segundo Silva et al. (2015SILVA, Dutra da; CASTRO, Alexandre Augusto Bezerra da Cunha; SILVA, Brunielly de Almeida; SILVEIRA, José Augusto Ribeiro da; SILVA, Geovany Jessé Alexandre da. Crescimento da mancha urbana na cidade de João Pessoa, PB. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, v. 22, n. 30, 2015. DOI: https://doi.org/10.5752/P.2316-1752.2015v22n30p64
https://doi.org/10.5752/P.2316-1752.2015...
), os impactos ecológicos e os desequilíbrios sobre os ciclos biogeoquímicos são decorrentes de decisões políticas e econômicas, e a solução de tais problemas exige mudanças nas estruturas de poder e de produção, e não medidas superficiais e paliativas sobre os seus efeitos.
Já Bolzani e Colombo (2019BOLZANI, Bruna Medeiros; COLOMBO, Silvana. O paradigma sistêmico na perspectiva do direito ambiental. Revista Jurídica Direito e Cidadania na Sociedade, v. 3, n. 1, p. 64-77, 2019. Disponível em: Disponível em: https://revistas.fw.uri.br/index.php/rev_jur_direitoecidadania/article/view/3440/2840 Acesso em: 28/01/2023.
https://revistas.fw.uri.br/index.php/rev...
) vinculam a cultura antropocêntrica como legitimadora de arquétipos de dominação, submissão e exploração da Natureza, tanto quanto rompeu com a metafísica ancestral que era presente nas relações com o meio ambiente natural. Explicar sobre a produção de lixo e seus impactos sem considerar as relações humanas e sociais que dirigem essa relação ecológica entre seres humanos e a Natureza reduz a ecologia a uma perspectiva alheia às práticas humanas, excluindo o ser humano da ecologia. A não consideração da complexidade humana nos impactos ambientais reforça a visão cartesiana e antropocêntrica, pois, assim como apontado por Bolzani e Colombo (2019), isso reforça a redução da ecologia à perspectiva antropocêntrica de que a Natureza, destinada a servir ao humano, deve ser compreendida isoladamente.
Quando as questões estão situadas no nível da ecologia radical (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
), onde é considerada uma natureza pura subtraída dos seres humanos, as compreensões sobre relações ecológicas se diversificam pela consideração das diversas relações entre espécies animais não humanas e vegetais e o meio ambiente natural. Em outras palavras, a reflexão sobre problemas ecológicos esteve reduzida à natureza, sendo consideradas relações diretas e indiretas que facilitam a construção de significados sistêmicos, mas sem incluir relações políticas e sociais pertencentes à dimensão antrópica.
E um exemplo disso é o que podemos extrair de um ramo do grafo, onde os insetos compõem um núcleo implicativo, e conseguimos perceber a influência do paradigma complexo de uma perspectiva ecológica radical: a escrita em torno de insetos (V63-Inseto) pautou reflexões sobre dois grupos entomológicos: os mosquitos (V69-Mosquito) e as pragas agrícolas (V64-Praga). As duas classificações de insetos estiveram relacionadas com o ambiente do semiárido nordestino (V54-Sertao), onde foram relacionadas aos desequilíbrios ecológicos, resultando na propagação de doenças e na contaminação de lençóis freáticos (V18-Lençol Freático) pelo uso de agrotóxicos.
Para compreensão da presença da relação implicativa de lençol freático com insetos, cabe relatar a conexão entre as variáveis V64-Praga e V18-Lençol Freático. Essa relação foi estabelecida entre controle das pragas agrícolas com agrotóxico, o que causa contaminação do lençol freático que, por sua vez, implica na relação com a variável V63-Inseto.
Assim, tratar sobre os insetos (V63-Inseto) implicou na relação com outros conceitos e termos correlatos, como seres humanos (V48-Ser Humano), pássaros (V44-Pássaros) e animais (V43-Animais), devido à composição da cadeia trófica: insetos hematófagos e vetores de doenças aos animais e humanos têm como forma de controle a predação das aves. E ainda implicam em outra vertente relacionada à agricultura, visto que os insetos estão relacionados com a compreensão da poluição dos solos (V17-Solo) e dos alimentos (V73-Alimentos), por requererem, na agricultura convencional, controle químico contaminante ao meio.
A compreensão do inseto-praga requereu, ainda, relações de implicação com o controle químico das pragas agrícolas (V34-Agricultura) e consequente contaminação dos solos (V17-Solo), lençóis freáticos (V18-Lençol Freático), ambiente rural (V51-Campo), problemas de saúde humana (V40-Saúde) e exemplo de desenvolvimento econômico (V85-Desenvolvimento Econômico), visto que, para a produção alimentar em larga escala, são requeridas formas de controle de pragas agrícolas.
Nesta descrição sobre os insetos, temos uma ótima visão sobre o pensamento complexo na construção das relações implicativas entre categorias vinculadas à ecologia. Situação semelhante ocorre quando o tema foi a ecologia marinha associada à discussão do caso da poluição por petróleo (V09-Petróleo) nas praias do Nordeste brasileiro em março de 2020.
Discutir sobre o petróleo implicou na abordagem sobre a poluição (V22-Poluição) relacionada à ecologia marinha (V05-Oceano, V03-Mar, V06-Praia, V08-Animais Marinhos) e ao desequilíbrio social (V78-Desequilíbro Social), por afetar a vida das pessoas, especificamente de comunidades ribeirinhas, como as de pescadores.
Dessa forma, destacamos que pensar sobre o oceano foi um exercício resultante das discussões sobre o petróleo nas praias, os impactos nos recifes de corais, nas condições da pesca e da diversidade de animais marinhos, bem como na contaminação das águas oceânicas por microplásticos (V12-Microplástico).
O termo desenvolvimento econômico (V85-Desenvolvimento Econômico) mostrou ter implicação na reflexão sobre o desequilíbrio social (V78-Desequilíbrio Social) e desequilíbrio ambiental (V25-Desequilíbrio Ambiental). À consideração das condições de morte generalizada da biota e dos seres humanos (V24-Morte), fatores como poluição, petróleo, riscos socioambientais, animais marinhos, corais e pesca implicaram em considerá-la como resultado das variáveis relacionadas.
Sobre as influências das concepções cartesianas (V83-Paradigma Tradicional) e sistêmico-complexas (V84-Paradigma Complexo), definidas pelo número de relações entre conceitos e termos correlatos, pudemos verificar que o paradigma cartesiano (V83-Paradigma Tradicional) implicou, exclusivamente, na temática do consumismo humano (V35-Consumo), conforme mostra a Figura 7.
Visão parcial do grafo implicativo das relações conceituais referentes ao paradigma cartesiano
Devido à natureza complexa deste estudo, vale explicitar novamente o que foi apresentado na metodologia, que o grafo implicativo foi obtido através da análise de todas as crônicas. Estas tiveram conjuntamente todos os conceitos identificados e foram classificadas conforme a natureza paradigmática. Dessa forma, no grande grafo implicativo, as variáveis correspondem aos conceitos e suas relações e a natureza paradigmática de cada crônica determinada pelo número de relações conceituais nos textos.
Em relação ao paradigma sistêmico-complexo, ocorre um fenômeno implicativo diferente daquele observado no tocante ao pensamento cartesiano. Enquanto o paradigma cartesiano apresentou uma implicação exclusiva referente ao consumismo e ao lixo, o paradigma sistêmico-complexo (V84-Paradigma Complexo) foi resultado de implicações de um conjunto maior e mais diversificado de conceitos, como pode ser verificado na Figura 8.
Visão parcial do grafo implicativo das relações conceituais referentes ao paradigma sistêmico-complexa
As reflexões sobre conservacionismo (V47-Conservacionismo), desequilíbrio ambiental (V25-Desequílibrio Ambiental) e impacto ambiental (V45-Impacto) implicaram em relações do tipo sistêmico-complexas (V84-Paradigma Complexo). Isso pode ser justificado pela natureza complexa da ecologia quando aborda questões ambientais, exigindo um pensamento holístico vinculado às relações ecológicas que exigem a conservação ambiental, ou a compreensão dos desequilíbrios ambientais resultados de fatores impactantes ao meio ambiente.
Na Figura 7, pode-se verificar que, apesar da limitação visual, os conceitos e termos correlatos estão conectados por diversos vetores que partem deles ou chegam de outros lugares. Por exemplo, os seis vetores que chegam à variável ecossistema (V62_Ecossist) partem de conceitos e termos distintos, como poluição pertencente a Bioma Marinho, Mata Atlântica, Caatinga, solos, animais, ação antrópica, entre outros. Isso significa dizer que, para abordar o conceito de ecossistema, requer uma articulação maior de conceitos ou termos diferentes.
A utilização do quadro da ASI para investigação de processos cognitivos, decisões científicas, e bases filosófico-científicas estruturantes do pensamento já foram investigadas por pesquisadores como Acioly-Régnier e Régnier (2005), Fazio e Spagnolo (2008FAZIO, Claudio; SPAGNOLO, Filippo. Conceptions on modeling processes in Italian high-school prospective mathematics and physics teachers. South African Journal of Education, v. 28, n. 4, p. 469-488, 2008. Disponível em:Disponível em:http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-01002008000400002 Acesso em: 28/01/2023.
http://www.scielo.org.za/scielo.php?scri...
), Di Paola e Spagnolo (2009DI PAOLA, Benedetto; SPAGNOLO, Filippo. Argumentation and proving in multicultural classes: a didactical experience with Chinese and Italian students. Journal of Mathematics Education, v. 2, n. 1, p. 1-4, 2009. Disponível em:Disponível em:https://educationforatoz.com/images/_1_Benedetto_Di_final.pdf Acesso em: 28/01/2023.
https://educationforatoz.com/images/_1_B...
), Pérez-Caraballo, Acioly-Régnier e Régnier (2012PÉREZ-CARABALLO, Gimena; ACIOLY-RÉGNIER, Nadja; RÉGNIER, Jean-Claude. L’analyse statistique implicative et son utilisation en sciences humaines : apports à la recherche en Psychologie Interculturelle. VI Colloque International A.S.I. Analyse Statistique Implicative, Caen, France, p. 219-243, Nov. 2012. http://sites.univ-lyon2.fr/asi/6/?page=15
http://sites.univ-lyon2.fr/asi/6/?page=1...
), Santos, Santos de Aquino e Ramos (2021SANTOS, Patrícia Janiely dos; SANTOS DE AQUINO, Rafael; RAMOS, Aretuza Bezerra Brito. Uma análise paradigmática dos conhecimentos estudantis sobre o bioma Caatinga no ensino médio: implicações da realidade. International Journal Education and Training - PDVL, v. 4, p. 108-126, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3>
https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3...
) e Santos de Aquino (2022SANTOS DE AQUINO, Rafael. Ensino de ciências em cultura cruzada: a formação de conceitos em sala de aula multicultural em Salgueiro, Pernambuco, Brasil. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências). Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. 361 p.http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8708
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/han...
), dos quais apenas os dois últimos trabalhos relacionam a análise do pensamento com as influências dos paradigmas científicos.
Acioly-Régnier e Régnier (2005ACIOLY-RÉGNIER, Nadja; RÉGNIER, Jean-Claude. Repérage d’obstacles didactiques et socioculturels au travers de l’ASI des données issues d’un questionnaire. Troisième Rencontre Internationale A.S.I., Analyse Statistique Implicative, Palerme, Italie, p. 63-87, Oct. 2005. https://shs.hal.science/halshs-00389997/preview/ASI3_2005_Regnier.pdf
https://shs.hal.science/halshs-00389997/...
) destacam a influência que o quadro da ASI apresentou na identificação do conhecimento cultural extraescolar e escolar que ocorriam ao mesmo tempo, no processo de interação de diferentes sistemas simbólicos, revelando contrastes entre os conceitos cotidianos (aqueles oriundos do conhecimento extraescolar) e os conceitos científicos (oriundos do contexto escolar).
Fazio e Spagnolo (2008FAZIO, Claudio; SPAGNOLO, Filippo. Conceptions on modeling processes in Italian high-school prospective mathematics and physics teachers. South African Journal of Education, v. 28, n. 4, p. 469-488, 2008. Disponível em:Disponível em:http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-01002008000400002 Acesso em: 28/01/2023.
http://www.scielo.org.za/scielo.php?scri...
) investigaram as linhas filosófico-metodológicas (construtivismo, aristotélico-galileu e plantonista) de estudantes de graduação do curso de Professores da Educação Secundária da Universidade de Palermo, Itália. Os autores perceberam que as bases construtivistas presentes no ensino secundário e universitário tendem a influenciar o perfil dos futuros professores de matemática, mesmo que eles estudem ou desenvolvam atividades em outras linhas filosófico-metodológicas.
Di Paola e Spagnolo (2009DI PAOLA, Benedetto; SPAGNOLO, Filippo. Argumentation and proving in multicultural classes: a didactical experience with Chinese and Italian students. Journal of Mathematics Education, v. 2, n. 1, p. 1-4, 2009. Disponível em:Disponível em:https://educationforatoz.com/images/_1_Benedetto_Di_final.pdf Acesso em: 28/01/2023.
https://educationforatoz.com/images/_1_B...
), por sua vez, avaliaram a forma de pensar de estudantes chineses e italianos durante a aprendizagem matemática, considerando características comportamentais e de estratégias na resolução de problemas matemáticos. Esse estudo, possibilitou a identificação de determinadas características e suas tendências conforme às respectivas culturas italiana e chinesa.
Pérez-Caraballo, Acioly-Régnier e Régnier (2012), em estudo da área da Psicologia com indivíduos de populações internacionais da fronteira Brasil e Uruguai, utilizaram o quadro da ASI para perceber e analisar a prevalência de identidades nacionais em detrimento das identidades de fronteira.
Santos, Santos de Aquino e Ramos (2021SANTOS, Patrícia Janiely dos; SANTOS DE AQUINO, Rafael; RAMOS, Aretuza Bezerra Brito. Uma análise paradigmática dos conhecimentos estudantis sobre o bioma Caatinga no ensino médio: implicações da realidade. International Journal Education and Training - PDVL, v. 4, p. 108-126, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3>
https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3...
), em um estudo que objetivou identificar a influência dos paradigmas científicos na compreensão do bioma Caatinga no ensino médio, verificaram que o paradigma científico tradicional constitui a base para a organização do pensamento dos estudantes do ensino médio, e que há indícios de ampliação das relações conceituais quando o conteúdo escolar é associado ao contexto de vida dos estudantes. Além disso, os autores destacaram a importância da Educação Ambiental para os propósitos de amenizar os efeitos da fragmentação do conhecimento no campo educacional.
O estudo de Santos, Santos de Aquino e Ramos (2021SANTOS, Patrícia Janiely dos; SANTOS DE AQUINO, Rafael; RAMOS, Aretuza Bezerra Brito. Uma análise paradigmática dos conhecimentos estudantis sobre o bioma Caatinga no ensino médio: implicações da realidade. International Journal Education and Training - PDVL, v. 4, p. 108-126, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3>
https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3...
) apresentam os efeitos da estruturação cartesiana no ensino médio que geram limitações à compreensão ecológica em uma perspectiva sistêmico-complexa. É uma representação da estruturação cartesiana da educação brasileira e que impacta a construção de significados em Ecologia. Embora, estes autores não tenham investigado metodologias de ensino, mas apenas a compreensão dos estudantes sobre o Bioma Caatinga enquanto conteúdo curricular do ensino médio, podemos inferir que isso reverbera em outros níveis de ensino, como o superior e contribui com resistências à novas metodologias didático-pedagógicas que visam superar paradigmas tradicionais referentes à prática docente, bem como na construção de significados da ecologia que exigem maior esforço cognitivo na articulação de conceitos de áreas tradicionalmente consideradas distintas e isoladas.
Santos de Aquino (2022SANTOS DE AQUINO, Rafael. Ensino de ciências em cultura cruzada: a formação de conceitos em sala de aula multicultural em Salgueiro, Pernambuco, Brasil. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências). Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. 361 p.http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8708
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/han...
), em sua tese de doutorado, verificou a influência dos paradigmas científicos cartesiano, sistêmico e complexo na aprendizagem de bioquímica, que foi vista através de uma análise de esquemas conceituais das produções multiletradas (desenhos, esquemas, textos ilustrados e poesias), em função da cultura dos estudantes (indígenas, quilombola, sertanejos e urbanos). O autor identificou, através da integração teórico-metodológica do quadro da ASI, que a cultura e os paradigmas científicos implicam em diferentes estruturações da forma de pensar e aprender e na materialização da aprendizagem.
Verificamos que, embora Acioly-Régnier e Régnier (2005), Fazio e Spagnolo (2008FAZIO, Claudio; SPAGNOLO, Filippo. Conceptions on modeling processes in Italian high-school prospective mathematics and physics teachers. South African Journal of Education, v. 28, n. 4, p. 469-488, 2008. Disponível em:Disponível em:http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-01002008000400002 Acesso em: 28/01/2023.
http://www.scielo.org.za/scielo.php?scri...
), Di Paola e Spagnolo (2009DI PAOLA, Benedetto; SPAGNOLO, Filippo. Argumentation and proving in multicultural classes: a didactical experience with Chinese and Italian students. Journal of Mathematics Education, v. 2, n. 1, p. 1-4, 2009. Disponível em:Disponível em:https://educationforatoz.com/images/_1_Benedetto_Di_final.pdf Acesso em: 28/01/2023.
https://educationforatoz.com/images/_1_B...
) e Pérez-Caraballo, Acioly-Régnier e Régnier (2012PÉREZ-CARABALLO, Gimena; ACIOLY-RÉGNIER, Nadja; RÉGNIER, Jean-Claude. L’analyse statistique implicative et son utilisation en sciences humaines : apports à la recherche en Psychologie Interculturelle. VI Colloque International A.S.I. Analyse Statistique Implicative, Caen, France, p. 219-243, Nov. 2012. http://sites.univ-lyon2.fr/asi/6/?page=15
http://sites.univ-lyon2.fr/asi/6/?page=1...
) não tenham considerado perspectivas paradigmáticas da ciência em seus estudos sobre a cognição, indiretamente as bases paradigmáticas podem ser inferidas e deduzidas no contexto das pesquisas. Os estudos de Santos, Santos de Aquino e Ramos (2021SANTOS, Patrícia Janiely dos; SANTOS DE AQUINO, Rafael; RAMOS, Aretuza Bezerra Brito. Uma análise paradigmática dos conhecimentos estudantis sobre o bioma Caatinga no ensino médio: implicações da realidade. International Journal Education and Training - PDVL, v. 4, p. 108-126, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3>
https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3...
) e de Santos de Aquino (2022SANTOS DE AQUINO, Rafael. Ensino de ciências em cultura cruzada: a formação de conceitos em sala de aula multicultural em Salgueiro, Pernambuco, Brasil. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências). Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. 361 p.http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8708
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/han...
) contribuem diretamente com a estruturação de uma nova perspectiva metodológica sobre o pensamento e as relações com as questões paradigmáticas da ciência, utilizando o quadro da ASI.
Em nosso estudo, verificamos que uma proposta curricular da disciplina de Prática de Ecologia no ensino superior favoreceu a construção de significados em uma perspectiva sistêmico-complexa e contribuiu com a diminuição das limitações paradigmáticas que reduzem a ecologia ao ambiente natural, incluindo as ciências humanas e sociais no processo de construção de significados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O percurso que nos trouxe até aqui nos ajuda a compreender um pouco mais sobre o desafio da construção de significados em ecologia na licenciatura em Ciências Biológicas, que acreditamos contribuir para ampliar a formação no sentido de um paradigma sistêmico-complexo ou, simplesmente, ecológico. Escrever crônicas, nesse processo, parece ter o sentido de uma oportunidade de estabelecer relações, não apenas entre a ecologia e as situações concretas e complexas da sociedade, mas também com as questões que tocam e sensibilizam os licenciandos enquanto autores da palavra.
No geral, pudemos observar que os textos produzidos apresentaram, na sua maioria, relações influenciadas pelo paradigma sistêmico-complexo. Esse fato parece ser devedor, de certa forma, da opção didático-pedagógica e metodológica presente no componente curricular, visto que a atividade de escrever crônicas, enquanto gênero literário híbrido, produz um espaço de liberdade para o autor estabelecer relações entre diferentes conceitos e temáticas ecológicas.
Por outro lado, o caminho também nos revelou existir tendência dos alunos a recorrerem a um pensamento de matriz cartesiana em certos temas, associando-os, principalmente, às perspectivas da ecologia radical e moderada (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
https://doi.org/10.1590/S0102-6992200900...
). Embora essa seja uma interpretação plausível em face do contexto de um curso de Ciências Biológicas, ainda assim, é um resultado que precisa ser pontuado e merece ser questionado em face da formação ecológica desejada no âmbito da formação inicial de professores.
Quanto ao traçado metodológico e à escolha por uma abordagem qualiquantitativa, que combinou a elaboração de esquemas conceituais à Análise Estatística Implicativa (ASI), avaliamos que trouxeram contribuições relevantes à interpretação dos dados, conferindo uma materialidade valiosa para a análise da escrita individual e em seu conjunto, fazendo apoiar-se mutuamente procedimentos basicamente qualitativos e quantitativos como complementos analíticos e interpretativos. Além disso, modelos analíticos mistos em que se emprega métodos qualitativos associados aos quantitativos, e vice-versa, aproximam-se também da abordagem paradigmática de ciência em uma perspectiva complexa, o que aprendemos com Morin (2002MORIN, Edgar. A religação dos saberes. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.), que é importante para a construção de conhecimentos pautada na complexidade.
Percebemos que este trabalho contribui com a área de pesquisa em ensino das ciências e do ensino de ecologia, ao menos, pelos seguintes motivos:
-
) conjugou abordagens qualitativa e quantitativa da pesquisa, conferindo à análise uma natureza paradigmática complexa. De fato, a compreensão do todo a partir da interpretação integrada de suas partes podem compor os estudos da área, evitando recorrer-se a modelos reducionistas que costumamos criticar;
-
) a investigação da construção de conceitos em ecologia contribui com a reflexão sobre a necessidade de uma prática de formação inicial de professores mais próxima da realidade e atenta às demandas atuais, visto que o propósito de ensinar não é, nem está alheio, ao propósito de aprender e de fazê-lo de maneira complexa desvencilhando as amarras cartesianas;
-
) a elaboração de esquemas conceituais mostrou ser adequada aos fins investigativos deste trabalho, e seu emprego associado à Análise Estatística Implicativa (ASI) potencializou a identificação da construção de significados sob vieses paradigmáticos; e
-
) determinados conceitos e temáticas ecológicas sofrem influências paradigmáticas de maneira distinta, e isso é verificado na forma como os licenciandos estabeleceram mais ou menos relações conceituais de acordo com as questões abordadas.
Por fim, recomendamos que a investigação da relação dos paradigmas científicos e os processos cognitivos possa ser aprofundada e desenvolvida em mais estudos que atendam às seguintes perspectivas:
-
diferentes níveis da educação (no ensino básico, superior e pós-graduação);
-
na formação de professores;
-
no ensino de ciências; e
-
em perspectivas metodológicas inovadoras com o desenvolvimento e popularização da ASI na pesquisa em educação e ensino das ciências.
REFERÊNCIAS
- ACIOLY-RÉGNIER, Nadja; RÉGNIER, Jean-Claude. Repérage d’obstacles didactiques et socioculturels au travers de l’ASI des données issues d’un questionnaire. Troisième Rencontre Internationale A.S.I., Analyse Statistique Implicative, Palerme, Italie, p. 63-87, Oct. 2005. https://shs.hal.science/halshs-00389997/preview/ASI3_2005_Regnier.pdf
» https://shs.hal.science/halshs-00389997/preview/ASI3_2005_Regnier.pdf - ARAÚJO, Maria Elisabeth de; RAMALHO, Cristiano Wellington Noberto; MELO, Paulo Wanderley de. Pescadores artesanais, consumidores e meio ambiente: consequências imediatas do vazamento de petróleo no Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil.Cadernos de Saúde Pública, v. 36, 2020. https://doi.org/10.1590/0102-311X00230319
» https://doi.org/10.1590/0102-311X00230319 - ÁVILA-PIRES, Fernando Dias. Fundamentos históricos da ecologia Ribeirão Preto: Holos Editora, 1999.
- BEHRENS, Marilda Aparecida; RODRIGUES, Daniela Gureski. Paradigma emergente: um novo desafio. Pedagogia em Ação, v. 6, n. 1, p. 51-64, mar. 2015. Disponível em: Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/9233/7685 Acesso em: 03/04/2022.
» http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/9233/7685 - BOLZANI, Bruna Medeiros; COLOMBO, Silvana. O paradigma sistêmico na perspectiva do direito ambiental. Revista Jurídica Direito e Cidadania na Sociedade, v. 3, n. 1, p. 64-77, 2019. Disponível em: Disponível em: https://revistas.fw.uri.br/index.php/rev_jur_direitoecidadania/article/view/3440/2840 Acesso em: 28/01/2023.
» https://revistas.fw.uri.br/index.php/rev_jur_direitoecidadania/article/view/3440/2840 - BOMFIM, Vanessa L.; KAVASAKI, Clarice S. As “Ecologias” Presentes nas Pesquisas em Educação Ambiental. In: VIII EPEA - Encontro Pesquisa em Educação Ambiental, 2015, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: EPEA, Disponível em: Disponível em: http://epea.tmp.br/epea2015_anais/pdfs/plenary/176.pdf Acesso em: 23/11/22.
» http://epea.tmp.br/epea2015_anais/pdfs/plenary/176.pdf - BRASIL. Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, p. 31, 09 abr. 2002.
- CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos São Paulo: Cultrix, 2006.
- CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). Diagnóstico da situação atual das CHSSALLA brasileiras Projeto: Diagnóstico da situação atual nas CHSSA brasileiras. Brasília, DF: 2019. Disponível em:https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/4104_Diagnostico+CHSSALLA+final+vs+12.03.20_COMPLETO+2.0.pdf Acesso em: 24/01/2023.
» https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/4104_Diagnostico+CHSSALLA+final+vs+12.03.20_COMPLETO+2.0.pdf - CHIC - Classificação Hierárquica Implicativa e Coesitiva Versão 7.0, Copyright. Método de Análise implicativa de dados de Régis Gras: École Polytechnique - Université de Nantes. Colaboração: Saddo Ag Almouloud, Marc Bailleul, Anleine Bodin, Annie Larher, Harrison Ratsimba-Rajohm, Jean-Claude Régnier, André Totohasina. Versão Windows: Raphaël Couturier, 2014.
- DANOWSKI, Déborah. O hiper-realismo das mudanças climáticas e as várias faces do negacionismo.Sopro, v. 70, p. 2-11, 2012.
- DI PAOLA, Benedetto; SPAGNOLO, Filippo. Argumentation and proving in multicultural classes: a didactical experience with Chinese and Italian students. Journal of Mathematics Education, v. 2, n. 1, p. 1-4, 2009. Disponível em:Disponível em:https://educationforatoz.com/images/_1_Benedetto_Di_final.pdf Acesso em: 28/01/2023.
» https://educationforatoz.com/images/_1_Benedetto_Di_final.pdf - FAZIO, Claudio; SPAGNOLO, Filippo. Conceptions on modeling processes in Italian high-school prospective mathematics and physics teachers. South African Journal of Education, v. 28, n. 4, p. 469-488, 2008. Disponível em:Disponível em:http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-01002008000400002 Acesso em: 28/01/2023.
» http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-01002008000400002 - FERRÃO, Naíma Soltau; SANTAROSA, Maria Cecília P. Mapas conceituais para a compreensão de textos no âmbito de um curso de pós-graduação. Revista Eletrônica de Educação Matemática - REVEMAT, v. 15, n. 1, p. 01-21, 2020. https://doi.org/10.5007/1981-1322.2020.e67861
» https://doi.org/10.5007/1981-1322.2020.e67861 - GONZÁLEZ, Enrique L. Las vertientes de la complejidad: pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas Guadalajara, México: ITESO. 2018. 220 p.
- GRAS, Régis; RÉGNIER, Jean-Claude. Origem e desenvolvimento da Análise Estatística Implicativa (ASI). In: VALENTE, José A.; ALMEIDA, Maria Elizabeth B. (Orgs.). Uso do CHIC na formação de educadores: à guisa da apresentação dos fundamentos e das pesquisas em foco 1ª ed.Rio de Janeiro: letra Capital, 2015, p. 22-45.
- JACOBI, Pedro Roberto. Meio ambiente e sustentabilidade O município no século XXI: cenários e perspectivas. São Paulo: CEPAM, 1999. Disponível em:Disponível em:https://michelonengenharia.com.br/downloads/Sutentabilidade.pdf Acesso em: 20/01/2023.
» https://michelonengenharia.com.br/downloads/Sutentabilidade.pdf - JATOBÁ, Sérgio Ulisses Silva; CIDADE, Lúcia Cony; VARGAS, Glória Maria. Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade e Estado, v. 24, nº. 1, p. 47-87, 2009. https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004
» https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000100004 - KRIZEK, João Pedro Ocanha; MULLER, Marcus Vinícius D. Vieira. Desafios e potencialidades no ensino de ecologia na educação básica.Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio,[S. l.], v. 14, n. 1, p. 700-720, 2021. https://doi.org/10.46667/renbio.v14i1.401
» https://doi.org/10.46667/renbio.v14i1.401 - KUHN, Thomas Samuel. A estrutura das revoluções científicas Tradução de Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- LAGO, Antônio; PÁDUA, José Augusto. O que é Ecologia São Paulo: Brasiliense, 1985. 108p
- LEFF, Enrique. Complexidade, interdisciplinaridade e saber ambiental. Olhar de Professor, v. 14, nº. 2, p. 309-335, 2011. https://doi.org/10.5212/OlharProfr.v.14i2.0007
» https://doi.org/10.5212/OlharProfr.v.14i2.0007 - MACÊDO, Patrícia Barros de. Significados sistêmico-complexos mediados pela linguagem audiovisual: investigando os fatores bio-sócio-histórico-culturais que permeiam as interações entre “ser humano-ambiente-teia alimentar” 2019. 286 f. Tese (Doutorado em Ensino das Ciências e Matemática) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Pernambuco, 2019. Disponível em: Disponível em: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/8326 Acesso em: 23/10/21.
» http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/8326 - MANZOCHI, Lúcia Helena. Participação do ensino de Ecologia em uma educação ambiental voltada para a formação da cidadania: a situação das escolas de 2º grau no município de Campinas. 1994. 544 f. 2v. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- MARIOTTI, Humberto. As paixões do ego: complexidade, política e solidariedade São Paulo: Palas Athena, 2000.
- MINAYO, Maria Cecilia de S.; SANCHES, Odécio. Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade?Cadernos de saúde pública, v. 9, p. 237-248, 1993. Disponível em:Disponível em:https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csp/v9n3/02.pdf Acesso em: 23/01/2023.
» https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csp/v9n3/02.pdf - MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro 2ª ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2000.
- MORIN, Edgar. A religação dos saberes 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
- MOTOKANE, Marcelo Tadeu. Sequências didáticas investigativas e argumentação no ensino de ecologia. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v.17 n. especial, p. 115-137, 2015. https://doi.org/10.1590/1983-2117201517s07
» https://doi.org/10.1590/1983-2117201517s07 - MOUL, Renato Araújo T. de M; SÁ, Risonilta Germano B.; CARNEIRO-LEÃO, Ana Maria dos Anjos. Influências das concepções paradigmáticas de ciência sobre a prática pedagógica de futuros licenciados em biologia. Vidya, v. 38, n. 2, p. 181-194, 2018.
- MÜLLER, Angela Denise E. Esquemas conceituais como recurso de ensino, aprendizagem e avaliação na eletrodinâmica em nível médio Dissertação (Mestrado em Ensino de Física). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.
- ORIS, Michel; RITSCHARD, Gilbert; PERROUX, Olivier . Le pluralisme religieux croissant à Genève dans la première moitié du xixe siècle: Une exploration des dynamiques sous-jacentes. In: F. Amsler & S. Scholl(Ed.).L'apprentissage du pluralisme religieux. Le cas genevois au XIXe siècle Genève: Labor et Fides, 2013.
- PÉREZ-CARABALLO, Gimena; ACIOLY-RÉGNIER, Nadja; RÉGNIER, Jean-Claude. L’analyse statistique implicative et son utilisation en sciences humaines : apports à la recherche en Psychologie Interculturelle. VI Colloque International A.S.I. Analyse Statistique Implicative, Caen, France, p. 219-243, Nov. 2012. http://sites.univ-lyon2.fr/asi/6/?page=15
» http://sites.univ-lyon2.fr/asi/6/?page=15 - RÉGNIER, Jean-Claude; ANDRADE, Vladimir Lira V. X. de. A Análise Estatística Implicativa e Análise de Similaridade. In: RÉGNIER, Jean-Claude; ANDRADE, Vladimir Lira V. X. (dir.). Análise estatística implicativa e análise de similaridade no quadro teórico e metodológico das pesquisas em ensino de ciências e matemática com a utilização do software CHIC p. 41-840. Recife: EDUFRPE, 2020. Disponível em:Disponível em:http://editora.ufrpe.br/ASI Acesso em: 07/02/2022.
» http://editora.ufrpe.br/ASI - SANTINI, Rose Marie; BARROS, Carlos Eduardo. Negacionismo climático e desinformação online: uma revisão de escopo.Liinc em Revista, v. 18, n. 1, p. e5948-e5948, 2022.
- SANTOS, Patrícia Janiely dos; SANTOS DE AQUINO, Rafael; RAMOS, Aretuza Bezerra Brito. Uma análise paradigmática dos conhecimentos estudantis sobre o bioma Caatinga no ensino médio: implicações da realidade. International Journal Education and Training - PDVL, v. 4, p. 108-126, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3>
» https://doi.org/10.31692/2595-2498.v4i3 - SANTOS DE AQUINO, Rafael. Ensino de ciências em cultura cruzada: a formação de conceitos em sala de aula multicultural em Salgueiro, Pernambuco, Brasil. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências). Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. 361 p.http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8708
» http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8708 - SILVA, Dutra da; CASTRO, Alexandre Augusto Bezerra da Cunha; SILVA, Brunielly de Almeida; SILVEIRA, José Augusto Ribeiro da; SILVA, Geovany Jessé Alexandre da. Crescimento da mancha urbana na cidade de João Pessoa, PB. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, v. 22, n. 30, 2015. DOI: https://doi.org/10.5752/P.2316-1752.2015v22n30p64
» https://doi.org/10.5752/P.2316-1752.2015v22n30p64 - SIQUEIRA, Jessiklécia J. O movimento cartonero no desenvolvimento de aprendizagens e práticas socioambientais. In: Anais IVCONAPESC... Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em:<Disponível em:https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/57040 >. Acesso em: 20/01/2023.
» https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/57040 - SNOW, Charles Percy.As duas culturas São Paulo: Edusp, 1997.
- VIEIRA, Paulo Freire; WEBER, Jacques. (Org). Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento São Paulo: Cortez, 1997.
-
1
Artigo publicado com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq/Brasil para os serviços de edição, diagramação e conversão de XML.
-
2
No Brasil, a formação de professores é realizada através de cursos de graduação específicos a uma área propedêutica (áreas vinculadas às formações gerais do Ensino Básico, como Letras, História, Ciências, Biologia, Química, Matemática, dentre outras), chamados de Licenciaturas. Os cursos, nessas áreas do saber, são de dois tipos: Licenciatura, destinada à formação de professores, e Bacharelado, destinado às atividades generalistas não vinculadas ao ensino. Assim, podemos falar de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas para formação do professor de Biologia ou em um curso de Bacharelado em Ciências Biológicas para a formação do profissional Biólogo.
-
3
A prática como componente curricular está prevista na Resolução CNE/CP (Comissão Nacional de Educação/Conselho Pleno) n. 2, de 19 de fevereiro de 2002, que instituiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior; e na Resolução CNE/CP n. 2, de 9 de junho de 2015, que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica.
-
4
A disciplina Prática de Ecologia foi instituída em 2007 e, até 2018, teve como pré-requisitos a Ecologia Geral e a Biologia da Conservação. Depois disso, por motivos administrativos, deixou de ter os pré-requisitos.
-
5
A produção de livros cartoneros na disciplina Prática de Ecologia é desenvolvida desde 2013. A proposta pedagógica se inspira no “movimento cartonero” (SIQUEIRA, 2019SIQUEIRA, Jessiklécia J. O movimento cartonero no desenvolvimento de aprendizagens e práticas socioambientais. In: Anais IVCONAPESC... Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em:<Disponível em:https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/57040 >. Acesso em: 20/01/2023.
https://www.editorarealize.com.br/artigo... ) e tem como princípios o aproveitamento de recursos, a escrita autoral, a relação entre a ciência e a arte e a cidadania socioambiental. Os participantes elaboram textos críticos e, coletivamente, editam um livro físico com capas artesanais feitas de papelão. Na universidade, além de um projeto de ensino, esse é também um projeto de extensão e pesquisa. -
6
CNS (Conselho Nacional de Saúde) é a organização brasileira responsável pela legislação da ética em pesquisa e pela aplicação das leis e normas através da apreciação ética em projetos de pesquisas científicas com seres humanos.
-
7
CEP (Comissão de Ética em Pesquisa) é uma organização local, instituída por comissão em cada uma das instituições de ensino superior, como universidades públicas federais, estaduais ou universidades privadas que atuam com pesquisa, bem como autarquias e fundações de pesquisa públicas ou privadas que atuam no Brasil. A CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) tem abrangência nacional, ambas comissões são instituídas sob as normas da CNS. O sistema CEP/CONEP é responsável pela execução da lei, realizando a apreciação da ética na pesquisa científica, onde a CEP compõe a apreciação inicial no âmbito local, ou seja, das instituições de pesquisa específicas (universidades, institutos federais, institutos de pesquisa), e a CONEP realiza a apreciação secundária em nível nacional. O sistema CEP/CONEP executa as atividades de apreciação da ética em projetos de pesquisa através da Plataforma Brasil, meio digital pelo qual se disponibilizam os projetos, os documentos comprobatórios e obrigatórios, além dos pareceres de apreciação ética emitidos e a comunicação entre membros das comissões e pesquisadores postulantes de projetos de pesquisa que tende a passar pela apreciação.
-
8
O desastre por petróleo no litoral pernambucano e de outros estados do Nordeste gerou comoção e mobilização social em ações voluntária de limpeza das praias. Algumas das consequências podem ser vistas em Araújo, Ramalho e Melo (2020ARAÚJO, Maria Elisabeth de; RAMALHO, Cristiano Wellington Noberto; MELO, Paulo Wanderley de. Pescadores artesanais, consumidores e meio ambiente: consequências imediatas do vazamento de petróleo no Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil.Cadernos de Saúde Pública, v. 36, 2020. https://doi.org/10.1590/0102-311X00230319
https://doi.org/10.1590/0102-311X0023031... ). -
9
Sobre a importância e papel estratégico das humanidades para o desenvolvimento nacional sob diversas abordagens, inclusive, ambiental, sugere-se consultar o Relatório do Diagnóstico das ciências humanas, sociais aplicadas, linguística, letras e artes (CHSSALLA) no Brasil (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2019CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). Diagnóstico da situação atual das CHSSALLA brasileiras. Projeto: Diagnóstico da situação atual nas CHSSA brasileiras. Brasília, DF: 2019. Disponível em:https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/4104_Diagnostico+CHSSALLA+final+vs+12.03.20_COMPLETO+2.0.pdf. Acesso em: 24/01/2023.
https://www.cgee.org.br/documents/10195/... ).
-
10
Conforme mencionado na metodologia, até cinco relações foram associadas ao paradigma cartesiano, a partir disso foram identificadas como influenciadas pela perspectiva paradigmática sistêmico-complexa.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Jun 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
29 Ago 2023 -
Aceito
09 Fev 2024
-
Este documento possui uma versão em preprint
10.1590/SciELOPreprints.5640
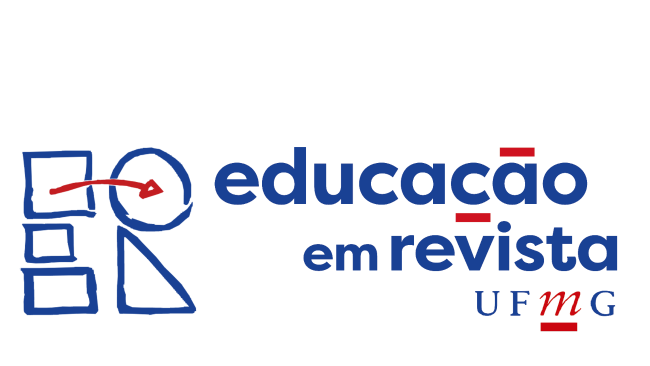









 Fonte: autoria própria.
Fonte: autoria própria.
 Fonte: Elaboração do primeiro autor.
Fonte: Elaboração do primeiro autor.
 Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 (
Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 ( Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 (
Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 ( Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 (
Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 ( Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 (
Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 ( Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 (
Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 ( Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 (
Fonte: Grafo obtido através do software CHIC v. 7.0 (