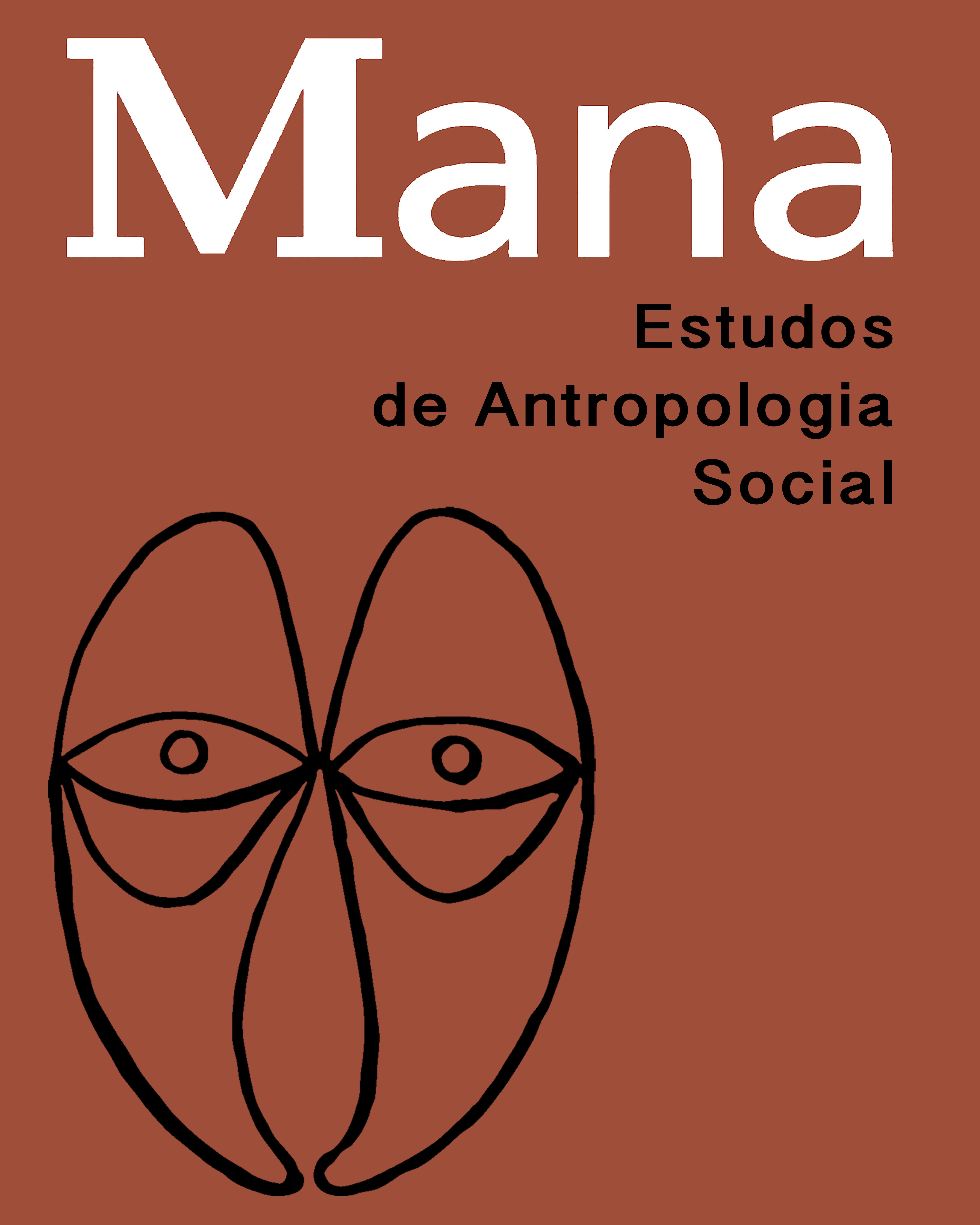ENTREVISTA
Os limites de nosso auto-retrato.
Antropologia urbana e globalização
Ulf Hannerz
Ulf Hannerz é Professor Titular do Instituto de Antropologia Social da Universidade de Estocolmo. Desde seu trabalho clássico acerca de um bairro negro em Washington - Soulside. Inquiries into Ghetto Culture and Community, de 1969 - até seu último livro sobre a vida transnacional - Transnational Connections. Culture, People, Places, de 1996 -, Hannerz tem sido um dos nomes mais influentes na antropologia urbana, teoria da cultura e nos debates contemporâneos acerca da globalização e das temáticas transnacionais. Atualmente Hannerz desenvolve uma pesquisa sobre jornalistas que trabalham como correspondentes internacionais.
Esta entrevista foi concedida a Fernando Rabossi no gabinete de trabalho de Hannerz, em 16 de abril de 1998.
Rabossi
O senhor tende a não ser considerado um antropólogo tradicional, provavelmente por não trabalhar com as chamadas sociedades "primitivas". Quais são, nesse sentido, os autores e as tendências intelectuais que mais o influenciaram?
Hannerz
Talvez eu seja um antropólogo mais tradicional do que se pensa. Eu me aproximei da antropologia devido a um interesse pela África que estava marcado por um interesse especial no que então se chamava de "mudança social". Na verdade, ainda estou particularmente interessado pela África, e isso, de vez em quando, vem à tona em meus trabalhos. De qualquer forma, quais teriam sido, então, os principais textos que me influenciaram? Isso certamente variou desde que comecei a estudar antropologia, em 1961. No começo, eu me impressionei muito com a antropologia social britânica, e, por volta do fim dos anos 60 e início dos 70, particularmente com a Escola de Manchester, Gluckman, Mitchell e outros. Eu gostava das noções de estrutura social, de morfologia social, da questão de como as sociedades se articulam, e meu interesse pelas redes de relações [networks] fazia parte desse sentimento.
Então, no começo dos anos 60, eu passei um período muito fértil nos Estados Unidos, como aluno de pós-graduação. Comecei ali a ampliar minhas leituras, estendendo-as a disciplinas vizinhas, especialmente à sociologia. Li bastante do interacionismo simbólico, quase tudo que Erving Goffman escreveu, além de outros. Devo mencionar também Clifford Geertz, que foi importante para minhas reflexões sobre cultura: eu apreciava seu estilo quase ensaístico; imagino que gostei de Robert Redfield pelas mesmas razões. Estou certo de que muitas outras coisas também me influenciaram, como fragmentos, pedaços, que eu dificilmente poderia identificar agora, mas que para mim se combinaram de uma maneira talvez um tanto idiossincrática.
Rabossi
Ao sugerir uma compreensão distributiva da cultura como estrutura de perspectivas, parece-me que o senhor tenta incorporar dois aspectos críticos de uma teoria da cultura: a relação entre cultura e estrutura social - com a ênfase na distribuição - e a relação entre cultura e atividade humana [agency] - com a ênfase nas perspectivas.
Hannerz
Bem, em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que penso em "perspectivas" como um conceito distributivo também, embora o interesse na atividade humana [agency] também esteja presente. Na verdade, meu interesse em um entendimento distributivo da cultura tem muito a ver com o que disse antes sobre o sentido de estrutura social que encontrei na antropologia social britânica. Mas isso tinha de ser combinado com uma visão da cultura como processo Devo mencionar uma influência em particular, mais uma vez fora da antropologia stricto sensu. Na mesma época em que estava envolvido com meu primeiro trabalho de campo, em Washington, li The Social Construction of Reality, de Peter Berger e Thomas Luckmann, e para mim foi importante tê-lo lido em um momento tão estratégico. É claro que minha perspectiva distributiva da cultura está relacionada, em termos gerais, com algum tipo de sociologia do conhecimento, já que o termo "perspectiva" emerge dessa tradição; mas a ênfase no caráter processual em particular deve-se a Berger e Luckmann. De maneira geral, meu interesse em perspectivas tem a ver com uma insatisfação com a tendência da antropologia clássica - que se estende até mesmo a Geertz - em homogeneizar as pessoas em termos culturais. E isso ainda que, pelo menos desde Edward Sapir, alguns antropólogos tenham se preocupado com a questão da distribuição.
No que diz respeito à atividade humana [agency] bem, para mim, talvez a pertinência dessa idéia se deva em parte ao meu próprio individualismo, já que acredito que as pessoas pensam por si mesmas e agem por conta própria. Além disso, creio que minhas pesquisas de campo, tanto em Washington quanto na Nigéria, se deram em situações nas quais a cultura não estava tão estreitamente estruturada, em que havia uma boa margem de ambigüidade cultural e alguma necessidade de adaptação individual ou algum espaço de manobra. Meu interesse na "crioulização" reflete essa situação. Se eu tivesse trabalhado em uma sociedade um pouco mais "tradicional", mais homogênea, eu não teria, talvez, me preocupado tanto com esses temas. Assim, creio que a ênfase na atividade humana [agency] se deve, em parte, a mim e, em parte, às próprias situações sociais com as quais trabalhei.
Rabossi
A crítica da visão do mundo como um mosaico permeia seus trabalhos, e a visão de mundo alternativa aí proposta parece enfatizar a interconectividade. Quais são as implicações dessa idéia? Trata-se apenas de uma questão que reflete a condição do mundo atual ou se trata de uma questão teórica?
Hannerz
Você tem razão, isto aparece tanto em meus estudos urbanos quanto nos transnacionais. Provavelmente há uma grande dose de variação empírica no mundo, que em alguns lugares se manifesta mais como um mosaico de unidades distintas e interligadas e, em outros, mais como interconectividade. Minha posição, contudo, deve-se, em grande parte, às experiências de campo. Quando fui trabalhar em uma cidade nigeriana, tinha a convicção um tanto convencional de que faria um estudo local da vida na cidade. No entanto, após certo tempo, percebi que as pessoas estavam interessadas em mim e em minhas experiências, pois, de tempos em tempos, elas vinham com propostas do tipo: "poderíamos começar um negócio de importação-exportação juntos?" ou "você poderia levar meu brilhante sobrinho para sua universidade no exterior?" Assim, eles me fizeram entender, das mais variadas formas, que seus horizontes se estendiam para além dos limites da cidade.
Ao longo de sua história, a antropologia tem oscilado entre orientações que enfatizam a abertura e orientações que enfatizam o fechamento, de forma que, em parte, trata-se de uma questão teórica. No entanto, dadas as atuais condições do mundo, penso que precisamos trabalhar mais com a etnografia, com a análise, e até mesmo com o vocabulário da interconectividade, pois boa parte das pessoas no mundo hoje estão envolvidas em vários tipos de mobilidade geográfica, além da existência da mídia e de instituições educacionais muito semelhantes pelo mundo afora - o que não se adequa à imagem do mosaico. Eu e algumas outras pessoas temos utilizado a noção de "fluxos", metáfora que me parece conduzir efetivamente para uma preocupação com os processos que se desenrolam no espaço e no tempo. Evidentemente, na medida em que se considera o espaço, eu não negaria de forma alguma que processos locais ainda possuam um certo peso, uma vez que ainda gastamos muito do nosso tempo em um único espaço, que freqüentemente abriga a maioria das pessoas realmente significativas para nós: parentes, amigos etc.
Rabossi
Em seu último livro, o senhor critica a dicotomia entre o local e o global mais ou menos nos termos de uma crítica à reificação do local
Hannerz
Certo, creio que há um sério risco de que reifiquemos o local, mas há também um risco semelhante que é o da reificação do global. Em síntese, como eu já disse, quando retomo minhas primeiras impressões acerca de uma das tendências da antropologia social britânica, penso que aí aprendi a ver o mundo e a sociedade como constituídos por relações sociais: a visão relacional se torna mais fundamental do que os pressupostos sobre espaço e localidade. É certo que as relações podem se estender através de um espaço maior ou menor, mas pode-se lidar com elas através de um arcabouço conceitual flexível, em vez de terminar com uma dicotomia mistificadora.
Rabossi
No que diz respeito ao debate acerca do impacto cultural da globalização e dos fluxos transnacionais de significado, o senhor tem sido um dos críticos da tese da homogeneização. Poderia explicar sua posição, especialmente no tocante à idéia da crioulização?
Hannerz
Você sabe, quando comecei meu trabalho de campo em uma pequena cidade no interior da Nigéria em meados da década de 70, havia de fato duas visões principais acerca da interconectividade. Uma delas era a abordagem do sistema mundial, de Immanuel Wallerstein, que na época não tinha realmente muito a dizer sobre a cultura - e eu não culpo Wallerstein, seus interesses eram outros. A outra visão, que tinha muito a ver com a política do momento, enfatizava o "imperialismo cultural". Era uma crítica da dominação ocidental que sugeria que a interconectividade operante sob essa dominação levaria a uma homogeneização cultural. Havia ainda, do outro lado do espectro político, uma teoria da modernização que, se não era mais tão forte quanto antes, era ainda uma teoria da homogeneização global.
Quando eu estava naquela cidade nigeriana, comecei a pensar que o que faltava a todas essas perspectivas era algo que desse conta do tipo de mistura cultural que eu tinha diante de mim, e que teríamos de achar uma maneira de falar sobre isso. Como eu já disse, meu primeiro interesse na antropologia foi a mudança cultural e social - aquilo que na antropologia norte-americana foi chamado de "aculturação". No entanto, por várias razões, esse conceito mais ou menos caiu em desuso. Pensei, então, que tínhamos de encontrar um modo de descrição apropriado a esse tipo radical de mistura cultural, que contivesse, de preferência, uma dimensão socioestrutural. Dois fatores me levaram à idéia de "crioulização". Um deles é o fato de que vários antropólogos tinham usado a noção - especialmente Lee Drummond, em um artigo que escreveu sobre a Guiana para a revista que então ainda se chamava Man (The Cultural Continuum: A Theory of Intersystems, de 1980). Drummond enfatizava a idéia de um continuum crioulo, noção inovadora que fazia eco às minhas próprias experiências anteriores. Meu primeiro trabalho de campo em Washington, nos anos 60, estava ligado a um projeto sociolingüístico cujo resultado foi uma estreita interação com lingüistas, inclusive com dois crioulistas. Herdei desse contato uma certa consciência da crioulização como fenômeno sociolingüístico: a idéia de que algumas línguas surgiram de uma combinação de duas ou mais línguas historicamente distintas - por exemplo, a combinação de uma ou mais línguas africanas com o português, inglês, ou francês. E essas situações tendiam a envolver desigualdades sociais, com a língua européia em cima e a língua africana em baixo, formando, de todo modo, um continuum com diferentes camadas de línguas misturadas entre as formas extremas. A noção de crioulização combinava, então, uma compreensão das formas de linguagem, da desigualdade social e das estruturas centro-periferia. É claro que não se pode sempre traduzir a teoria lingüística para a teoria cultural, mas me parecia que nesse caso eu havia encontrado um modo de relacionar forma cultural a estrutura social - como eu já disse, através de um tipo de compreensão distributiva.
Pode-se dizer, talvez, que você tenha razão: em certo sentido, ao criticar as perspectivas da homogeneização, eu tomei parte em um debate. Mas eu gostaria ainda de enfatizar que grande parte do que quer que represente meu trabalho teórico vem da minha experiência etnográfica. Mesmo que parte desse trabalho possa parecer um tanto pós-moderno, por exemplo, o certo é que eu nem mesmo estava ciente de alguma coisa chamada pós-modernismo quando comecei a pensar sobre meu material nigeriano. E eu não sou o tipo de "debatedor" que se serve de toda e qualquer oportunidade para argumentar acerca de discordâncias, ou mesmo pura e simplesmente sobre mal-entendidos ou deturpações. Algumas vezes eu simplesmente acho o resto do mundo mais interessante do que a academia.
Deixe-me dizer ainda mais uma coisa a respeito da sua questão inicial, quando você diz que eu não exerceria a forma clássica ou ortodoxa de antropologia. Creio que na maior parte do tempo tenho levado a sério certas reivindicações mais gerais, mais programáticas, da antropologia acerca da relevância de sua perspectiva, assim como tenho tentado testar os limites desse nosso auto-retrato antropológico. Por um bom tempo, o procedimento operacional padrão da antropologia pressupunha, antes de tudo, uma pesquisa em campos convencionais, sociedades de pequena escala e quase homogêneas, ao mesmo tempo em que pretendia se afirmar como estudo da humanidade. Imagino, então, que minha questão em geral tenha sido a seguinte: se esses são os nossos conceitos gerais, como é que eles se adequam a situações para as quais não foram originalmente desenvolvidos? Devemos rejeitá-los, ou podemos redefini-los, ou ainda estendê-los de alguma forma? Minha visão distributiva da cultura, por exemplo, é um modo de estender o conceito de cultura, e de tentar salvá-lo, em vez de dizer que ele não é bom, que devemos descartá-lo.
Rabossi
Lembro-me do que o senhor disse a respeito de Huntington e suas unidades civilizacionais. Artigos recentes, que focalizam especialmente os artifícios retóricos utilizados para apoiar a discriminação e o racismo, alertam para a culturalização das diferenças - penso particularmente na discussão de Verena Stolcke sobre "fundamentalismo cultural" (Talking Culture: New Boundaries, New Rethorics of Exclusion in Europe, de 1995). Como se pode contestar esses discursos sem colocar de lado o conceito de cultura?
Hannerz
Evidentemente, o livro de Huntington (The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, de 1996) - bem como o artigo de Foreign Affairs do qual ele é um desenvolvimento - foram muito influentes, e uma da provas é que foram traduzidos em vários idiomas. De fato, boa parte do argumento soa persuasiva; mas há vários argumentos e pressupostos que não somos obrigados a aceitar. De modo geral, as unidades civilizacionais de Huntington estão calcadas em religiões, particularmente nas principais religiões do mundo, que são consideradas estáveis, mais ou menos atemporais, e básicas para as identidades das pessoas - totalizantes, poderíamos dizer. Minha concepção de cultura tal qual organizada no mundo de hoje supõe que, em grande parte, ela é fluida, não atemporal, e que, no que diz respeito às identidades, não é nada óbvio que aquilo com que as pessoas se identificam seja o mais durável. Algumas pessoas podem se identificar fortemente com uma cultura de juventude; outras com uma profissão; outras ainda com uma classe, e assim por diante. Da mesma forma, no seio dessas entidades civilizacionais há uma organização da diversidade, debates internos em andamento, superposições e transversalidade de ligações, que conectam de modo bastante firme pessoas de uma civilização com aquelas de outras civilizações. Para mim, é interessante, e ao mesmo tempo curioso, que Huntington esteja agora retornando a autores como Spengler e Toynbee a fim de encontrar as bases de sua visão das civilizações. Recordo, então, que Alfred Kroeber, um antropólogo clássico que escreveu sobre civilizações, já havia argumentado que teorias da civilização como estas subestimam de antemão os fluxos culturais entre as civilizações. Creio que deveríamos recomeçar desse ponto.
Evidentemente, os antropólogos tendem a reclamar de Huntington e de sua influência na arena pública. O problema, a meu ver, é que para enfrentá-lo devemos tentar produzir formulações que estejam de alguma forma na mesma escala que as suas. Responder apenas com as narrativas minuciosas que tendemos a privilegiar na maior parte da nossa literatura acadêmica, não é de grande valia. Devemos afirmar uma macrovisão antropológica do mundo com a qual possamos estar razoavelmente satisfeitos e que possa, além disso, ser compreendida por um público mais amplo. Parece-me que há muito tempo não temos feito isso.
Em resumo, como podemos nos opor ao fundamentalismo cultural? Por meio de uma desmistificação do conceito de cultura: tornando-o mais processual, por um lado, e, por outro, ligando-o mais estreitamente à atividade humana [agency], em vez de a algum tipo de fatalismo determinista.
Rabossi
Em seu último livro, o senhor escreveu algo sobre o movimento que o levou da antropologia urbana à antropologia da vida transnacional. Essa mudança está clara em sua produção, mas o que ela significa para o senhor em termos teóricos? Qual é o lugar da cidade na ecúmeno global que o senhor tem em mente? E, tendo sido um dos grandes nomes da antropologia urbana, qual seria a agenda que o senhor proporia para a antropologia urbana neste momento?
Hannerz
Creio que essa última questão é difícil de ser respondida. Quanto à minha própria mudança, posso dizer que foi bastante simples, dada a importância das cidades para a cultura transnacional. Quer dizer, a cidade tende a ser o lugar onde a relações de distância e curta distâncias coexistem, e onde as pessoas interagem mais intensivamente a partir das combinações dessas relações. Nesse meu último livro, há um capítulo acerca do papel cultural das cidades do mundo, inspirado em um artigo clássico de Redfield e Singer (The Cultural Role of Cities, de 1954). A meu ver, boa parte da antropologia transnacional está baseada nas cidades - ou pelo menos, estas são o locus da maior parte da ação. Há, também, uma ênfase na conceptualização relacional. Creio que as coisas que escrevi, no começo dos anos 80, em meu livro sobre antropologia urbana - Exploring the City. Inquiries Toward an Urban Anthropology, de 1980 - estão bastante próximas do que estou fazendo agora. Quanto ao que a antropologia urbana deveria estar fazendo agora , bem, estou um pouco desapontado com o fato de a antropologia urbana ter contribuído tão pouco para o pensamento antropológico mais geral. De meu ponto de vista, por exemplo, as cidades deveriam ser os lugares estratégicos para pensar a cultura em termos de uma organização da diversidade. Mas o que se verifica, em grande parte, da primeira fase da antropologia urbana é que esta se esquiva, buscando as menores e mais homogêneas camadas de vida na cidade, bairros étnicos etc., e percebendo-as isoladamente, em vez de imersas na diversidade. A antropologia urbana deveria ter-se concentrado mais em certos tipos de coisas que não são tão facilmente encontradas em outro lugar que não a cidade e, ao mesmo tempo, deveria ter tentado dar-lhes um sentido teórico. Temos muitas boas etnografias, mas o trabalho teórico parece ainda não ter sido realizado. Assim, como eu disse antes, os antropólogos urbanos deveriam pensar não somente sobre o que é antropológico na antropologia urbana, mas também sobre o que ela tem de propriamente urbano. Presumo que muitos dos trabalhos urbanos que chamaram mais a atenção nos últimos vinte e poucos anos podem não ter sido pensados como antropologia urbana. Em outras palavras, a maior parte da antropologia feita na cidade não tem realmente focalizado o urbanismo. Mas isso foi o que tentei fazer em Exploring the City: encontrar as coisas que de alguma forma parecessem mais urbanas.
Rabossi
E a respeito da "virada global" [global turn] da antropologia, tal qual o senhor o coloca em seu último livro ?
Hannerz
Não creio que o termo "globalização" estivesse realmente em uso quando comecei a pensar nessa direção mais sistematicamente, a partir de meu trabalho na Nigéria no fim dos anos 70 e início dos 80. Lembro-me que em minha primeira proposta de projeto acerca dessas temáticas, utilizei o termo "sistema mundial de cultura", que sugere, sem dúvida, a influência wallersteiniana nesse ponto - mas ressalta também, que Wallerstein não havia trabalhado muito com significados, símbolos etc., uma vez que sua posição estava baseada em uma visão da cultura como ideologia. Creio que o termo "globalização" só passou para o primeiro plano por volta do fim da década de 80. Posteriormente, é claro, em um debate mais amplo, ele adquiriu uma ênfase fortemente econômica: a interconectividade dos mercados e a expansão do capitalismo. Penso que alguns de nós lutamos para que o termo possa significar uma interconectividade crescente que não é apenas econômica. Em meu livro Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning, de 1992 - especialmente no último capítulo - escrevi sobre tudo isso, e desde então creio que não tenho feito outra coisa. Trata-se de um tema que realmente cresceu muito rapidamente na antropologia, como o atestam tantos programas de pesquisa, propostas de projetos, teses de doutorado, que abordam de algum modo a "globalização".
Alguns colegas mais velhos dirão: "olhe, essas pessoas parecem nem conhecer o que foi escrito há anos atrás sobre aculturação, difusão, modernização e assim por diante" - eles parecem um pouco tristes com o fato de que os jovens estejam, de alguma forma, redescobrindo a pólvora. De fato, parece-me que não seria ruim se mais pessoas se voltassem para os trabalhos antigos, que a meu ver são muito interessantes. Mas nesse caso algumas das pessoas mais velhas também diriam: "é claro que isso é um modismo, alguma outra coisa logo será o assunto do mês". Creio que depois que as implicações gerais tenham sido exploradas, a globalização será de alguma forma normalizada: ela não será necessariamente o problema central por muito tempo. Quando as pessoas escolherem os tipos de unidades com as quais trabalharão em seus projetos, tornar-se-á talvez evidente para elas que o mundo é uma mistura de relações locais e de longa distância, e isso será percebido nas diferentes camadas da vida social com as quais trabalharão. Mas elas não farão muito barulho em torno disso, e o constraste entre "o global e o local" também não será tomado como uma evidência. Quero dizer com isso que, no futuro, veremos uma maior variedade de tipos de unidades a serem estudadas: algumas locais, outras combinando relações de diferente alcance e, talvez, algumas que envolvam majoritariamente conexões de longa distância. Haverá, então, uma normalização da diversidade na escolha dos problemas e das unidades de pesquisa antropológica se houver uma antropologia, é claro.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
30 Maio 2000 -
Data do Fascículo
Abr 1999