Resumo
Este artigo empreende uma análise de discursos de promoção da leitura em textos que circularam na mídia impressa nacional, no início do século XX, em que se apresentam o projeto e as atividades da Liga Brasileira contra o Analphabetismo, fundada em 1915. A enunciação das ações e projetos da Liga indicia tanto discursos então vigentes sobre a leitura e os leitores brasileiros, quanto representações compartilhadas acerca do incentivo dessa prática. O objetivo é o de descrever algumas dessas representações da leitura e de seu fomento que orientam a ação dos idealizadores da Liga. Para tanto, apoia-se em princípios da Análise do discurso e da História cultural da leitura. Além do consenso que ainda perdura sobre o déficit permanente de leitura dos brasileiros, constata a remanência do discurso proselitista de sua promoção, assumida por essa instituição como uma “cruzada santa”.
Palavras-Chave:
Discurso; Promoção da leitura; Liga Brasileira contra o Analphabetismo
Abstract
In this article, we carry out an analysis of discourses of reading promotion in texts that circulated in the Brazilian printed media at the beginning of the twentieth century, where there is the project and activities of the Brazilian League against Illiteracy, founded in 1915. The League actions and projects’ enunciation indicates both discourses then in effect about Brazilian reading and readers and shared representations regarding the encouragement of this practice. Our goal is to describe some of those representations and their fomentation that guide the League creators’ actions. For this purpose, we are supported by some principles of the Discourse Analysis and the Cultural History of Reading. Besides the consensus that still exists on Brazilians permanent reading deficit, we noticed a re-emergence of the proselytizing discourse in the reading promotion, assumed by that institution as a “holy crusade”.
Keywords:
Discourse; Reading promotion; Brazilian League against Illiteracy
Resumen
Este artículo emprende un análisis de discursos de promoción de la lectura en textos que circularon en la prensa escrita nacional a principios del siglo XX, en los que se presentaron el proyecto y las actividades de la Liga Brasileira contra o Analphabetismo, fundada en 1915. La enunciación de las acciones y proyectos de la Liga indicia discursos entonces vigentes sobre la lectura y los lectores brasileños, también representaciones compartidas acerca del incentivo de esa práctica. El objetivo es describir algunas de esas representaciones de la lectura y de su fomento que orientan la acción de los idealizadores de la Liga. Para ello, se basa en principios del Análisis del discurso y de la Historia cultural de la lectura. Además del consenso que aún perdura sobre el déficit permanente de lectura de los brasileños, constata que el discurso proselitista es remanente de su promoción, asumida por esa institución como una “cruzada santa”.
Palabras clave:
Discurso; Promoción de la lectura; Liga Brasileira contra o Analphabetismo
1 INTRODUÇÃO
Em nossas pesquisas, temos nos dedicado aos discursos sobre a leitura e, entre eles, aqueles de seu incentivo1 1 Cf. Varella e Curcino (2014) e Curcino (2016; 2018). . Nosso objetivo é o de levantar e analisar regularidades e variações em discursos em prol dessa prática manifestos em textos de diferentes origens e temporalidades.
Assim, depois de estudarmos o funcionamento dos discursos sobre a leitura em textos de incentivo a essa prática produzidos na atualidade2 2 Referimo-nos mais especificamente às produções audiovisuais de campanhas de promoção da leitura realizadas por instituições públicas e privadas, bem como aquelas produzidas de forma amadora, publicadas na plataforma Youtube na última década, e que foram nosso objeto de análise na pesquisa de mestrado, com o apoio da CAPES. Cf. Varella (2014). , decidimos realizar um recuo histórico, de modo a buscar depreender, entre a segunda metade do século XIX e ao longo do século XX, eventual continuidade e descontinuidade nas formas de representá-la, manifestadas em textos cujo objetivo, grosso modo, era promovê-la, ou seja, incentivá-la, ensiná-la, difundi-la entre leitores e não-leitores3 3 Referimo-nos a nossa pesquisa de doutorado, intitulada A promoção da leitura: discursos e práticas de seu incentivo no Brasil, que contou com o apoio da CAPES. Cf. Varella (2018). .
Essa decisão implicou a ampliação do rol de textos a serem considerados, uma vez que, à medida que recuávamos no tempo, não dispúnhamos de textos semelhantes aos que hoje reconhecemos prontamente como textos cuja finalidade principal é a de promover a leitura, compondo propriamente verdadeiras “campanhas de incentivo” a essa prática, apresentando uma estrutura formal e tipos de argumentos relativamente comuns. Os textos de que então passamos a nos valer em nossas análises não apresentavam necessariamente as formas mais prototípicas desse gênero discursivo4 4 Bakhtin (2011, p. 261) afirma que “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis”, que ele denomina “gêneros do discurso” e que se caracterizam pela regularidade quanto a seu conteúdo temático (aquilo que prioritariamente enunciam), estilo verbal (a linguagem adotada e o modo como é empregada) e construção composicional (relativa à aparência geral e formal do texto que permite ao que formula e ao que é exposto a um texto reconhecer, dado seu formato recorrente, e, graças a esse reconhecimento, antecipar aquilo de que trata o texto antes mesmo de sua decodificação propriamente dita). . Eles são, além de mais rarefeitos, mais diversos em sua origem institucional, em seu gênero, em sua finalidade, assim como em sua função e público. São suas referências, ainda que breves e por vezes indiretas, ao que se tem concebido em geral como formas de estímulo à leitura que buscamos depreender e descrever em suas especificidades discursivas.
Compuseram o corpus dessa pesquisa mais recente: i) textos informativos, educacionais ou científicos contendo conselhos voltados a pais e professores, em jornais e revistas, especializados ou não, com a descrição de formas de estimular a leitura, de torná-la um hábito entre crianças e adolescentes; ii) publicações que versam sobre as ações do Instituto Nacional do Livro (INL) e do Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER); iii) notícias com a divulgação de iniciativas de indivíduos, órgãos de governo ou de associações ou segmentos da sociedade de projetos e ações educativas, de erradicação do analfabetismo, por exemplo.
Neste artigo, imbuídos do objetivo geral de nossas pesquisas, dedicamo-nos à análise de enunciados advindos de uma amostra desse corpus, a saber, de duas matérias veiculadas em abril de 1915 pelo jornal carioca A Noite, considerado um dos primeiros periódicos populares em que são apresentadas, justificadas e descritas as ações da então recém-criada Liga Brasileira contra o Analphabetismo, cujo lema era “Combater o analfabetismo é dever de honra de todo brasileiro”, e cujas atividades seus membros designaram como “uma cruzada santa”.
Visamos a depreender representações da leitura e de seu incentivo, compartilhadas e expressas nesses textos formulados pela e sobre a Liga, instituição essa que tinha por objetivo: i) estabelecer o que considerava ser condições necessárias para o combate ao analfabetismo (leis, incentivos financeiros, punições); ii) fazer recomendações e propor ações de viés pedagógico (genéricas e consensuais) e, eventualmente, atuar em campo, junto ao público a ser alfabetizado, consistindo, portanto, em uma postura e atitude de fomento à leitura, entendida neste contexto, sobretudo, como ensino/aprendizado da técnica de decodificação.
2 A LIGA E A LEITURA: UM “DEVER DE HONRA DE TODO BRASILEIRO”
Nos primeiros decênios do século XX, de acordo com Soares e Galvão (2005SOARES, L.; GALVÃO, A. M. de O. Uma história da alfabetização de adultos no Brasil. In: STEPHANOU, M.; CAMARA BASTOS, M. H. (Org.). Histórias e memórias da educação no Brasil III: século XX. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. p. 257-277.), verifica-se uma maior movimentação de diversos setores da sociedade em prol da extinção do analfabetismo no país, uma vez que se compartilhava a ideia de que “[…] para a República se consolidar de fato no Brasil, a educação precisava ser entendida como condição essencial para a participação efetiva do povo” (NOFUENTES, 2008NOFUENTES, V. C. Um desafio do tamanho da nação: a campanha da Liga Brasileira Contra o Analfabetismo (1915-1922). 2008. 163f. Dissertação (Mestrado em História) - Centro de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008., p. 46). Esse também havia sido o princípio norteador adotado na França pós-revolução burguesa em 1789: o povo precisava aprender a ser republicano, laicizar-se, e a escola, os professores e os livros deveriam ser os condutores principais dessa transformação5 5 Sobre esse papel político da escola na promoção da República entre os franceses, cf. Courtine (2006). . Mimeticamente, a República brasileira proclamada em nome do povo precisava se construir como melhor alternativa à Monarquia e carecia do lastro simbólico do Liberalismo e do Iluminismo franceses, que desempenharam importante papel na construção e na consolidação simbólica de seu regime republicano.
A quase um século da Independência do Brasil e a quase três décadas da Proclamação da República, não dispúnhamos então das mesmas conquistas obtidas por nossos pares franceses, em especial no âmbito da educação. Diferentemente do processo de alfabetização em massa que acompanhou a consolidação do ideal republicano na França, no século XVIII e começo do século XIX6 6 Sobre esse processo de expansão da alfabetização e do público leitor francês, cf. Lyons (1999). , às vésperas da comemoração do centenário da independência no Brasil e da consolidação do regime republicano, saber ler, escrever e contar eram competências cujo acesso era ainda restrito. Poucos sabiam ler e escrever, mesmo entre membros das camadas socioeconomicamente privilegiadas. O analfabetismo atingia mais de 70% da população à época. Em função disso, poucos participavam da vida política, dada a proibição do voto aos analfabetos, expressa na Constituição de 1891. Tendo em vista o caráter distintivo e hierarquizador da régua da alfabetização, ao invés de se cogitar a supressão dessa regra, reforçou-se a importância da alfabetização da população, da qual derivaria o direito ao voto. Tratava-se de uma empreitada política para a qual foram evocados argumentos tanto culturais quanto morais, capazes de dar contornos mais legítimos e de blindar simbolicamente o sistema republicano de governo.
Dado o impacto mundial da Primeira Guerra, bem como a iminência do centenário da Independência, a República precisava justificar sua razão de ser:
[...] os caminhos rumo à civilização dependiam dos projetos político-intelectuais elaborados, podendo vincular-se a temas como a erradicação do analfabetismo, ao saneamento dos sertões ou às diversas bandeiras levantadas pelos movimentos nacionalistas durante a Primeira República. (NOFUENTES, 2008NOFUENTES, V. C. Um desafio do tamanho da nação: a campanha da Liga Brasileira Contra o Analfabetismo (1915-1922). 2008. 163f. Dissertação (Mestrado em História) - Centro de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008., p. 27)
Em nome da República, e em sua salvaguarda, parte da elite nacional comprometeu-se com estes e outros projetos. No que diz respeito à erradicação do analfabetismo, foram estabelecidas várias Ligas, entre elas a Liga Brasileira contra o Analphabetismo, datada de abril de 1915, cujo lema era “Combater o analfabetismo é dever de honra de todo brasileiro”. Nofuentes (2008NOFUENTES, V. C. Um desafio do tamanho da nação: a campanha da Liga Brasileira Contra o Analfabetismo (1915-1922). 2008. 163f. Dissertação (Mestrado em História) - Centro de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008., p. 19), ao se ocupar da análise da conjuntura histórica e política de fundação dessa instituição, afirma que:
A campanha empreendida pelas Ligas Contra o Analfabetismo seria caracterizada por um duplo movimento: uma efetiva mobilização nacional no combate ao analfabetismo - com criação de escolas, obtenção de apoios das instituições religiosas, da imprensa e da população em geral - e a busca por ações por parte do Estado - via poder executivo e legislativo nos diversos níveis: nacional, estadual e municipal, chamando-o à responsabilidade pela educação nacional.
Ouvem-se esses ecos de posturas nacionalistas, de inspiração iluminista e liberal do início do século XX nas reiteradas ações que ainda hoje indivíduos pertencentes a camadas socioeconômicas e sociais de mais prestígio adotam em relação aos mais carentes. Assumida, então, como uma causa por membros dessas camadas da sociedade civil e urbana, em especial das capitais do país, as mobilizações em prol do combate ao analfabetismo gozam do verniz das práticas altivas e nobres que se ocupam de problemas cuja resolução transcende as fronteiras e seus conflitos (sociais, de crenças, étnicos, etc.). Essas mobilizações em prol da alfabetização constituem-se como um dever cívico, um bem maior, com potência de engajar toda uma sociedade num projeto de nação comum. O ensino da leitura e da escrita torna-se ao mesmo tempo um gesto político nacionalista, um ato humanista e solidário e um compromisso de boa-fé, se não cristão.
A multiplicação das Ligas por diversos municípios de diferentes Estados brasileiros dá provas do valor simbólico outorgado a esse acontecimento. As elites locais aderem a essas Ligas e o fazem com bastante divulgação pública na imprensa à época. O tom engajado, bem como hiperbólico, adotado nos textos da mídia em que se anunciou a criação da Liga nacional expressa-se em seu próprio lema, ao conclamar todo brasileiro a assumir o compromisso de combate ao analfabetismo como “um dever de honra”, e ao afirmar que o sucesso da empreitada dependeria “sobretudo do apoio que o povo e a imprensa prestarem á grande causa, [uma vez que a] atitude dos poderes publicos resultará necessariamente da acção dessas duas forças” (A NOITE, 1915b, p. 1).
3 A LIGA E SUA “CRUZADA SANTA” CONTRA O ANALFABETISMO
Essa publicização midiática das atividades da Liga pode ser exemplificada em duas matérias veiculadas pelo jornal A Noite, em abril de 1915 (figuras 1 e 2).
Na primeira matéria, intitulada Uma cruzada santa. A primeira reunião da Liga contra o analphabetismo (Figura 1) e publicada em 21 de abril de 1915, é apresentada uma espécie de ata/relato do que nela ocorreu, com indicação de dia, horário e local de sua realização, bem como dos membros presentes na solenidade, e da nomeação de cargos e responsabilidades de seus participantes. A segunda matéria (Figura 2), publicada em 22 de abril de 1915, no dia seguinte à reunião de fundação, retoma parte do título dado à primeira: Uma cruzada santa: O melhor meio de commemorarmos o Centenario da Independencia. Trata-se de uma breve entrevista realizada com um de seus membros fundadores, Major Raymundo Seidl, em que se apresenta o objetivo da Liga, de atuar “junto aos poderes publicos federaes, estaduaes e municipaes e também junto á população, afim de que se possa commemorar o centenário da Independencia do Brasil, declarando-o ‘livre do analfabetismo’, pelo menos em suas cidades e villas” (A NOITE, 1915b, p.1); assim como apresenta as ações previstas para o cumprimento desse objetivo: a) convencer o povo de sua importância; b) pressionar o poder público e conquistar leis que “recompensem as cidades e villas que mais se libertarem desse mal” (A NOITE, 1915b, p. 1).
Além do tom patriótico, o texto evoca uma memória discursiva7 7 Segundo Courtine (2009, p. 105) “a noção de memória discursiva diz respeito à existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas por aparelhos ideológicos; ela visa o que Foucault (1971, p. 24) levanta a propósito dos textos religiosos, jurídicos, literários, científicos, ‘discursos que originam um certo número de novos atos, de palavras que os retomam, os transformam ou falam deles, enfim, os discursos que indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda a dizer’”. religiosa. Não sem razão, nos dois títulos faz-se referência à ação da Liga como uma “Cruzada Santa”, e ao analfabetismo como um “mal” de que o Brasil deve ser libertado. Atualizando a referência histórica das Cruzadas, em que se articulavam a ação militar e religiosa na guerra autodesignada “santa”, essa expressão adquire uma autonomia relativa, do ponto de vista desse referente histórico, e passa a ser empregada em outros contextos com vistas a gozar do valor simbólico da primeira em relação àquilo pelo que se vai lutar. A alusão à “cruzada santa” funda-se na possibilidade de se equiparar aquilo pelo que se luta a um bem maior segundo uma ótica moral, cuja importância se apresenta como consensual e orienta as ações que se anunciam grandiosas, extraordinárias, e que exigem um engajamento ético de monta, legitimando, assim, o emprego dessa expressão. Na Guerra Santa, era a convicção da importância daquilo pelo que se lutava que “santificava” a causa, tornava-a nobre assim como nobres e dignos se tornavam aqueles que dela participavam.
Quando da criação da Liga, sob a forma dessa metáfora bélico-religiosa, essa expressão recupera, sem implicar uma ação de guerra efetiva, nem uma questão de fé de ordem religiosa, o engajamento e a dedicação equivalentes à obrigação militar e à fé religiosa, segundo uma moral burguesa liberal. Em um tempo de progressivo desencantamento, migrar as crenças de âmbito religioso para causas assumidas como tão nobres e enobrecedoras quanto as coisas do sagrado é um modo de dar sentido e de agregar valor simbólico aos gestos e às práticas de nossas sociedades desencantadas, assim como uma forma de “expiar certa culpa” social, em países tão desiguais como o nosso e, por essa razão, tão distantes de princípios cristãos como o da justiça e o da igualdade.
Essa dimensão burguesa e liberal se manifesta sem pudor - ao contrário, com orgulho - na descrição das medidas propostas pela Liga ao governo e que devem ganhar força de lei: a) proibição do exercício de funções públicas, civis e militares “de espécie alguma, de indivíduos analfabetos”; b) demissão de todos que não souberem ler, escrever e contar; c) multa a fábricas e comércios que mantenham funcionários analfabetos; d) criação de um imposto para “analfabetos maiores de sete annos” (A NOITE, 1915b, p.1). Quanto às ações do Estado e da Liga para a garantia de condições materiais mínimas que permitam aos indivíduos se alfabetizarem, o entrevistado não apresenta concretamente nenhuma medida, não propõe nenhum texto de lei, não define nenhum compromisso ou obrigação do Estado, da República e de demais entidades da sociedade que pudessem se assemelhar à garantia de “um meio para”, ou de “um direito a”.
É sob a formulação de uma obrigação individual que se convoca, de um lado, certos sujeitos para atuarem nessa cruzada como voluntários comprometidos com o bem do Brasil, e que se responsabiliza, de outro, cada um por sua condição de alfabetizado ou analfabeto, sem se considerar a dimensão material, socioeconômica implicada ou necessária para que um indivíduo se alfabetize. Alienadas e alienantes, as propostas da Liga condenavam a maioria da população brasileira ao desemprego e, com isso, mantinham uma reserva de vagas de trabalho para uma classe média urbana exígua.
A postura filantrópica, hipoteticamente desinteressada, idealizada e engajada moralmente, assumida por uma elite nacional, e que seria o pilar condutor das ações de extinção do analfabetismo no final do século XIX, tal como explicitado por Soares e Galvão (2005SOARES, L.; GALVÃO, A. M. de O. Uma história da alfabetização de adultos no Brasil. In: STEPHANOU, M.; CAMARA BASTOS, M. H. (Org.). Histórias e memórias da educação no Brasil III: século XX. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. p. 257-277.), é emblematicamente representada na configuração dos membros da Liga e em sua proposição de atividades, conforme explicitado por Nofuentes (2008NOFUENTES, V. C. Um desafio do tamanho da nação: a campanha da Liga Brasileira Contra o Analfabetismo (1915-1922). 2008. 163f. Dissertação (Mestrado em História) - Centro de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008., p. 11), parafraseando o que a própria Liga enunciou sobre si:
Fundada em 21 de abril de 1915 por homens de letras, médicos, advogados, militares e contando com a colaboração de diversos setores da sociedade, a Liga Brasileira Contra o Analfabetismo tinha como propósito atuar junto aos poderes públicos federais, estaduais e municipais, e, sobretudo, junto à população, para que se pudesse comemorar o centenário da Independência declarando o Brasil livre do analfabetismo.
O objetivo da Liga não parece ser, sobretudo, o da alfabetização da população, mas o de garantir um verniz simbólico à República, até a comemoração do centenário de sua Independência que ocorreria em 7 anos.
A fundação dessa Liga e o trabalho por ela desenvolvido representam ações de promoção da leitura, tanto no que concerne à difusão da concepção e crença na importância do domínio dessa técnica, quanto na proposição de ações práticas, urgentes e consideradas eficazes para sua difusão. São sensíveis as similitudes entre os discursos que se manifestam nos documentos da Liga e aqueles que ainda hoje circulam sobre a leitura segundo essa chave da ‘promoção da leitura’. Também se assemelha, lá e cá, a distribuição social dos papéis de quem pode e deve promover essa prática e a quem essas ações de promoção se destinam. Os discursos ainda são os mesmos: 1) somos um país de não-leitores; 2) isso é um problema grave, uma vergonha, e deve ser combatido/superado; 3) as pessoas que não leem não têm consciência da importância da leitura; 4) as pessoas que leem têm consciência de sua importância e podem e devem contribuir para conscientizar as que não leem; 5) as pessoas que não leem são responsáveis por isso, dado que, em função de não terem consciência dessa importância, podem não empreender os esforços necessários para aprender e empreender a leitura.
Esses discursos nortearam e norteiam ainda grande parte das ações de incentivo à leitura. A concepção que ainda perdura de que os brasileiros não leem não se baseia em uma constatação empírica, em uma compreensão das razões disso e em uma postura efetivamente preocupada com sua modificação. Ela consiste, em geral, segundo Curcino (2018CURCINO, L. Divisões e representações sociais de leitores no Brasil: uma análise de discursos da mídia sobre as práticas de leitura de políticos brasileiros. (Relatório científico de pós-doutorado). Campinas: UNICAMP/Versalhes: Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2018. (mimeo)), em uma concepção essencialista e fatalista: os brasileiros não leem. Disso decorre a concepção simplista e amplamente desenvolvida - derivada, entre outros fatores, de um posicionamento ideológico a favor da meritocracia e comprometido com um certo “complexo de vira-lata”, fatores que aqui vicejam: não leem porque não querem.
Se é assim, a primeira ação - cerne do próprio gesto de ‘incentivar a leitura’ - deve ser a de convencer aqueles que se crê não estarem convencidos. Para a Liga, como é possível observar no que ela enuncia acerca de seu objetivo, essa é a base discursiva principal na qual se sustentam suas propostas de ação.
Assim como em textos de promoção da leitura na atualidade, observa-se a presença, nos princípios anunciados pela Liga, de um discurso sobre a leitura que, atravessando o século passado, ainda é recorrente no presente, a saber, aquele da crise permanente da leitura no Brasil. Esse discurso é atualizado e modalizado de diferentes formas, mas sempre afirmando a ausência (do hábito, do interesse, do esforço, do gosto) da leitura e o déficit em relação a outros países, que se enuncia em geral sob o signo da vergonha. Tal representação é expressa na matéria do dia 22 de abril de 1915 (Figura 2), publicada pelo jornal A Noite, na qual são apresentadas as razões para a fundação da Liga e quais linhas de ação seriam adotadas. Logo de início, é enunciado que:
Não há quem deixe de ver no analphabetismo uma das nossas maiores calamidades, um ponto em que todos estão de accordo. Apezar disso, entretanto, nada ou muito pouco se tinha feito até aqui, para debellar esse terrível mal. O mais que se fazia era lamentar ou mesmo ridicularisar esse estado de cousas (A NOITE, 1915b, p.1).
Nela, essa lógica da falta da leitura que afeta o Brasil é evidenciada pela referência ao analfabetismo como “uma de nossas maiores calamidades”. O peso semântico da palavra ‘calamidade’ somado à adjetivação do analfabetismo como um “terrível mal” dão a dimensão da gravidade da situação, também ela marcada pelo fato de essa realidade não escapar a ninguém, isto é, de além de ser vivida por uns, não deixar de ser vista, ou seja, ser perceptível e prejudicial para todos, como comunidade. Ainda conforme apontam Soares e Galvão (2005SOARES, L.; GALVÃO, A. M. de O. Uma história da alfabetização de adultos no Brasil. In: STEPHANOU, M.; CAMARA BASTOS, M. H. (Org.). Histórias e memórias da educação no Brasil III: século XX. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. p. 257-277.), se era grande a mobilização visando à alfabetização popular, havia também aqueles que a consideravam perigosa, pois por meio dela as pessoas poderiam conhecer outras realidades e almejar melhores condições. Vê-se aí a coexistência de discursos de promoção da leitura, orientados, por sua vez, por uma representação comum dessa prática: a dos efeitos benéficos causados à vida de quem sabe ler. Se já não é possível proibir o acesso a essa técnica, é preciso definir as formas de seu exercício e os meios de controle de sua difusão. É preciso ensinar a ler, mas controlar o quanto, o que se pode e se deve ler.
4 O PARADOXO DA PROMOÇÃO DA LEITURA
No volume 5, nº 10 da Revista História da Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicada em 2001, consta um texto relativo às Atas e Trabalhos da Conferência Interestadual de Ensino Primário, que, em sua Sessão Solene de Abertura, realizada em outubro de 1921, cita o Coronel Raymundo Seidl, um dos fundadores da Liga Brasileira contra o Analphabetismo. Em seu discurso nessa solenidade voltada a discutir o “ensino ás crianças”, como disposto no texto, Seidl relata alguns “protestos e censuras” sofridos pela Liga quando de sua fundação, o que nos permite aceder a essa coexistência polêmica de discursos sobre a promoção da leitura, seus diálogos interdiscursivos8 8 Este conceito em AD diz respeito aos já ditos que frequentam e constituem todo e qualquer dizer. O interdiscurso atuaria como essa instância sempre anterior à emergência de um discurso, que fornece ou impõe o que nele é enunciável. “O interdiscurso é o lugar no qual se constituem, para um sujeito falante que produz uma sequência discursiva dominada por uma FD [formação discursiva] determinada, os objetos de que esse sujeito enunciador se apropria para fazer deles objetos de seu discurso, bem como as articulações entre esses objetos, a partir dos quais o sujeito enunciador vai dar uma coerência a sua declaração.” (COURTINE, 2009, p. 74). no tempo e na cultura, responsáveis por atualizar uma dada memória9 9 Tal como definida conceitualmente em nota anterior. do enunciável acerca dessa prática, da necessidade de sua promoção e do uso dessa promoção em benefício do prestígio da República e da elite que a defende.
Nós, os da Liga Brasileira contra o Analphabetismo, representada nesta Conferência pela Exma. Sra. Professora D. Maria Reis Sanctos, quando iniciamos a nossa campanha, tivemos a infelicidade de ouvir protestos e censuras, porque affirmavamos (e continuamos a affirmar) que “combater o analfabetismo é um dever de honra para todos os brasileiros”.
Parece incrível se tenham levantado objecções contra a nossa propaganda.
Permitti me aproveite da presente opportunidade para vos informar de semelhantes objeções. Vós as julgareis.
Um magistrado houve que nos declarou ser nefasta a nossa propaganda, porque o ensino da leitura viria augmentar o número de descontentes entre os nossos operários, os quaes, por serem analphabetos na sua maioria, limitavam, hoje, as suas aspirações á conquista do alimento de cada dia, acompanhado da sua dose de Paraty e de tabaco, ao passo que, aprendendo a ler, tomarão os nossos operários conhecimento das modernas doutrinas socialistas e pretenderão subverter a nossa organização política.
Um distincto general, eleito governador de um dos Estados Centraes, solicitado por mim, quando se despedia e offerecia os seus préstimos no Estado que ia governar, para influir no sentido de ser decretada a obrigatoriedade do ensino nesse Estado e augmentar o numero de suas escolas; muito positivamente me declarou que nós estávamos errados, que o que o povo brasileiro precisava era de aprender a trabalhar e não de aprender a ler.
E de um sábio professor e eminente político, homem respeitável por muitos títulos, cujo concurso a directoria da Liga fôra pedir para a abertura de maior número de escolas noctumas, ouvimos a singular asserção de que ‘nós deveriamos trabalhar antes pela educação do povo do que a instrucção, pois o povo brasileiro precisava mais de educação do que de instrucção’. Não pensamos nós, os da Liga Brasileira Contra o Analphabetismo, como os nossos concidadãos, cujas opiniões acabei de vos referir (TAMBARA, 2001TAMBARA, E.A.C. Atas e Trabalhos da Conferência Interestadual de Ensino Primário - 1921. Revista História da Educação, Pelotas, v. 5, n. 10, p. 155-223, 2001., p. 162).
As objeções ao ensino da leitura, tal como relata esse fundador da Liga, manifestam-se sob o signo da apreensão diante dos efeitos perversos de tal conquista/empreitada. Os membros da elite intelectual, mas também econômica, referidos como críticos das ações da Liga, nessa cerimônia, são apresentados de forma irônica e suas posturas como condenáveis porque, diferentemente de priorizarem os interesses patrióticos da Liga em relação à República, amesquinhavam-se em suas preocupações relativas à manutenção de seus privilégios salvaguardados pela alienação da mão de obra analfabeta que era empregada em seus negócios. Os argumentos referidos pelo fundador da Liga, que sustentavam a crítica dirigida a seus objetivos, são pautados por um imaginário contraditoriamente eufórico sobre essa prática. Esse imaginário a associa ao aumento da criticidade, ao engrandecimento intelectual, razão pela qual era pela elite considerada perigosa e deveria ser interditada a alguns.
Pertencentes à mesma elite, os membros da Liga e seus críticos compreendiam o papel cultural relevante do ensino da leitura, mas divergiam quanto ao papel desse ensino nos destinos do país. Estamos aqui diante do funcionamento próprio da contradição no interior de uma dada formação discursiva. Diminuir o número de analfabetos, para os primeiros, era um modo de atestar a superioridade da República em relação a outros modos de governo, era uma forma de modernizar o país e de fornecer mão de obra mais qualificada às atividades exercidas em contexto urbano. Alfabetizar os analfabetos, para os segundos, era um risco, uma vez que os trabalhadores poderiam reconhecer sua condição de explorados, exigir melhores salários por travarem contato com doutrinas políticas que subverteriam uma ordem preestabelecida.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente artigo, buscamos depreender alguns discursos de fomento à leitura a partir da análise de textos que abordaram as ações da Liga Brasileira contra o Analphabetismo. O ensejo para as ações dessa instituição foi a necessidade de consolidação da República no país. A educação foi assumida como um pilar central desse regime. O viés político e intelectual da Liga, visando a debelar o analfabetismo, e cujo prazo, a priori, seria o centenário da Independência, manifesta-se em seu programa. Ao enumerar suas propostas de lei e ao condenar a postura de seus críticos, os membros da Liga indiciam alguns princípios que orientavam suas ações, isto é, algumas representações discursivas de seus idealizadores sobre as práticas de leitura bem como sobre o público a que se destinavam.
Certas similitudes com discursos que ainda hoje perpassam nosso imaginário sobre a leitura no Brasil são bem sensíveis. Continuamos atribuindo aos indivíduos a responsabilidade por suas condições de leitores ou de não-leitores, ignorando o papel da desigualdade econômica na divisão social de quem pode ou não ser leitor em nosso país. Continuamos evocando a imagem genérica segundo a qual, e em comparação a outros países, somos um país de não-leitores, sempre em déficit. Desse modo, reproduzimos um discurso que desde sua emergência partiu, segundo Abreu (2001), de um modelo de leitor idealizado, europeu e burguês. Mais do que a denúncia de uma injustiça social, a indignação da Liga diante da situação “calamitosa”, “do mal” a ser debelado, e as soluções que então apresentou, refletem esse imaginário europeizado e burguês ao justificar sua ação em benefício da comemoração do centenário da República e ao atribuir aos indivíduos a responsabilidade, logo o ônus, de sua alfabetização. Continuamos ainda assumindo uma postura proselitista na relação entre aqueles que afirmam ler e propagam a leitura e aqueles de que se afirma não serem leitores, não lerem e, por isso, deverem ler.
As cruzadas do passado e de hoje se diferenciam em algumas de suas propostas, mas compartilham princípios semelhantes. Ainda que não estejamos diante de uma maioria analfabeta e de um cenário em que o Ensino Fundamental não era público nem obrigatório, nossas ações de promoção da leitura se aproximam de certas posturas dos cruzados da Liga, em especial, no que diz respeito à validação da hierarquia entre leitores e não-leitores, da acomodação a essa lógica e do gozo dessa hierarquia. Aquele que promove a leitura beneficia-se da imagem de leitor e de benfeitor promotor da leitura.
Embora em geral seja apresentada de maneira eufórica, observamos nessa breve amostra e análise a coexistência de discursos, em certa medida, pró e contra a promoção da leitura, balizados por uma representação eufórica dessa prática: por um lado, ela poderia ser mobilizada como ícone inconteste dos benefícios da República; por outro, se disseminada indistintamente a todas as classes, poderia desestabilizar uma ordem social historicamente estabelecida. Testemunhamos, com esta aparente contradição manifesta em relação ao fomento da leitura nesses textos relativos à Liga e suas ações, como se reforça, na verdade, os discursos relativos à importância cultural, política e social da alfabetização, e em especial da leitura: de um lado, é preciso trabalhar por sua ampla difusão; de outro, e ao mesmo tempo, nutrir sua raridade.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos o apoio da CAPES, sob a forma da bolsa de Doutorado, realizado no PPGL-UFSCar, e da bolsa de Doutorado Sanduíche, realizado na Université de Saint-Quentin-en-Yvelines (Processo: PDSE 99999.006692/2015-00), ambas concedidas para a realização da pesquisa intitulada A promoção da leitura: discursos e práticas de seu incentivo no Brasil, e da qual resulta parcialmente este artigo.
REFERÊNCIAS
- ABREU, M. Diferentes formas de ler. Disponível em: http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/Marcia/marcia.htm Acesso em: mar. 2018.
» http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/Marcia/marcia.htm - BAKHTIN, M. Gêneros do Discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- COURTINE, J.-J. O professor e o militante. In: COURTINE, J.-J. Metamorfoses do discurso político: derivas da fala pública. São Carlos: Claraluz, 2006. p. 9-28.
- COURTINE, J.-J. Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos. São Carlos: EdUFSCar, 2009. 250 p.
- CURCINO, L. Discursos hegemônicos sobre a leitura e suas formas de hierarquização dos leitores. In: CURCINO, L.; SARGENTINI, V.; PIOVEZANI, C. (Org.). (In)subordinações contemporâneas: consensos e resistências nos discursos. São Carlos: EdUFSCar, 2016. p. 231-249.
- CURCINO, L. Divisões e representações sociais de leitores no Brasil: uma análise de discursos da mídia sobre as práticas de leitura de políticos brasileiros. (Relatório científico de pós-doutorado). Campinas: UNICAMP/Versalhes: Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2018. (mimeo)
- LYONS, M. Os novos leitores no século XIX: mulheres, crianças, operários. In: CAVALLO, G.; CHARTIER, R. (Org.). História da Leitura no Mundo Ocidental 2. São Paulo: Editora Ática, 1999. p. 165-202.
- NOFUENTES, V. C. Um desafio do tamanho da nação: a campanha da Liga Brasileira Contra o Analfabetismo (1915-1922). 2008. 163f. Dissertação (Mestrado em História) - Centro de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
- SOARES, L.; GALVÃO, A. M. de O. Uma história da alfabetização de adultos no Brasil. In: STEPHANOU, M.; CAMARA BASTOS, M. H. (Org.). Histórias e memórias da educação no Brasil III: século XX. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. p. 257-277.
- TAMBARA, E.A.C. Atas e Trabalhos da Conferência Interestadual de Ensino Primário - 1921. Revista História da Educação, Pelotas, v. 5, n. 10, p. 155-223, 2001.
- UMA CRUZADA SANTA. A PRIMEIRA REUNIÃO DA LIGA CONTRA O ANALPHABETISMO. 1915a. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=348970_01&pasta=ano%20191&pesq=uma%20cruzada%20santa&pagfis=6231 Acesso em: out. 2021.
» http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=348970_01&pasta=ano%20191&pesq=uma%20cruzada%20santa&pagfis=6231 - UMA CRUZADA SANTA. O MELHOR MEIO DE COMMEMORARMOS O CENTENARIO DA INDEPENDENCIA. 1915b. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=348970_01&pasta=ano%20191&pesq=uma%20cruzada%20santa&pagfis=6235 Acesso em: out. 2021.
» http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=348970_01&pasta=ano%20191&pesq=uma%20cruzada%20santa&pagfis=6235 - VARELLA, S. G. Os discursos incentivadores da leitura: uma análise de campanhas contemporâneas em prol dessa prática. 2014. 161 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2014.
- VARELLA, S. G.; CURCINO, L. Discursos sobre a leitura: uma análise de vídeo-campanhas em prol dessa prática. Desenredo, Passo Fundo, v. 1, n. 1, p. 337-354, jul./dez. 2014.
- VARELLA, S. G. A Promoção da Leitura: discursos e práticas de seu incentivo no Brasil. 2018. 265 f. Tese (Doutorado em Linguística) - Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018.
-
1
Cf. Varella e Curcino (2014VARELLA, S. G.; CURCINO, L. Discursos sobre a leitura: uma análise de vídeo-campanhas em prol dessa prática. Desenredo, Passo Fundo, v. 1, n. 1, p. 337-354, jul./dez. 2014.) e Curcino (2016; 2018).
-
2
Referimo-nos mais especificamente às produções audiovisuais de campanhas de promoção da leitura realizadas por instituições públicas e privadas, bem como aquelas produzidas de forma amadora, publicadas na plataforma Youtube na última década, e que foram nosso objeto de análise na pesquisa de mestrado, com o apoio da CAPES. Cf. Varella (2014VARELLA, S. G.; CURCINO, L. Discursos sobre a leitura: uma análise de vídeo-campanhas em prol dessa prática. Desenredo, Passo Fundo, v. 1, n. 1, p. 337-354, jul./dez. 2014.).
-
3
Referimo-nos a nossa pesquisa de doutorado, intitulada A promoção da leitura: discursos e práticas de seu incentivo no Brasil, que contou com o apoio da CAPES. Cf. Varella (2018VARELLA, S. G. A Promoção da Leitura: discursos e práticas de seu incentivo no Brasil. 2018. 265 f. Tese (Doutorado em Linguística) - Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018.).
-
4
Bakhtin (2011BAKHTIN, M. Gêneros do Discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2011., p. 261) afirma que “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis”, que ele denomina “gêneros do discurso” e que se caracterizam pela regularidade quanto a seu conteúdo temático (aquilo que prioritariamente enunciam), estilo verbal (a linguagem adotada e o modo como é empregada) e construção composicional (relativa à aparência geral e formal do texto que permite ao que formula e ao que é exposto a um texto reconhecer, dado seu formato recorrente, e, graças a esse reconhecimento, antecipar aquilo de que trata o texto antes mesmo de sua decodificação propriamente dita).
-
5
Sobre esse papel político da escola na promoção da República entre os franceses, cf. Courtine (2006COURTINE, J.-J. O professor e o militante. In: COURTINE, J.-J. Metamorfoses do discurso político: derivas da fala pública. São Carlos: Claraluz, 2006. p. 9-28.).
-
6
Sobre esse processo de expansão da alfabetização e do público leitor francês, cf. Lyons (1999LYONS, M. Os novos leitores no século XIX: mulheres, crianças, operários. In: CAVALLO, G.; CHARTIER, R. (Org.). História da Leitura no Mundo Ocidental 2. São Paulo: Editora Ática, 1999. p. 165-202.).
-
7
Segundo Courtine (2009COURTINE, J.-J. Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos. São Carlos: EdUFSCar, 2009. 250 p., p. 105) “a noção de memória discursiva diz respeito à existência histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas por aparelhos ideológicos; ela visa o que Foucault (1971, p. 24) levanta a propósito dos textos religiosos, jurídicos, literários, científicos, ‘discursos que originam um certo número de novos atos, de palavras que os retomam, os transformam ou falam deles, enfim, os discursos que indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda a dizer’”.
-
8
Este conceito em AD diz respeito aos já ditos que frequentam e constituem todo e qualquer dizer. O interdiscurso atuaria como essa instância sempre anterior à emergência de um discurso, que fornece ou impõe o que nele é enunciável. “O interdiscurso é o lugar no qual se constituem, para um sujeito falante que produz uma sequência discursiva dominada por uma FD [formação discursiva] determinada, os objetos de que esse sujeito enunciador se apropria para fazer deles objetos de seu discurso, bem como as articulações entre esses objetos, a partir dos quais o sujeito enunciador vai dar uma coerência a sua declaração.” (COURTINE, 2009COURTINE, J.-J. Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos. São Carlos: EdUFSCar, 2009. 250 p., p. 74).
-
9
Tal como definida conceitualmente em nota anterior.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
24 Jun 2022 -
Data do Fascículo
Jan-Apr 2022
Histórico
-
Recebido
16 Jun 2020 -
Aceito
12 Jul 2021
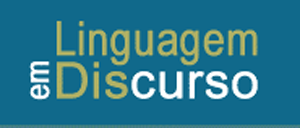



 Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional
 Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional