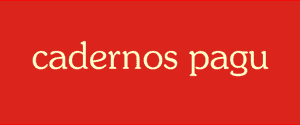Resumo
Neste artigo, revisitamos o clássico debate sobre performance e performatividade nos estudos queer , recentemente atualizado pela proposição de um terceiro conceito, a “perfechatividade de gênero”. Sinalizamos alguns nós nessa trama de conceitos, discutimos suas implicações teóricas e propomos uma maneira de desatá-los – ou, ao menos, amarrá-los de outras maneiras – a partir da contribuição de autores cujas obras são ainda pouco exploradas no contexto brasileiro, especialmente Eve Sedgwick.
Performatividade; Performance; Teoria queer ; Homossexualidade; Teoria dos afetos
Abstract
In this article, we revisit the classic debate on performance and performativity in queer studies, recently updated by the proposition of a third concept, “ perfechatividade de gênero ”. We identify a few nodes in this web of concepts, discussing their theoretical implications and proposing a way to untie them – or, at least, tie them up in other ways – based on the contribution of queer authors whose major works are still little explored in the Brazilian context, especially Eve Sedgwick.
Performativity; Performance; Queer theory; Homosexuality; Affect theory
Performance, performatividade, perfechatividade: uma introdução ao debate
De todo o emaranhado de conceitos e teorias associados aos assim chamados “estudos queer ”, o nó formado entre “performatividade” e “performance” é certamente um dos mais difíceis de se desatar. O ponto fulcral desse enrosco é Problemas de Gênero (2017), livro lançado por Judith Butler originalmente em 1990, e a partir do qual a autora propôs uma teoria performativa do gênero em oposição à metafísica da substância implícita em algumas teorias feministas. Sua sugestão é que entendamos o gênero como algo que se faz mais do que se é , de modo que nossa percepção comum de que somos homens ou somos mulheres nada mais seria do que efeito aparente de uma combinação complexa de repetições de comportamentos, gestos e atos de linguagem regulados por uma matriz heterossexual. Butler argumenta que o gênero é performativo no sentido de que produz um efeito de realidade, inclusive realidade material, já que falamos também da própria corporalidade sexuada.
A grande novidade dessa proposição – e um dos seus pontos mais delicados e controversos – é a abertura de uma possibilidade radical de transformação social. Afinal, se o gênero é algo que se faz, então podemos fazê-lo de diferentes maneiras, inclusive de modos que desafiem as normas que buscam regular corpos, identidades e desejos de acordo com a linearidade cisgênera e heterossexual. Decorre daí a conhecida ênfase dada por Butler ao potencial político da ressignificação e da paródia: mais do que uma estilização individual, a filósofa vê nessas práticas uma possibilidade de desestabilizar e tensionar os limites que regulam zonas de inteligibilidade e abjeção em contextos específicos.
A proposição de Butler colocou uma série de problemáticas para o estudo de gênero, começando pela relação entre a agência política e a natureza do sujeito. Em que medida poderíamos definir a subversão ou reiteração das normas de gênero como resultante de uma disposição voluntária de um sujeito? Se o sujeito é efeito da performatividade, é possível atribuir-lhe uma intenção subversiva? E se há uma disposição voluntária na subversão do gênero, isso significa que podemos escolher nossa identidade ou mesmo a orientação de nossa sexualidade em direção a um ou outro gênero? Para responder essas e outras questões, Butler se viu forçada a traçar uma diferenciação clara entre performance artística e a performatividade linguística, dois conceitos que frequentemente se sobrepõem e às vezes até mesmo se confundem no estudo das artes e nas ciências humanas:
A performance como “ato” delimitado se distingue da performatividade na medida em que esta última consiste na reiteração de normas que precedem, constrangem e excedem o performador e, nesse sentido, não podem ser tomadas como a fabricação da “vontade” ou “escolha” do performador; além disso, o que é “performado” funciona para ocultar, se não denegar, o que permanece opaco, inconsciente, imperformável. A redução da performatividade à performance seria um erro ( Butler, 1993BUTLER, Judith. Bodies that Matter: on the discursive limits of “sex”. Nova Iorque, Routledge, 1993.: 1781 1 Todas as citações e referências originalmente em língua estrangeira e que foram traduzidas neste artigo são de tradução livre dos autores. ).
Dois importantes argumentos estão condensados neste breve excerto. Comecemos pelo problema da autonomia: como sugere Butler, na performance o intérprete exerce um tipo de controle sobre o seu personagem através de sua “vontade” ou “escolha”; ele maneja sua gesticulação, seus maneirismos, seu modo particular de falar, e a maestria dessa condução é justamente o que se destaca no trabalho de um bom profissional. Já no caso da performatividade, o controle é muito mais restrito devido à dimensão inconsciente envolvida no processo de repetição e incorporação. O próprio sujeito que atua é conduzido em um processo que Butler descreve à luz da teoria freudiana da melancolia; sua identidade generificada surge como efeito da repetição das normas que o “precedem, constrangem e excedem” e da incorporação de objetos sexuais cujo acesso por outras vias é por elas proibido.
O segundo argumento diz respeito à visibilidade. Butler argumenta que a performatividade funciona como uma naturalização do gênero; ela oclui, oculta e denega o funcionamento de sua engrenagem normativa, fazendo com que nossas identidades como homens e mulheres pareçam enganosamente estáveis, monolíticas e inatas. Nossa liberdade para negociação é relativa, porque nossa capacidade de enxergar a dinâmica inconsciente desse processo também é limitada. Já no caso da performance teatral ocorre algo diferente. Quando fala sobre a drag queen , exemplo paradigmático em Problemas de Gênero (2017), Butler sugere que o efeito cômico e o potencial subversivo estão relacionados à exposição do caráter arbitrário do gênero por meio da caricatura, do exagero e da artificialidade: “ Ao imitar o gênero, a drag revela implicitamente a estrutura imitativa do próprio gênero – assim como sua contingência ” ( Butler, 2017BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2017.: 237, grifo da autora). Em nenhum momento a drag queen quer se fazer passar por mulher, portanto. O sucesso da sua apresentação se baseia na premissa de que o público sabe que sua imagem é artificial, irreal, exagerada, e o potencial político decorre da sugestão cifrada de que toda e qualquer identidade de gênero é também, em alguma medida, artificial, irreal e exagerada.
Ao estabelecer essa distinção, Butler ressalta que o gênero não funciona como uma performance teatral: não temos como dirigir nossa identidade de gênero tal como um ator coordena a gesticulação e a expressividade de um personagem. Na verdade, é a repetição compulsiva de um script generificado, composto por normas delimitadas no tempo e no espaço, que é internalizado inconscientemente pelo “ator” convocado a interpretá-lo. O ato subversivo da drag seria uma manifestação de resistência pontual ao regime de verdade heterossexual do sexo; ela “alegoriza um conjunto de fantasias incorporativas melancólicas que estabilizam o gênero” ( Butler, 1993BUTLER, Judith. Bodies that Matter: on the discursive limits of “sex”. Nova Iorque, Routledge, 1993.: 180). Uma das preocupações que levaram Butler a ressaltar essa diferença é o receio de uma interpretação demasiadamente voluntarista de sua teoria, o que poderia fornecer munição àqueles que se valem da “fluidez de gênero” para defender terapias de reorientação sexual e outras práticas obtusas. Com a intenção de evitar essa má-apropriação, Butler faz com que a elasticidade do termo “performatividade” se esgarce entre dois polos: em um lado a extroversão do ator e, de outro, a introversão do significante. Na sua vertente desconstrutiva, performatividade significa absorção e introjeção; na sua aproximação com o palco, significa expressão e teatralidade.
A distinção conceitual proposta por Butler ajudou a blindar sua teoria, por assim dizer, mas cobrou um alto preço: o enrijecimento dos limites entre cotidiano e arte, realidade e ficção, profundidade e aparência, binarismos que estavam presentes no princípio da teoria pioneira de John Austin sobre os atos de fala (1975) e que haviam passado por um processo de desconstrução nas mãos de Shoshana Felman (2003)FELMAN, Shoshana. The Scandal of the Speaking Body: Don Juan with JL Austin, or seduction in two languages. Stanford, Stanford University Press, 2003. e Jacques Derrida (1991)DERRIDA, Jacques. Margens da filosofia. Campinas, Papirus, 1991. , duas influências teóricas da própria Butler.
Recentemente, Leandro Colling, Murilo Arruda e Murillo Nonato (2019) publicaram, nesta revista, um dos artigos mais instigantes sobre o tema, escrito a partir de reflexões sobre duas etnografias realizadas com homens gays afeminados e com a cultura da fechação em Salvador. De acordo com os autores, o comportamento afeminado ou fechativo confunde a distinção butleriana e embaralha seus binarismos: ele não pode ser descrito como uma performance propriamente dita, já que não há um personagem sendo conduzido por um intérprete, e tampouco pode ser considerado simplesmente performativo, visto que vários dos gays afeminados estilizam sua gesticulação e seu vocabulário de modo deliberado.
Nas entrevistas realizadas por Colling, Arruda e Nonato, os jovens relatam que coordenam seus comportamentos de acordo com os diferentes contextos pelos quais circulam, gesticulando de maneira afeminada e fechativa quando estão com amigos, e menos afeminada em ambientes familiares ou quando entendem que aproximar-se aos padrões de masculinidade pode lhes garantir algum benefício: “Quando a gente [o pai, a mãe e o irmão] se senta para meu pai preparar a carne, eu me faço de morta. [...] É muito bom, principalmente a comida, mas eu fico duro, pareço até meu irmão” (Colling; Arruda; Nonato, 2019:23); “Teve uma época que para ser aceito, então para dar uns pegas na balada eu não dançava, quando eu queria pegar alguém eu não dançava. Fazia aquela dancinha, sabe? Um pé para o lado e um pé para o outro, mas eu não dançava do jeito que eu gostava de fazer coreografia, de dançar” (Colling; Arruda; Nonato, 2019:29).
Como salientam Colling, Arruda e Nonato, no comportamento desses rapazes parece sempre haver um componente de performance, seja nos momentos de fechação, quando desmunhecam afrontosamente e fazem um uso provocativo do contraste entre insígnias masculinas e femininas, seja nos momentos em que tentam se enquadrar nos padrões de masculinidade que entendem ser-lhes socialmente demandado. Por outro lado, há também algo que escapa a suas performances. Quando tentam “endurecer” ou “se fazer de morta”, traços fechativos nunca desaparecem por completo, e quando coordenam seus corpos e movimentos para “causar” ou “lacrar”, pode-se também reconhecer o “gay durinho” habitando os seus corpos. Esses resíduos resistem ao controle característico da performance pois seriam, ainda de acordo com os autores, “efeitos que a performatividade amalgamou na materialidade expressiva de seu corpo” (Colling; Arruda; Nonato, 2019:26); sua presença indica que há sempre algo que excede e constrange a performance de maneira inconsciente.
Butler nunca separou totalmente performance e performatividade; ela as situou como movimentos irredutíveis e complementares, o que ajudaria a responder a essa crítica. Da parte de Colling, Arruda e Nonato, os autores sugerem que seria importante pensar as experiências dos gays afeminados desde um conceito específico, a “perfechatividade de gênero”, que atentaria para a combinação singular entre performatividade e fechação característica de seu comportamento escandaloso. Se o conceito tradicional de fechação remete a uma performance expressiva, intencional e isolada no tempo, e se a performatividade opera pela repetição e internalização generalizada no próprio funcionamento da linguagem, então “a perfechatividade quer olhar para o que fica entre esses dois extremos: a fechação que existe na performatividade e a performatividade que existe na fechação” (Colling, Arruda e Nonato, 2019:31).
É uma sugestão instigante, tanto pelo salto teórico quanto pela observação empírica que lhe serve de base, mas reconhecemos alguns pontos passíveis de questionamento na análise de Colling, Arruda e Nonato, e será por meio desses questionamentos que apresentaremos, na sequência, nossa própria proposta de contribuição ao debate.
Em primeiro lugar, os autores não se preocupam em definir o que entendem por “gays afeminadas ou fechativas”. Há descrições breves e uma nota de rodapé indicando usos anteriores dessa categoria, mas a falta de uma delimitação impede que entendamos claramente quais são as diferenças observadas entre “gays fechativas” e “gays não-fechativas”, e se se trata de uma distinção êmica ou analítica. Parece-nos óbvio que os autores não supõem que gays fechativos são naturalmente afeminados e que gays não-fechativos são naturalmente masculinos, pois isso colocaria abaixo de uma só vez toda a perspectiva anti-essencialista da teoria queer a qual subscrevem. Também nos parece incoerente que os autores partam do pressuposto de que a fechação é resultado de uma escolha conscientemente deliberada, já que isso ameaçaria reintroduzir o princípio da intencionalidade característico da performance teatral que queriam desde o princípio problematizar.
Indefinições não são necessariamente problemáticas e a polivalência do termo queer é uma prova de que podem ser, inclusive, positivas. Mas é importante notarmos que, em decorrência dessa indefinição em particular, a categoria “perfechatividade” permanece fraturada entre dois entendimentos hesitantes que se alternam ao longo do texto: por vezes os autores argumentam que essa seria uma prática minoritária, específica dos homens gays afeminados, e em outros momentos parecem tratar de um fenômeno universal, uma ferramenta conceitual útil para compreendermos as relações entre performance e performatividade em contextos e situações variadas. O problema da primeira abordagem é o risco de reificar a categoria “gays fechativas”, essencializando identidades em um campo que se define anti- ou pós-identitário (se há uma perfomatividade específica dos gays afeminados, não haveria também uma performatividade específica das bichas góticas, das lésbicas caminhoneiras?); já a segunda abordagem escapa desse particularismo, mas cria um paradoxo ao nomear uma categoria pretensamente universal a partir da prática da fechação, um fenômeno especificamente vinculado à cultura gay masculina.
Este artigo não é uma crítica ao conceito de perfechatividade, mas uma tentativa de desdobrá-lo a partir dos seus próprios nós conceituais. Parece-nos valioso o insight apresentado por Colling, Arruda e Nonato (2019) de que há algo específico na experiência da homossexualidade masculina que desafia a díade performatividade/perfomance, e queremos explorar essa intuição por outras vias, conectando-a a outras temáticas, ferramentas conceituais e dialogando com outras referências importantes nos estudos queer . Interessa-nos sobretudo o trabalho de Eve Sedgwick, acadêmica estadunidense frequentemente identificada como uma das fundadoras do campo, autora de diversos ensaios sobre performance, performatividade e homossexualidade masculina, e cuja obra é infelizmente ainda pouco explorada em nosso país.
Nas próximas seções deste artigo, sugerimos que as contribuições de Sedgwick podem complementar a análise sobre a “perfechatividade de gênero” ao propiciar um deslocamento de ênfase desde a relação entre fechação e homossexualidade para a relação entre a vergonha, estigma e a dinâmica do armário. Começamos com uma contextualização sobre as principais preocupações teóricas e temáticas de Sedgwick – o que é fundamental para situar algumas das diferenças entre sua abordagem e aquela desenvolvida por Butler – e então apresentamos uma síntese da sua teoria sobre performance e performatividade, assinalando algumas de suas implicações para o debate sobre fechação e a perfechatividade. Além de uma contribuição para esse debate conceitual específico, planejamos esse artigo como esboço para uma possível introdução ao pensamento de Sedgwick. Esperamos que nossa contribuição possa facilitar uma maior abertura local à sua obra (para além do primeiro capítulo de Epistemology of the Closet , este sim bastante difundido no Brasil e publicado por esta revista em 2007), que certamente será vantajosa ainda que tardia.
Contextualizando Sedgwick
Diferentemente de Butler, filósofa de formação, Sedgwick foi uma crítica literária e uma teórica das artes: ela teve no primeiro plano de suas preocupações o trabalho de artistas e escritores, seus temas, inspirações, dilemas, métodos criativos e a relação que estabeleceram com o contexto social em que estavam inseridos. Foi em torno das problemáticas pertinentes a esses objetos de estudo que Sedgwick mobiliza e articula seu aparato teórico-conceitual.
Outra explicação para a centralidade da performance na obra de Sedgwick é o interesse que nutria pela homossexualidade masculina e pela cultura gay. Durante muito tempo, os seus amigos mais próximos foram dois homens gays, o que fez com que testemunhasse de perto o impacto do preconceito na saúde mental deles e os prejuízos interpessoais decorrentes da necessidade de dissimulação e do segredo, fenômenos intensificados ainda mais pela emergência da epidemia de HIV/Aids nos anos 1980. Essas preocupações foram fundamentais para a escrita daquela que é, muitas vezes, considerada sua obra mais importante, Epistemology of the Closet (Epistemologia do Armário) (1990), dedicada a entender as vicissitudes da homofobia na cultura ocidental a partir de uma reinterpretação bastante ousada de alguns dos seus cânones literários. Sedgwick argumenta que os homossexuais nunca podem de fato sair do armário, dado que em cada nova circunstância de suas vidas – circulação por novos ambientes, apresentação a novas pessoas –, a expectativa da heterossexualidade atualiza a necessidade de negociação da informação e da visibilidade. Mais do que uma peça de mobília, o armário teria a forma de uma rede labiríntica de suposições científicas, acadêmicas e corriqueiras que atravessa todo o tecido social, determinando o que pode ser comunicado sem ser falado, o que pode ser conhecido sobre a real natureza de uma pessoa por meio de sua aparência, gostos e trejeitos físicos, quem deve revelar o que a quem, e qual é o peso da revelação e do silêncio.
Quando um sujeito está obstinado a manter sua orientação sexual em segredo absoluto, ele não tem como saber se, de fato, consegue ludibriar outras pessoas de seu convívio ou se está sendo tratado como hétero porque essas pessoas entram no jogo da dissimulação, gozando, assim, de um “privilégio epistemológico” ( Sedgwick, 1990SEDGWICK, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1990.: 5). Muitos gays desenvolvem com seus familiares, amigos e colegas, relações baseadas na dinâmica do “segredo aberto” ( Sedgwick, 1990SEDGWICK, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1990.: 53). Sua convivência pode passar anos – às vezes uma vida inteira – baseada em um acordo tácito para evitar o tema proibido, um jogo que facilmente ganha contornos paranoicos ou tons de zombaria, como quando um grupo de amigos abertamente discute a homossexualidade de outro que nunca a revelou oficialmente.
Sair do armário tampouco é uma garantia de libertação. Em primeiro lugar, como já mencionamos, porque não é possível sair do armário de uma vez por todas, e mesmo que um homem gay faça uso de todos os vestuários e gestos associados à homossexualidade em sua comunidade – como se isso lhe poupasse do encargo de esclarecimentos –, ele viverá com a constante dúvida se está sendo entendido ou não. Uma das “fechativas” entrevistadas por Colling, Arruda e Nonato (2019:27), por exemplo, conta que mesmo ostentando provocativamente sua afeminação, não deixa de ser interpelada inquisitivamente: “quando eu vou ao shopping, compro roupa na parte de menina [...] Mas teve um dia que uma menina me disse na lata: essa calça é de mulher. Eu respondi: “Não, meu amoooorrrr... essa calça é de meninnnaaa...”.
Um sujeito que decide revelar a homossexualidade a um determinado círculo de amigos, ou familiares, muitas vezes puxa para junto de si essas pessoas, que a partir de então compartilham a tarefa de vigiar a disseminação da informação no ambiente social mais amplo. Elas precisarão estar atentas para não deixar escapar nenhuma informação suspeita, deverão ponderar se podem comentar o assunto com terceiros e com quais terceiros, e terão que incorporar diferentes modos de se comportar com o próprio sujeito homossexual de acordo com diferentes ambientes, regimes de visibilidade e de conhecimento. Se levarmos em consideração as complexas redes que se formam pela disseminação velada do segredo aberto – pela sobreposição entre suspeita, paranoia, fofoca, confissão, dissimulação, omissão etc. – então podemos chegar à conclusão nem tão surpreendente de que todos nós, independente de nossa orientação sexual, estamos amarrados a um armário.
É claro que nem todos estamos igualmente vulneráveis nessa rede, mas é importante ter-se em mente que o armário é, acima de tudo, uma estrutura relacional . Ele afeta todos a sua volta e é por isso que a decisão de revelar ou não a homossexualidade nunca é baseada exclusivamente em especulações sobre a segurança mental, física e social do sujeito homossexual sobre si mesmo. Pode acontecer, por exemplo, que a revelação do segredo de um filho prejudique os pais, caso vivam em uma comunidade conservadora ou trabalhem para alguma instituição religiosa. Em outros casos, a própria identidade dos terceiros pode ser “tirada do armário”, como a de um pai que tem sua masculinidade questionada pela suspeição pública da homossexualidade do filho, ou a de um grupo de amigos homens que passou a juventude em confraternizações “homossociais” e é perturbado pela descoberta de que um dos seus participantes é gay ( Sedgwick, 1985SEDGWICK, Eve Kosofsky. Between Men: English Literature and the Male Homossocial Desire. Nova Iorque, Columbia University Press, 1985. ).
É por afetar aquele que testemunha a saída do armário que a resposta a esse gesto é geralmente violenta, podendo resultar na exclusão social ou mesmo em morte. Mas é muito mais comum que esse desconforto seja resolvido com algum tipo de resposta evasiva, como a alegação de que não é necessário falar sobre esse assunto, que a sexualidade é uma questão individual e que a vida privada deveria continuar restrita aos lares de cada um. É o que Sedgwick (1990SEDGWICK, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1990.: 5) chama de “privilégio da ignorância”, uma estratégia que também inferioriza os gays ao caracterizá-los como alguém que viola o espaço comum com a demanda por falar de um tema supostamente íntimo. O que se produz nesses casos é a impossibilidade de dizer que se é gay de maneira simples ou banal, visto que tal afirmação, contrastada com o contexto heteronormativo, sempre será lida como um certo exibicionismo, como um comportamento exagerado que beira o espetáculo. É a mesma retórica utilizada em discursos conservadores que, para impedir campanhas públicas contra o preconceito, afirmam que gays e lésbicas “gostam de aparecer”.
A necessidade de representar papéis é formadora para muitos homens gays que, desde cedo, precisam inventar técnicas de ocultação e dissimulação para sobreviver. É certo que todos os meninos precisam aprender a representar um tipo de masculinidade hegemônica, e inclusive para os héteros mais convictos isso pode acarretar prejuízos para a saúde física e mental. A diferença é que parte do que demanda a masculinidade hetero é aprender e depois esquecer o aprendizado, o que é facilitado pela capacidade de camuflagem no ambiente heteronormativo. Já para os gays, a sensação de dissimulação se mantém viva e presente, chocando-se com a expectativa paulatinamente reiterada da heterossexualidade, da qual não podem se emancipar com a confissão ou com o segredo. É por esse motivo que muitos gays, mesmo já tendo “saído do armário”, mesmo vivendo com familiares e amigos abertamente anti-homofóbicos2 2 Atualmente, costuma-se utilizar expressões mais abrangentes, tais como “anti-LGBTQIA+”. Optamos pelo termo “anti-homofóbico” em virtude de ter sido utilizado diversas vezes pela própria Eve Sedgwick em suas publicações. , podem permanecer com a impressão de que algo ainda está fora do lugar quando apresentam um companheiro. Contraposta à expectativa da heterossexualidade, a experiência da homossexualidade nunca deixa de produzir uma perturbadora sensação de inadequação e desarmonia; seja pela falta ou seja pelo excesso, ela sempre parecerá uma performance .
O último ponto a ser destacado nesta contextualização é o interesse de Sedgwick pela psicologia dos afetos. Sedgwick foi uma das pioneiras do chamado “giro afetivo” ocorrido nos anos 1990, um conjunto de pesquisas de múltiplas áreas e inspirações teóricas que trouxeram as emoções e o corpo ao centro dos debates acadêmicos em ciências humanas, desafiando de maneira transdisciplinar alguns dos tradicionais dualismos operantes no pensamento ocidental: razão/emoção, atividade/passividade, público/privado, linguagem/corpo. A relação entre afetos e política antecede em muito esse marco temporal, obviamente, mas o “giro afetivo” foi responsável por retomar obras clássicas e conectá-las a questões contemporâneas, abrindo espaço para o desdobramento de novos campos de investigação, inclusive de boa parte do que hoje entendemos como estudos queer ( Solana; Vacarezza, 2020SOLANA, Mariela; VACAREZZA, Nayla Luz. Relecturas feministas del giro afectivo. Revista Estudos Feministas 28(2), Florianópolis, 2020, pp.1-6. ).
Em um dos ensaios mais citados sobre o assunto, Sedgwick (2003)SEDGWICK, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham e Londres, Duke University Press, 2003. discutiu a relação entre a dimensão dos afetos e a questão do método nas humanidades, clamando pelo deslocamento da crítica cultural desde um modo de leitura paranoide para um modo de leitura reparadora. O modo de leitura paranoide seria marcado por uma “hermenêutica da suspeita” concentrada em desvelar relações de poder, em denunciar sistemas de opressão invisíveis e – em última instância – em definir o potencial libertador ou disciplinar de um texto ou objeto cultural diante dessas descobertas. Inspirada pela teoria das relações objetais desenvolvida por Melanie Klein, Sedgwick argumenta que essa suspeita generalizada produz uma espiral de ansiedade epistêmica e faz com que acabemos cindindo os textos em partes boas e partes ruins, em vez de os entendermos como mosaicos complexos e em constante transformação. Como alternativa, Sedgwick propõe uma leitura reparadora baseada na outra posição subjetiva apontada por Klein, a posição depressiva, que acontece quando o sujeito é capaz de reconhecer a coexistência entre bem e mal no seu objeto de investimento libidinal.
O que está em jogo nessa distinção, além da questão do método, é o desafio ético que envolve a consideração dos laços afetivos que unem sujeito e objeto de estudo. Na posição esquizoparanóide, a desconfiança, a ansiedade e a insegurança geram uma necessidade de resolução de paradoxos e contradições, tais como seio bom/seio mau, se pensarmos na teoria original de Klein, ou poder/resistência, se pensarmos em todo o variado campo da teoria queer influenciado pela herança de Michel Foucault. Na posição depressiva, a maior sensação de segurança e aceitação da ambiguidade permite ao leitor que faça uso do texto, ou outro objeto de estudo, sem necessariamente precisar enquadrá-lo em esquemas avaliativos pré-moldados. Ao invés de romper com as partes “ruins” do texto, acusando-as de não serem suficientemente libertadoras e revolucionárias, a reparação tenta buscar alternativas, refazer laços, dar outra vez uma forma àquilo que fora esquartejado pela ansiedade epistemológica.
Problemas de Gênero ( Butler, 2017BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2017. ) é uma das obras citadas por Sedgwick como exemplo de leitura paranoide. Seus dois primeiros capítulos são dedicados respectivamente a uma minuciosa revisão da teoria feminista e dos pressupostos generificados da teoria da constituição do sujeito na psicanálise e, de fato, a posição de Butler nessas análises é de suspeita, desconfiança e desmistificação, como se a cada subcapítulo se desmascarassem os problemas ontológicos implícitos nas teorias de Beauvoir, Wittig, Irigaray, Freud e Lacan. No terceiro capítulo, essa dinâmica se atualiza de maneira ainda mais dramática quando Butler opõe o Foucault d’ A Vontade de Saber ao Foucault que prefacia os diários de Hérculine Barbin, e ao longo das dez páginas em que apresenta a teoria da performatividade de gênero, repetindo inúmeras vezes os termos “desnaturalizar”, “revelar” e “denunciar”.
Mais do que uma obra paranoide, Problemas de Gênero gerou problemas paranoides, tais como a distinção teórica que é objeto de análise deste artigo, e objetivos paranoides, tais como a identificação e separação entre performances que subvertem as normas de gênero e performances que reiteram as normas de gênero. Basta uma ida a um congresso de gênero ou uma rápida busca em indexadores científicos para encontrarmos variados exemplos de estudos que se valem da teoria butleriana para definir se um determinado filme, livro, música, artista ou intervenção é mais subversivo ou mais normalizador. Como o divisor de águas que foi, Problemas de Gênero instituiu a paranoia como método de investigação privilegiado nos estudos queer , e é justamente com uma tentativa de virar a chave metodológico-afetiva para uma abordagem reparadora que devemos entender a teoria de Eve Sedgwick.
Ser invisível, ser uma diva
As diferenças de interesse e formação fizeram com que Butler e Sedgwick abordassem o problema performance/performatividade de ângulos distintos. Enquanto a primeira partiu da interpelação médica – “é uma menina!” ou “é um menino!” – para explorar a dimensão performativa do gênero, a segunda preocupou-se principalmente com os efeitos performativos da saída do armário (“Sou gay!”), da dissimulação (“Não sou gay!”), do ativismo (“Estamos aqui!”) e, sobretudo, como um conector entre todas essas interpelações, Sedgwick interessou-se pelos efeitos performativos da expressão homofóbica “ Shame on you! ” (“Que vergonha!”, ou, literalmente, “Vergonha sobre você!”).
Para além da expressão linguística, Sedgwick entendia que o afeto em si tem uma dimensão performativa. A vergonha não só expressa a dinâmica de discriminação social engendrada pela homofobia, como também ajuda a construir uma subjetividade queer . Para analisar as minúcias desse processo, suas nuances e seus paradoxos, Sedgwick recorreu à teoria dos afetos desenvolvida pelo psicólogo estadunidense Silvan Tomkins, a qual lhe parecia especialmente compatível com as ambições dos estudos queer (e com outros campos acadêmicos influenciados pela filosofia pós-estruturalista) por recusar a “teleologia heterossexista” inculcada em muitas das teorias tradicionais do desenvolvimento na psicologia, e por abordar a sexualidade para além da chave proibição/liberação ( Sedgwick; Frank, 1995SEDGWICK, Eve Kosofsky; FRANK, Adam (ed.). Shame and Its Sisters: A Silvan Tomkins Reader. Durham e Londres, Duke University Press, 1995.: 7). Considerando as limitações de espaço, deixaremos de lado a obra original de Tomkins para apresentar diretamente a interpretação de Sedgwick, bem como as associações feitas pela autora entre a experiência da vergonha e a queeridade .
Conforme Sedgwick (2003)SEDGWICK, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham e Londres, Duke University Press, 2003. , a vergonha é uma sensação intensa e paradoxal: é capaz de inundar o corpo em momentos de humilhação e constrangimento, mas pode evaporar rapidamente quando essas situações se desfazem; projeta-se facilmente entre diferentes sujeitos, mas não deixa de ser peculiarmente individualizante; por vezes some sem deixar rastros e em outras nos conecta à memória de uma situação de constrangimento por uma vida inteira. Acima de tudo, Sedgwick destaca que a vergonha é simultaneamente uma falha de comunicação e uma tentativa de retomá-la. Seus sinais mais visíveis no corpo – o rubor, a face corada, os olhos que fogem do encontro com outros olhos, a cabeça que se volta para baixo – distanciam o sujeito da cena vexaminosa, mas também expressam por outras vias aquilo que em algumas circunstâncias é impronunciável. A vergonha é uma forma de comunicação não verbal tal como o estigma: “está para o olhar e para o sorriso, assim como o silêncio está para o discurso, assim como o vômito e a náusea estão para a fome” ( Sedgwick; Frank, 1995SEDGWICK, Eve Kosofsky; FRANK, Adam (ed.). Shame and Its Sisters: A Silvan Tomkins Reader. Durham e Londres, Duke University Press, 1995.: 134).
Para dar materialidade a esses paradoxos, Sedgwick costumava pedir a seus alunos que imaginassem uma pessoa suja e maltrapilha entrando na sala de aula, proferindo em tom alto um discurso simultaneamente delirante e acusatório, e urinando na frente de todos. Ela argumenta que os alunos provavelmente reagiriam virando seus rostos para baixo, desejando estar em qualquer outro lugar, e sofreriam por saber que isso é impossível. Tomaria conta de cada uma das pessoas presentes um desejo de abandonar os seus próprios corpos, que em seguida daria lugar ao doloroso reconhecimento da impossibilidade de evitar certa identificação com o homem de comportamento constrangedor: “Esse é o movimento duplo feito pela vergonha: em direção a uma individuação dolorosa, em direção a uma relacionalidade incontrolável” (Sedgwick, 2003:37).
É importante notar que essa ideia de comunicação está ligada a uma compreensão intersubjetiva do processo de constituição psíquica: a vergonha assinala uma falha no vínculo identificatório que já estava em vias de se constituir entre duas ou mais pessoas, e ao mesmo tempo em que interrompe esse processo também constrói a identidade. A intenção de Sedgwick não era propor uma teoria do desenvolvimento da homossexualidade, mas sugerir que a experiência da vergonha (vivida principalmente na infância, mas não apenas) é uma das vias mais importantes através das quais o estigma produz subjetividade, assinalando o cerne queer da identidade como uma instância radicalmente relacional. Nesse jogo de reconhecimento e falhas de reconhecimento, a passagem fugaz e intensa da vergonha altera as estratégias relacionais de interpretação que um sujeito desenvolve em relação a outros e consigo mesmo, assinalando, em um movimento desconstrutivo e fundante, o lugar da identidade como um impulso ao performativo: “raça, gênero, classe, sexualidade, aparência e capacidade são apenas algumas das construções sociais definidoras que se cristalizarão ali, desenvolvendo a partir desse afeto originário suas estruturas particulares de expressão, criatividade, prazer e luta” ( Sedgwick, 2003SEDGWICK, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham e Londres, Duke University Press, 2003.: 63).
O argumento de Sedgwick é que as performances públicas funcionam em parte como um desses impulsos ao performativo; são tentativas de reparar vínculos, reatar laços e refazer a comunicação danificada pelo estigma. Não se trata de uma “cura” no sentido corretivo do termo, visto que a performance é parte da experiência transformacional da vergonha. Retraimento e exibicionismo são linhas de uma mesma costura e as performances públicas são ocasiões privilegiadas para visualizarmos como a vergonha pode transformar-se de um em outro, virando a costura do avesso, projetando-se, potencializando-se ou simplesmente evaporando, o que vale tanto para a performance artística, quanto para a performance política que caracteriza algumas formas de ativismo e a militância:
Sempre que o ator, o artista performático, ou, eu adicionaria, o ativista das políticas de identidade, oferece o espetáculo de seu “narcisismo” infantil a um olho espectador, o palco está montado, por assim dizer, para uma nova dramatização da inundação do sujeito pela vergonha de um retorno do rechaçado; ou para a pulsação bem-sucedida da mirada especular através do circuito narcisístico tornado elíptico (ou seja, necessariamente distorcido) pela hipérbole de seu elenco original. (...) A vergonha é o sentimento que recobre o umbral entre a introversão e a extroversão, entre a absorção e a teatralidade, entre a performatividade e a performatividade ( Sedgwick, 2003SEDGWICK, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham e Londres, Duke University Press, 2003.: 38).
Além do ator, do artista performático e do ativista, sugerimos incluir nessa lista os gays afeminados entrevistados por Colling, Arruda e Nonato (2019). Queremos destacar, assim, que além de uma paródia subversiva das normas de gênero, seu comportamento fechativo pode ser entendido como uma tentativa de reparar um vínculo compensando o dano provocado pela falha de comunicação com um exagero que distorce outra vez o circuito de reconhecimento. Não estamos falando da liberação da sexualidade reprimida no ambiente familiar, onde os gays afeminados precisam ficar “durinhos” para se ajustar às expectativas. A fechação seria antes uma forma de redramatização desses momentos através do retorno hiperbolizado do que permanece interrompido pela quebra de comunicação, podendo resultar ou não em uma transformação dos vínculos que unem seus diferentes personagens. A performatividade de gênero não existe sem um palco, sem espectadores, sem a expectativa de identificação. Como uma forma de enlaçar os diferentes personagens desse elenco, a fechação é tão afrontosa quanto aproximativa, tão violenta quanto catártica, tão cômica quanto trágica.
Entendemos que a teoria de Sedgwick pode complementar a proposição de Colling, Arruda e Nonato (2019), contextualizando a fechação na dinâmica intersubjetiva do armário e fornecendo densidade psicológica e fenomenológica ao conceito de “perfechatividade”. Seguindo essa via, diríamos que a fechação não é a única prática a confundir performance e performatividade no âmbito da cultura gay; o ativismo e a arte performática também fazem isso de outras maneiras e gerando outros resultados. O ponto comum entre todos esses fenômenos, a instância que recobre o umbral entre performatividade e performance, é a experiência da vergonha e sua relação fundante e desconstrutiva com a identidade. No caso dos gays afeminados entrevistados por Colling, Arruda e Nonato, sugerimos a hipótese de que a vergonha funciona como o ponto de alternância entre “fingir-se de morta” e “fechar”, entre “endurecer” e “lacrar”, ou, parafraseando Douglas Crimp (2009)CRIMP, Douglas. Mario Montez, for Shame. In: HALPERIN, David.; TRAUB, Valerie (org.) Gay Shame. Chicago, University of Chicago Press, 2009, pp.63-75. , entre querer ser invisível e querer ser uma diva.
Nesse mesmo sentido, lembramos que há uma série de fenômenos e artefatos da cultura gay que envolvem uma referência ou apropriação exagerada de insígnias comumente associadas ao feminino. Poderíamos citar o culto a divas do cinema e da música, os shows de drag queen , o uso do pajubá, a apreciação irônica de melodramas, a auto e heteroidentificação pelo/no feminino etc. Todo esse amplo espectro de práticas e gostos que envolvem uma identificação exagerada e sarcástica com o feminino está relacionado àquilo que, no mundo da arte, sobretudo nos EUA, convencionou-se denominar por “ camp ” ( Lopes, 2016LOPES, Denilson. Afetos. Estudos Queer e Artifício na América Latina. E-Compós 19(2), 2016, pp.1-16. ).
Conforme aponta Susan Sontag (2020)SONTAG, Susan. Contra a interpretação e outros ensaios. Companhia das Letras, 2020. em um dos primeiros e mais importantes ensaios sobre o tema, o camp é um modo de ver o mundo como fenômeno estético, é uma sensibilidade compartilhada marcada pela apreciação do exagero, da frivolidade e da artificialidade: “O Camp vê tudo entre aspas. Não é uma lâmpada, mas uma ‘lâmpada’, não é uma mulher, mas uma ‘mulher’. Perceber o Camp em objetos e pessoas é entender que Ser é Representar um papel. É a maior extensão, em termos de sensibilidade, da metáfora da vida como teatro” ( Sontag, 2020SONTAG, Susan. Contra a interpretação e outros ensaios. Companhia das Letras, 2020.: 29). Sobre a relação entre o camp e a cultura gay, o comentário de Sontag é breve, destacando apenas que o predomínio do estilo sobre o conteúdo faria do camp um fenômeno despretensioso e apolítico. A autora argumenta que a paródia promove um afastamento entre o sujeito e o objeto, sendo que este último, deslocado ironicamente de seu contexto original, é esvaziado de significado. O humor camp seria puramente acessório, gratuito e iconoclasta: um solvente da moralidade sem critério ideológico.
Já os estudos queer , por outro lado, tendem a enfatizar a relação entre o camp e a homossexualidade, argumentando que o desfrute da frivolidade e do exagero foi apropriada – e em certa medida difundida – entre homens gays como uma estratégia de resistência simbólica. Em How To Be Gay (2012), David Halperin afirma que não há como entender o camp sem a experiência do armário; o camp seria uma sensibilidade adquirida pela necessidade de dissimulação da homossexualidade em uma sociedade heteronormativa, o que muitas vezes implica esconder quaisquer traços e inclinações usualmente associadas ao campo feminino – gosto pelas artes, uso de superlativos, gesticulação exagerada –, mas em vez de enfrentar essa demanda declarando-se abertamente x ou y, o camp parodia sua própria condição abjeta e faz da inadequação uma maneira de ver o mundo inteiro como uma grande dissimulação. Como variações dessa estratégia, o culto às divas, a fechação e a drag queen colocam tudo entre aspas, especialmente aquilo que é considerado mais digno de honra e por isso normalmente imune à crítica – ser um homem viril, ser uma mulher delicada. A ironia instala uma lacuna entre ator e papéis, entre identidade e essência, permitindo ao sujeito abraçar o estigma e ao mesmo tempo estabelecer uma distância em relação àquilo que a sociedade lhe impõe como sua natureza autêntica e deteriorada. Não há propriamente uma rejeição da homofobia e do discurso de ódio, mas uma aceitação parcial e estratégica, ou, para usar a expressão cunhada por José Muñoz (1999)MUÑOZ, José Esteban. Disidentifications: Queers of color and the performance of politics. Minneapolis e Londres, University of Minnesota Press, 1999. , uma “desidentificação”.
Lembremos de Ariel, o jovem entrevistado por Colling, Nonato e Arruda que gosta de comprar roupas na seção feminina. Quando é interpelado por uma menina que lhe informa “na lata” que a calça de seu interesse é “de mulher”, Ariel responde: “Não, meu amoooorrrr... essa calça é de meninnnaaa... [solta um sonoro beijo] Deixe de ser ‘Alice’!” (Colling; Nonato; Arruda, 2019:27). Para aqueles não introduzidos ao dialeto pajubá, a Alice mencionada ao final é a personagem de Alice no país das maravilhas , e “deixar de ser Alice” significa “deixar de ser sonhadora”, “voltar à realidade”. Fazendo uso dessa referência, é como se Ariel dissesse que não é ele quem estava na seção errada da loja, mas sim a menina, completamente perdida no mundo fantasioso das identidades heterossexuais.
A fechação monta um palco e transforma o comentário heteronormativo em uma comédia delirante, mas o raciocínio implícito nesse gesto é que não há alternativa real para os homens gays que não seja performática. Se Ariel dissesse que procurava um presente para a namorada, estaria obviamente mentindo, e caso tentasse esclarecer suas verdadeiras intenções com o tom mais natural possível, ele não poderia deixar de tentar antecipar a reação de surpresa de sua interlocutora. Se o armário é um palco, a confissão é um espetáculo e a naturalidade é uma pose difícil de se sustentar – como disse uma vez Oscar Wilde (2011)WILDE, Oscar. A importância de ser prudente e outras peças. São Paulo, Penguin/Companhia das Letras, 2011. –, então a fechação é uma forma de jogar a expectativa heterossexual contra si mesma, revelando a dimensão teatral presente em todas as expressões de gênero. Além disso, a fechação abre espaço para um processo bastante peculiar de aceitação do estigma da homossexualidade que, numa sociedade que iguala masculinidade à heterossexualidade, será sempre associada à emasculação.
É verdade que o camp não tem uma valência política inata e pode apenas reforçar estereótipos de gênero, ao invés de desestabilizá-los. Para entendermos se uma paródia camp é subversiva, radical ou conservadora, é preciso considerar quem faz a paródia, o que é parodiado, como é parodiado e em que se concentram os efeitos dessa paródia ( Pellegrini, 2007PELLEGRINI, Ann. After-sontag: Future notes on camp. In: HAGGERTY, George E.; MCGARRY, Molly. (org.). A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies. Malden e Oxford, Blackwell Publishing Ltd, 2007, pp.168-193. ). Mas se abdicarmos de uma leitura paranoide para uma leitura reparadora, como sugeriu Sedgwick (2003)SEDGWICK, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham e Londres, Duke University Press, 2003. , deixando de lado por um momento nossa obsessão em classificar qualquer objeto cultural como progressista ou reacionário, podemos nos concentrar em outros aspectos importantes, como o vínculo afetivo mobilizado por essa sensibilidade particular. Seja na sua forma fechativa, melodramática ou ironicamente contemplativa, o camp se distancia dos valores heteronormativos que igualam sinceridade à recusa da teatralidade, uma recusa que é, ao fim e ao cabo, recusa do reconhecimento da cumplicidade com o interlocutor sobre a natureza formal e convencional de sua expressão, e a recusa do reconhecimento da proibição em admiti-la ( Halperin, 2012HALPERIN, David. How to Be Gay. Cambridge e Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, 2012. ). Ao insinuar uma dimensão teatral da sinceridade, o camp estabelece uma rede “perversa” entre “cúmplices” que parodiam a norma, a moralidade, o bom senso e os ideais de gênero. Tudo isso é feito em um acordo tácito, subentendido e codificado, o que é por si só uma forma de apropriação da lógica insidiosa e pervasiva através da qual a expectativa da heterossexualidade se naturaliza em nossa sociedade.
É esse vínculo peculiar estabelecido entre cúmplices e objetos que diferencia o camp do kitsch . Quando dizemos que algo é kitsch , atribuímos um valor negativo ao objeto, pois reconhecemos nele um desejo de ascensão social que não consegue maquiar suas origens menos abastadas. Esse juízo valorativo nos coloca num lugar de superioridade tanto em relação àquele que consome, quanto em relação àquele que supostamente produziu o objeto, mesmo que desconhecido. Já no camp , como aponta Sedgwick (1990)SEDGWICK, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1990. , o que está em jogo é reconhecimento. O camp aproxima o sujeito do objeto, sinalizando uma espécie de ligação clandestina reconhecida por quem já viveu na própria pele a experiência da vergonha e a necessidade da dissimulação. Diferente do kitsch , o objeto camp não nos faz perguntar “Que tipo de criatura degradada poderia ser o público certo para este espetáculo de mau-gosto?”, mas “E se o exato público-alvo para isso for exatamente eu?” ( Sedgwick, 1990SEDGWICK, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1990.: 155). A partir daí, claro, seguem-se as suspeitas multiplicadas no jogo de espelhos característicos do armário: “E se essa atração oblíqua e degradada exercida por esse objeto sobre mim operar igualmente sobre outras pessoas?”, “Será que outras pessoas que não conheço ou reconheço enxergam este objeto do mesmo ângulo perverso que eu ? ”, “Em que medida outras pessoas, através deste olhar oblíquo e perverso, podem reconhecer algo degradado sobre mim?”. Sim, o camp também se funda em um certo escárnio. Mas embora ironize o sofrimento relacionado à homofobia, colocando-o entre aspas, “a risada é inseparável das lágrimas” ( Love, 2015LOVE, Heather. Fracaso Camp. In: MACÓN, Cecília; SOLANA, Mariela (org.). Pretérido indefinido: afectos y emociones el las aproximaciones al pasado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Título, 2015, pp.187-203.: 190), o camp retorna às cenas de vergonha, desloca-as metonimicamente e as redramatiza em uma escala ridiculamente ampliada, drenando sua dor sem enaltecê-la, mas também sem diminuí-la ( Halperin, 2012HALPERIN, David. How to Be Gay. Cambridge e Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, 2012. ).
Consideremos uma última vez o exemplo de Ariel e sua calça skinny . Conforme já mencionado, estamos de acordo com Colling, Arruda e Nonato quando afirmam que a peça feminina serve como um instrumento de afronta às normas heterossexuais: “O conjunto entre corpo, calça, adereços e expectativa de comportamento do outro mostra como Ariel dessubstancializa os sentidos de masculino que sua família lhe atribuiu, e os sentidos de feminino que o mercado substancializa no vestuário” (Colling; Arruda; Nonato, 2019:28). Mas além de uma provocação às Alices, queremos sublinhar que a calça é um objeto afetivo e desidentificatório que materializa significados relacionados à rejeição e menosprezo sofridos por um homem gay em uma sociedade homofóbica. A calça feminina em seu corpo gera asco, riso e vergonha alheia, e abraçá-la diante de tudo isso equivale a acolher o estigma usando a ironia como anteparo. Ao fazer essa opção, Ariel também estabelece uma forma de comunicação com outras pessoas capazes de reconhecer no reflexo especular da calça jeans suas próprias experiências de inadequação. A calça funciona como um sinal de reconhecimento e um impulso de aproximação tal como o uso das gírias do dialeto pajubá, a autoidentificação pelo feminino, alguns tipos de militância etc.
Pensar na dimensão relacional e intersubjetiva da fechação é importante porque, quando a menina na loja de roupas interpela Ariel e lhe avisa que a tal calça deveria ser utilizada apenas por mulheres, atualiza-se uma longa história de perseguição, disciplinamento de corpos e insultos homofóbicos. Pouco importa que a menina esteja sozinha: sua fala é uma citação, sua voz é um coro, e é esse efeito multiplicador que confere às suas palavras efeitos performativos tão poderosos ( Butler, 1997BUTLER, Judith. Excitable Speech: A Politics of the Performative. Nova Iorque, Routledge, 1997. ). Quando responde com a fechação, Ariel invoca seu próprio público. Ele ativa uma série de vínculos que lhe permitem responder ao dilema do armário por uma via que não é a confissão, nem o segredo, mas a tragicomédia da performance fechativa. Ler esse gesto desde uma perspectiva reparadora implica entender que não se trata puramente de uma afronta, mas também de uma tentativa de dizer algo que só pode ser comunicado em uma teatralização exagerada e compensatória; ou, para usar as palavras de Sedgwick (2003SEDGWICK, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham e Londres, Duke University Press, 2003.: 38), em uma “pulsação [...] da mirada especular através do circuito narcisístico tornado elíptico (ou seja, necessariamente distorcido) pela hipérbole de seu elenco original”.
Considerações finais
Neste artigo, revisitamos o clássico debate sobre performance e performatividade nos estudos queer , recentemente atualizado pela proposição de um terceiro conceito, a “perfechatividade de gênero”. Sinalizamos alguns nós nessa trama de conceitos, discutimos suas implicações teóricas e propusemos uma maneira de desatá-los – ou, ao menos, amarrá-los de outras maneiras – a partir da contribuição de autoras/es cujas obras são ainda pouco exploradas no contexto brasileiro.
Mais especificamente, argumentamos que, embora a “perfechatividade” seja útil para desfazermos as oposições entre arte/cotidiano, atividade/passividade, realidade/ficção, aparência/profundidade, que muitas vezes acompanham a distinção entre performance e performatividade, a reificação da categoria “gays afeminados ou fechativos” resulta em uma contradição para a teoria queer , cuja potência advém justamente da desestabilização das identidades. Entendemos que a obra de Sedgwick pode ajudar a pensarmos essa problemática ao deslocar o seu centro de gravidade desde a relação entre fechação e homossexualidade para a relação entre a vergonha e o estigma. A aproximação entre a epistemologia do armário e a teoria dos afetos permite trazer densidade psicológica, fenomenológica e temática às discussões sobre performance e performatividade, delineando em termos mais palpáveis e, ao mesmo tempo, mais dinâmicos as relações entre identidade e queeridade . Seguindo essa recontextualização, sugerimos que a fechação não é exatamente um tipo de performatividade própria de homens gays ou homens gays afeminados, mas uma forma possível de redramatização das experiências da vergonha que constroem o lugar da identidade como um impulso ao performativo.
Muitos caminhos se abriram a partir da abordagem de Sedgwick sobre estigma e vergonha e, mesmo transcorridos quase 30 anos desde suas publicações seminais, vários deles seguem ao menos parcialmente inexplorados. É certo que nesse tempo muito mudou: a afirmação do orgulho se tornou o principal lema do movimento LGBT+, o estímulo à diversidade foi incorporado à racionalidade neoliberal e a progressiva inclusão da homossexualidade como uma “cidadania de consolação” produziu colateralmente o que alguns autores chamam de “homonormatividade” (Duggan, 2003; Oliveira, 2013OLIVEIRA, João Manuel de. Cidadania sexual sob suspeita: uma meditação sobre as fundações homonormativas e neoliberais de uma cidadania de “consolação”. Psicologia & Sociedade 25(1), Belo Horizonte, 2013, pp.68-78. ). Mas nada disso pôde de fato desfazer a epistemologia do armário que, como uma rede de saberes e suposições, só se dissolverá quando – e se – a sexualidade deixar algum dia de ser objeto privilegiado de um regime de verdade ( Foucault, 1976FOUCAULT, Michel. L'Histoire de la Sexualité, V.1, La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976. ). O orgulho, por sua vez, nada mais é do que parte do movimento transformacional da vergonha; podemos tentar transformar uma no outro, mas não podemos fazer isso de uma só vez e para sempre: “a vergonha vive no orgulho, e o orgulho pode facilmente voltar a ser vergonha” ( Love, 2007LOVE, Heather. Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History. Cambridge, Harvard University Press, 2007.: 28). Também há muito o que se discutir sobre o papel de outros afetos no colapso entre performatividade e performance, e sobre como ficaria a relação entre a vergonha e os estigmas que acionam outros regimes de visibilidade e discrição, tais como raça ou mesmo o gênero. Tudo isso somado à nova centralidade adquirida pelos “artivismos” ( Colling, 2018COLLING, Leandro. A emergência dos artivismos das dissidências sexuais e de gêneros no Brasil da atualidade. Sala Preta 18(1), São Paulo-SP, 2018, pp.152-167. ) e pelo “lugar de fala” ( Ribeiro, 2017RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte, Letramento, Justificando, 2017. ) nos debates políticos e culturais – dois fenômenos que trazem à tona a complexa relação entre identidade, expressividade e afeto – fazem do atual contexto brasileiro um momento ideal para acionarmos o espírito antropofágico, deglutirmos Eve Sedgwick, e recalibrarmos a potência de nossas políticas e estudos queer .
Referências bibliográficas
- AUSTIN, John Langshaw. How to Do Things with Words. Oxford, Oxford University Press, 1975.
- BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2017.
- BUTLER, Judith. Excitable Speech: A Politics of the Performative. Nova Iorque, Routledge, 1997.
- BUTLER, Judith. Bodies that Matter: on the discursive limits of “sex”. Nova Iorque, Routledge, 1993.
- COLLING, Leandro; ARRUDA, Murilo Souza; NONATO, Murillo Nascimento. Perfechatividades de gênero: a contribuição das fechativas e afeminadas à teoria da performatividade de gênero. cadernos pagu (57), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2019, pp.1-34.
- COLLING, Leandro. A emergência dos artivismos das dissidências sexuais e de gêneros no Brasil da atualidade. Sala Preta 18(1), São Paulo-SP, 2018, pp.152-167.
- CRIMP, Douglas. Mario Montez, for Shame. In: HALPERIN, David.; TRAUB, Valerie (org.) Gay Shame. Chicago, University of Chicago Press, 2009, pp.63-75.
- DERRIDA, Jacques. Margens da filosofia. Campinas, Papirus, 1991.
- DUGGAN, Lisa. The new homonormativity: The sexual politics of neoliberalism. In: NELSON, Dana; CASTRONOVO, Russ. Materializing Democracy: Toward a revitalized cultural politics. Durham e Londres, Duke University Press, 2002, pp.175-194.
- FELMAN, Shoshana. The Scandal of the Speaking Body: Don Juan with JL Austin, or seduction in two languages. Stanford, Stanford University Press, 2003.
- FOUCAULT, Michel. L'Histoire de la Sexualité, V.1, La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976.
- HALPERIN, David. How to Be Gay. Cambridge e Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, 2012.
- LOPES, Denilson. Afetos. Estudos Queer e Artifício na América Latina. E-Compós 19(2), 2016, pp.1-16.
- LOVE, Heather. Fracaso Camp. In: MACÓN, Cecília; SOLANA, Mariela (org.). Pretérido indefinido: afectos y emociones el las aproximaciones al pasado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Título, 2015, pp.187-203.
- LOVE, Heather. Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History. Cambridge, Harvard University Press, 2007.
- MUÑOZ, José Esteban. Disidentifications: Queers of color and the performance of politics. Minneapolis e Londres, University of Minnesota Press, 1999.
- OLIVEIRA, João Manuel de. Cidadania sexual sob suspeita: uma meditação sobre as fundações homonormativas e neoliberais de uma cidadania de “consolação”. Psicologia & Sociedade 25(1), Belo Horizonte, 2013, pp.68-78.
- PELLEGRINI, Ann. After-sontag: Future notes on camp. In: HAGGERTY, George E.; MCGARRY, Molly. (org.). A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies. Malden e Oxford, Blackwell Publishing Ltd, 2007, pp.168-193.
- RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte, Letramento, Justificando, 2017.
- SEDGWICK, Eve Kosofsky. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham e Londres, Duke University Press, 2003.
- SEDGWICK, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1990.
- SEDGWICK, Eve Kosofsky. Between Men: English Literature and the Male Homossocial Desire. Nova Iorque, Columbia University Press, 1985.
- SEDGWICK, Eve Kosofsky; FRANK, Adam (ed.). Shame and Its Sisters: A Silvan Tomkins Reader. Durham e Londres, Duke University Press, 1995.
- SOLANA, Mariela; VACAREZZA, Nayla Luz. Relecturas feministas del giro afectivo. Revista Estudos Feministas 28(2), Florianópolis, 2020, pp.1-6.
- SONTAG, Susan. Contra a interpretação e outros ensaios. Companhia das Letras, 2020.
- WILDE, Oscar. A importância de ser prudente e outras peças. São Paulo, Penguin/Companhia das Letras, 2011.
-
1
Todas as citações e referências originalmente em língua estrangeira e que foram traduzidas neste artigo são de tradução livre dos autores.
-
2
Atualmente, costuma-se utilizar expressões mais abrangentes, tais como “anti-LGBTQIA+”. Optamos pelo termo “anti-homofóbico” em virtude de ter sido utilizado diversas vezes pela própria Eve Sedgwick em suas publicações.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
06 Jan 2023 -
Data do Fascículo
Nov 2022
Histórico
-
Recebido
09 Mar 2021 -
Aceito
31 Maio 2022