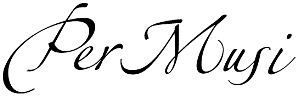RESUMO:
Os estudos sobre a inteligibilidade do texto cantado envolvem o canto em todos os gêneros musicais. Com o objetivo de identificar as causas da falta de compreensão do texto na canção de câmara brasileira, contamos com a participação de 110 cantores líricos que responderam a um formulário online semiestruturado contendo perguntas objetivas e descritivas. Os motivos que impactam na inteligibilidade mais citados pelos cantores foram: a tessitura aguda, a dicção imprecisa, a impostação vocal recuada e o excesso de vibrato. Outro dado importante do estudo revela que 70% dos respondentes apontaram os sopranos como os cantores com maior perda da compreensão do texto cantado em vernáculo.
PALAVRAS-CHAVE:
Canção de câmara brasileira; Inteligibilidade do texto; Canto erudito
ABSTRACT:
The studies on the intelligibility of sung text involve singing across all musical genres. Aimed at identifying the causes of the lack of comprehension of the text in Brazilian chamber songs, we had the participation of 110 lyrical singers who responded to a semi-structured online questionnaire containing both objective and descriptive questions. The factors that impact intelligibility most frequently cited by the singers were: high pitch, imprecise diction, retracted vocal placement and excessive vibrato. Another important piece of data from the study reveals that 70% of respondents identified sopranos as the singers with the greatest loss of comprehension when singing in vernacular.
KEYWORDS:
Brazilian chamber song; Text intelligibility; Classical singing
1. Introdução
A compreensão do texto no canto erudito é tema de pesquisa na ópera e na canção de câmara. A relação texto e música pode ser considerada o “cerne da realização da canção, tanto como expressão e como técnica” (Picchi 2018Picchi, Achille. "A canção de câmara: definição do objeto, contexto e estado da arte no Brasil". In: Jornada de Investigação em Música Latino-Americana, 2., 2018, Foz do Iguaçu. Anais eletrônicos [...] Foz do Iguaçu: Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 2018. Disponível em: file:///C:/Users/Ju%C3%A7ara.DESKTOP- EP1LFCS/Desktop/JOR_17-62.pdf., 29), e tem um papel importante como parte da valorização da língua cantada em português, o que amplia a importância dada à questão da inteligibilidade.
O canto camerístico, tendo o texto poético como ponto de partida, iniciou-se no final do século XVIII com o Lied, na Alemanha, e se manifestou em outros países europeus, a exemplo da Mélodie na França e das Art songs na Inglaterra (Netto 2021Netto, Crislaine Hildebrant. "Manuel Bandeira: Poesia e Música: Canções nascidas da obra poética de um escritor brasileiro". Dissertação (Mestrado em Música) - Escola superior de Música e Artes do Espetáculo, Instituto Politécnico do Porto, Porto, 2021.). No Brasil, a canção de câmara com essas características - “composta a partir de códigos próprios da tradição musical escrita, em interlocuções com a modinha, com a ópera italiana e com as várias manifestações da cultura oral brasileira em suas vertentes folclóricas ou populares urbanas” (Pádua 2009Pádua, Mônica Pedrosa. "Imagens de brasilidade nas canções de câmara de lorenzo fernandez: uma abordagem semiológica das articulações entre música e poesia". 2009. 275f. Tese (Doutorado em Letras - Estudos Literários) - Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2009., 76) -, surgiu no final do século XIX. O compositor brasileiro Alberto Nepomuceno (1864-1920) foi um dos precursores deste gênero e teve uma importante contribuição nesse processo, pois escreveu várias canções utilizando poemas em português do Brasil (Mariz 2002Mariz, Vasco. "A canção brasileira de câmara". 4ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002.). A partir daí, muitas gerações de compositores se dedicaram às canções em língua portuguesa brasileira.
A valorização do canto em vernáculo ganhou força durante o nacionalismo brasileiro, com o aumento do interesse sobre a melhor forma de se cantar em português. A boa dicção foi tema discutido no ano de 1937, por Mário de Andrade, no I Congresso da Língua Nacional Cantada, e deu origem ao artigo “Normas para a boa pronúncia da língua nacional no canto erudito” (Andrade, Azevedo, Corrêa 1938Andrade, Mário de; Nascentes Antenor; Azevedo, Luís Heitor Corrêia de. CONGRESSO DA LÍNGUA NACIONAL CANTADA, 1., São Paulo, 1937. Anais... São Paulo: Departamento de Cultura do Município de São Paulo, 1938, 782p.), organizado por Andrade e publicado em 1938. O musicólogo foi um grande incentivador da música nacional e, em coerência com seus ideais nacionalistas, advogava por uma forma de cantar genuinamente brasileira, que fugisse do sotaque italiano ou alemão. De acordo com Santos (2011Santos, Lenine Alves dos. "O Canto Sem Casaca: propriedades pedagógicas da canção brasileira e seleção de repertório para o ensino de canto no Brasil". 2011. 479f. Tese (Doutorado em Música) - Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), São Paulo, 2011., 15), nesse período, buscava-se a valorização do canto em vernáculo e sentia-se a necessidade de torná-lo inteligível, de forma a refletir a realidade da população, pois já havia no meio musical da época um desconforto reinante devido à diferença da pronúncia do português falado e cantado pelos cantores eruditos. Essa diferença pode ser atribuída à técnica do Bel canto, ensinada na época por professores de canto estrangeiros que moravam no Brasil. Para Sundberg (1977Sundberg, Johan. "The acoustics of the singing voice". Scientific American, Nova Iorque, v. 236, n. 3, p. 82-91, mar. 1977. Disponível em: Disponível em: https://www.jstor.org/stable/24953939 . Acesso em: 26 jan. 2023.
https://www.jstor.org/stable/24953939...
), a técnica do Bel canto exige maior volume de voz, o que gera modificações articulatórias, como a maior abertura da mandíbula em notas agudas. Essa interferência articulatória proporciona modificações vocálicas que acabam por comprometer, em alguns momentos, a compreensão do texto cantado. Entretanto, é inegável a importância da técnica do Bel canto para o contexto e a sonoridade do canto erudito.
Em 2003, iniciou-se no Brasil um grande movimento protagonizado por cantores e professores pesquisadores brasileiros, tendo como objetivo sistematizar e consolidar normas para a pronúncia do português brasileiro cantado na música erudita. As ações realizadas incluíram atividades em Grupos de Trabalho (GTs) nos XIV, XV, XVI e XVII Congressos da Associação Nacional de Pesquisa em Música (ANPPOM), ocorridos, respectivamente, em 2003, 2005, 2006 e 2007, além da realização do 4º Encontro Brasileiro de Canto - O Português Brasileiro Cantado, em São Paulo, em 2005 (Kayama 2018Kayama, Adriana G. "O português brasileiro cantado: um relato da trajetória dos GTs na Anppom que elaboraram as Normas de pronúncia do português brasileiro no canto erudito". In: LIMA, Sonia Regina Albano de; ULHÔA, Martha Tupinambá de (org.). ANPPOM: 30 anos de criação (edição comemorativa). São Paulo: ANPPOM, 2018.). Ainda em 2005, o tema foi debatido no 3º Seminário da Canção Brasileira da UFMG. Os estudos e as discussões realizados resultaram na publicação do artigo “PB cantado: normas para a pronúncia do português brasileiro no canto erudito” (Kayama et al. 2007Kayama, Adriana et al. "PB cantado: normas para a pronúncia do português brasileiro no canto erudito". Opus, São Paulo, v. 13, n. 2, p.16-38, dez. 2007. ) na revista da ANPPOM, no qual consta uma tabela com os sons do PB e seus símbolos fonéticos, para orientar a pronúncia de cantores brasileiros e estrangeiros que se dedicam ao repertório em vernáculo.
O presente estudo surgiu do interesse em se pesquisar mais sobre a canção brasileira de câmara no âmbito da inteligibilidade do texto cantado, definida como a qualidade do que é inteligível, logo, facilmente compreensível, claro, distinto, ou seja, o que se ouve com nitidez (Houaiss 2001Houaiss, Antônio; Villar, M. de Salles. "Dicionário Houaiss da língua portuguesa". Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.). Considerando que a canção é formada pela inter-relação do texto poético e da música, acreditamos que essa relação deve ser considerada em uma performance, principalmente para o público falante do idioma cantado. Não há, neste trabalho, qualquer intenção de impor condutas, mas de apontar alguns fatores que possam interferir na inteligibilidade de uma canção, que possam servir de referência para os cantores (Gusmão e Pádua 2020Gusmão, Cristina de Souza; Pádua, Mônica Pedrosa. "A inteligibilidade da canção de câmara brasileira sob a ótica dos não músicos: um estudo piloto". In: Seminário da Canção Brasileira da Escola de Música da UFMG: a canção de câmara brasileira e seus intérpretes, 6., 2020, Belo Horizonte. Anais eletrônicos [...] Belo Horizonte: Escola de Música da UFMG, 2020. Disponível em: Disponível em: https://musica.ufmg.br/selominasdesom /wp-content/uploads/sites/3/2021/05/ANAIS-DO-VI-SEMINARIO-DA-CANCAO BRASILEIRA-DA-ESCOLA-DE-MUSICA-DA-UFMG-2020-mesclado.pdf . Acesso em: 23 dez. 2023.
https://musica.ufmg.br/selominasdesom /w...
). O objetivo deste estudo foi identificar as causas associadas à falta da inteligibilidade do texto na canção, sob a ótica dos cantores líricos.
Por último, este artigo fez parte de um estudo mais amplo, inserido no contexto de um doutorado, intitulado “A inteligibilidade do português brasileiro cantado na canção de câmara brasileira: uma investigação analítica perceptivo-auditiva e acústica”.
2. Metodologia
Este é um estudo exploratório-descritivo combinado, que tem a finalidade de descrever completamente um determinado fenômeno. Esse modelo metodológico pode ser encontrado em pesquisas com descrições: “Quantitativas e/ou qualitativas quanto à acumulação de informações detalhadas como as obtidas por intermédio da observação do participante”. (Marconi e Lakatos 2003Marconi, Marina de A; Lakatos, Eva Maria. "Fundamentos de metodologia científica". Editora Atlas S.A, 5ª edição. São Paulo, 2003, 188).
Deste Estudo, participaram 110 cantores líricos com experiência mínima de quatro anos, de ambos os gêneros, com idades entre 20 e 62 anos. O formulário foi enviado para cantores de todas as regiões do país. O convite foi feito por meio do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e de e-mail. A solicitação contou com uma mensagem convidativa e um link de acesso à pesquisa. Ao clicar no link, o cantor teve acesso a um questionário online contendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), informando os objetivos da pesquisa e seus procedimentos, com perguntas relacionadas à idade, cidade natal e classificação vocal do cantor.
Em seguida, o questionário foi disponibilizado, contendo sete perguntas relacionadas à percepção do cantor lírico sobre a inteligibilidade do texto na canção de câmara brasileira. As perguntas incluídas no formulário foram pensadas com base na percepção pedagógica das pesquisadoras e em revisões de literatura realizadas a priori. As perguntas tinham como objetivo saber sobre a opinião dos cantores em relação aos fatores que influenciam a inteligibilidade do canto camerístico. Tendo em vista a falta de consenso em algumas definições e nomenclaturas do canto, foi incluído um glossário no final do artigo com definições para os principais termos utilizados no estudo. É sabido que algumas nomenclaturas abordadas são usadas corriqueiramente de forma metafórica na pedagogia vocal, por isso buscamos nos apoiar na ciência vocal, na pedagogia do canto e em nossas experiências como professores de canto para explicar tais fenômenos.
Tivemos resposta de cantores residentes em oito Estados brasileiros: Alagoas, Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Sergipe. A maioria dos respondentes foi do Estado de Minas Gerais. O formulário semiestruturado continha perguntas fechadas (de múltipla escolha) e abertas (perguntas que exigiam que o participante escrevesse sobre o que lhe foi perguntado). Buscou-se, na elaboração das perguntas, a maior objetividade e clareza possível, não descartando, entretanto, alguma margem de subjetividade inerente ao assunto e às interpretações pessoais de cada indivíduo sobre cada parâmetro.
O questionário ficou disponível para preenchimento num período de dois meses. Posteriormente a esse prazo, o questionário foi fechado para análise. As respostas foram automaticamente enviadas para o site do Google e, em seguida, exportadas para uma planilha do Excel para as devidas análises.
Os dados foram submetidos a uma análise estatística descritiva, com a finalidade de organizar, resumir e apresentar as características da amostra. Gráficos e tabelas foram as ferramentas utilizadas neste Estudo, devido à sua importância em sintetizar as informações e auxiliar, a posteriori, um estudo investigativo (Montgomery e Runger, 2018Montgomery, Douglas C.; Runger, George C. "Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros". 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.).
3. Resultados
Após a aplicação do questionário online, obtivemos as respostas de 110 cantores líricos sobre suas percepções pessoais da inteligibilidade da canção de câmara brasileira.
Esta pesquisa contou com quase a metade da amostra de participantes constituída de cantores classificados como sopranos, seguidos por mezzo-sopranos, tenores e barítonos. As menores proporções de participantes foram de baixos, seguida dos contraltos. Não houve neste estudo nenhuma resposta de cantores classificados como contratenores. O gráfico 1 apresenta o tamanho amostral por valores absolutos dos cantores divididos por classificação vocal.
Tamanho amostral por classificação vocal. Referência: Gusmão e Pádua 2024Gusmão, Cristina de Souza. A inteligibilidade do português brasileiro cantado na canção de câmara brasileira: uma investigação analítica perceptivo-auditiva e acústica.2024. 174f. Tese (Doutorado) -Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), Escola de Música. Belo Horizonte, 2024.
A seguir, apresentaremos os resultados do questionário preenchido pelos cantores na ordem em que as perguntas foram apresentadas.
Pergunta 1) Cantar o repertório de canção brasileira de câmara é prazeroso para você?
Encontramos uma porcentagem de 91,8%, ou seja, 101 cantores, que responderam sim, enquanto 8,2% (nove cantores) responderam que não. Nas respostas negativas, foi solicitado ao cantor que descrevesse o motivo do descontentamento. Dois cantores relataram que o desconforto era devido à falta de repertório para vozes graves. Dois relataram que tanto a escrita quanto a fonética da canção eram muito distantes do português cotidiano e que a sensação era de que o preparo para cantar o repertório camerístico brasileiro era tão grande quanto para cantar músicas estrangeiras. Outros dois relataram apresentar maior dificuldade na projeção e na colocação da voz ao cantar o repertório brasileiro, principalmente pelo fato de o português cantado exigir mais articulação. Novamente dois cantores associaram o não gostar de executar a canção ao fato de o repertório nunca lhes ter sido confortável, e somente um relatou não gostar pelo fato de ter tido pouco contato com o repertório brasileiro.
Diante dessas respostas, percebe-se que a maioria dos cantores participantes considera a canção de câmara brasileira um repertório agradável para cantar.
Pergunta 2) Qual ou quais das especificações você associa a uma possível falta de compreensão do texto quando você canta o repertório de canções brasileiras de câmara?
Foi possível observar que 72 cantores (65,5%) associaram a falta de compreensão do texto a uma tessitura aguda da canção. 49 cantores (44,5%) associaram a falta de compreensão do texto à dicção imprecisa no canto. 37 cantores (33,6%) associaram a falta de compreensão a um maior grau de impostação vocal ao cantar a canção de câmara brasileira. 33 cantores (30%) relataram que a questão pode estar associada ao andamento rápido da canção. 19 cantores (17,3%) associaram a falta de compreensão do texto à presença de muito vibrato na voz. Por fim, outros 19 (17,3%), a uma colocação vocal mais recuada ou, de forma metafórica, à predominância ressonantal posterior. 15 cantores (13,6%) relataram que o período em que a peça foi composta é fator determinante para a falta de compreensão. 13 cantores (11,8%) associaram a falta de compreensão do texto com o estilo do repertório. As porcentagens podem ser vistas no Gráfico 2.
Parâmetros técnico-vocais, acústicos e estilísticos associados à perda da inteligibilidade do texto na canção de câmara brasileira. Referência: Gusmão e Pádua 2024Gusmão, Cristina de Souza. A inteligibilidade do português brasileiro cantado na canção de câmara brasileira: uma investigação analítica perceptivo-auditiva e acústica.2024. 174f. Tese (Doutorado) -Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), Escola de Música. Belo Horizonte, 2024.
Pergunta 3) Há algum fonema que você considera difícil de emitir quando você canta o repertório de canção de câmara brasileira?
A porcentagem dos cantores que responderam “não” foi 40,9%. Já 59,1% dos cantores relataram que “sim”. Abaixo, segue a Tabela 1 com os fonemas considerados os mais difíceis de serem produzidos ao cantar a canção de câmara brasileira:
Fonemas considerados difíceis de emitir quando se canta o repertório de canção de câmara brasileira
Foi possível perceber que a maioria dos cantores relacionou a dificuldade em cantar o repertório de câmara brasileiro aos sons nasais, principalmente quando se encontram no meio da palavra ou na região de passagem da voz. Os sons relatados como difíceis foram nhe, m, ão e em.
Outros fonemas foram citados como difíceis no canto camerístico, como a vogal [i] em região aguda da tessitura. Com o mesmo número de respostas, obtivemos os fonemas [a] e [ə] como dificultadores do canto em português, principalmente a vogal [a] por ser uma vogal aberta. Os ditongos e tritongos também aparecem na lista como dificultadores da pronúncia do português cantado.
Pergunta 4) Você acha que o português brasileiro é um idioma difícil de ser pronunciado quando se canta o repertório de canções de câmara brasileiras? Por favor, justifique sua resposta.
Observamos que 51,4%, 56 cantores, responderam “não”, enquanto 48,6% (53 cantores) responderam “sim”. Abaixo, as respostas dissertativas dos cantores, os quais tiveram a liberdade de descrever mais de uma dificuldade.
16 cantores associaram a dificuldade da pronúncia do português brasileiro cantado à presença de muitos sons nasais. Sete apontaram a articulação das palavras como um dificultador. Seis afirmaram que a dificuldade é manter o ajuste erudito ao cantar em português. Seis consideraram que o fato de cantar a canção de câmara pensando na base da pronúncia italiana dificulta a execução do canto em português. Cinco dos cantores participantes relataram que a dificuldade ocorre devido à tessitura aguda da canção, e outros cinco relacionaram a dificuldade ao equilíbrio entre texto e técnica. Quatro consideraram a metáfora 'ressonância baixa do português' como fator que dificulta a 'voz na máscara'. Três cantores relataram que há pouco interesse pelo repertório, já que não o praticam. Outros três relataram a dificuldade de rolar o fonema [ɾ] ao final das emissões cantadas. Já dois cantores consideram difícil o fato de terem que tirar o sotaque ao executar a canção. Dois outros acreditam que o problema reside não no idioma, mas na falta de conexão entre o compositor e a realidade do intérprete. Um cantor relata que os estudos de canto lírico com métodos e repertórios estrangeiros tornam nosso idioma cantado incompreensível.
Como forma didática, agrupamos os fatores em três temas principais: dicção, impostação e inadequação das composições. Pode-se perceber que as questões relacionadas à dicção (Gráfico 3) totalizaram 26 respostas. Aspectos relacionados à impostação vocal (Gráfico 4) foram citados por 25 cantores. Inadequação das composições (Gráfico 5) foram citadas por sete. Por fim, o desinteresse pelo repertório foi relatado por apenas três cantores. Faz-se necessário informar que alguns cantores apontaram mais de um fator como dificultador para a pronúncia do português cantado, por isso os resultados totalizam 61 respostas.
Verificamos que os aspectos dicção e impostação vocal foram os mais citados entre os cantores. Apesar de apontarmos, neste artigo, a inadequação das composições como um fator, vimos que se trata de um dado pouco relevante diante da população pesquisada. Essa inadequação pode estar relacionada a problemas com a prosódia ou a ênfase em tessituras extremas, entre outras questões. Ela pode ainda expressar dificuldades individuais para as soluções técnicas que contemplam a escrita da canção ou mesmo inadequações entre o Fach1 1 Refere-se a uma forma de classificar vozes, especialmente no contexto da ópera, de acordo com a extensão vocal e a cor da voz. do cantor e a obra em específico.
Pergunta 5) Quando você escuta canções de câmara brasileiras cantadas por pessoas com a mesma classificação vocal que a sua, você acha que em algum momento há perda da inteligibilidade do texto cantado? Se sim, a que você atribui a perda dessa inteligibilidade?
Aspectos da dicção subdivididos em sons nasais, articulação das palavras e produção do fonema [r]. Referência: Gusmão e Pádua 2024Gusmão, Cristina de Souza. A inteligibilidade do português brasileiro cantado na canção de câmara brasileira: uma investigação analítica perceptivo-auditiva e acústica.2024. 174f. Tese (Doutorado) -Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), Escola de Música. Belo Horizonte, 2024.
Impostação vocal - número de respostas por pessoa. Referência: Gusmão e Pádua 2024Gusmão, Cristina de Souza. A inteligibilidade do português brasileiro cantado na canção de câmara brasileira: uma investigação analítica perceptivo-auditiva e acústica.2024. 174f. Tese (Doutorado) -Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), Escola de Música. Belo Horizonte, 2024.
Inadequação das composições Referência: Gusmão e Pádua 2024Gusmão, Cristina de Souza. A inteligibilidade do português brasileiro cantado na canção de câmara brasileira: uma investigação analítica perceptivo-auditiva e acústica.2024. 174f. Tese (Doutorado) -Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), Escola de Música. Belo Horizonte, 2024.
Observou-se que 11,8% dos cantores responderam “não”, enquanto 88,2% dos cantores responderam “sim”. Dentre os principais motivos da perda da inteligibilidade do texto cantado por cantores da mesma classificação vocal, observou-se que a dicção imprecisa foi apontada por 72,2% (70 cantores) como o principal fator, seguida de tessitura aguda da canção, por 68% (66 cantores). A presença de muito vibrato também foi apontada por 54,6% (53 cantores), seguida de maior grau de impostação por 53,6% (52 cantores), como pode ser visto no Gráfico 6. As respostas “dicção imprecisa” e “tessitura aguda da canção” foram estatisticamente superiores às demais respostas. Mas os parâmetros “presença de vibrato” e “maior grau de impostação vocal” também foram considerados relevantes para este estudo, já que mais da metade dos que responderam “sim” cita esses fatores como influenciadores da perda da inteligibilidade em cantores com a mesma classificação vocal.
Fatores de perda da inteligibilidade do texto cantado de cantores com a mesma classificação vocal. Referência: Gusmão e Pádua 2024Gusmão, Cristina de Souza. A inteligibilidade do português brasileiro cantado na canção de câmara brasileira: uma investigação analítica perceptivo-auditiva e acústica.2024. 174f. Tese (Doutorado) -Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), Escola de Música. Belo Horizonte, 2024.
É importante dizer que a maioria dos cantores que disseram perceber perda da inteligibilidade na canção brasileira quando interpretada por cantores da mesma classificação vocal são sopranos, seguidos dos tenores. Já 11,8% dos cantores que disseram não perceber perda da inteligibilidade em cantores com a mesma classificação foram cantores cujas classificações vocais apresentam tessituras em região média ou grave.
Pergunta 6) Há alguma classificação vocal na qual seja mais difícil entender os cantores quando executam a canção de câmara brasileira? Se sim, qual?
Dentre os cantores pesquisados, 44 cantores responderam “não”, enquanto 60% (66 cantores) responderam “sim”, sendo os sopranos os mais citados (78,8%), como pode ser visto no Gráfico 7.
Perda da inteligibilidade do texto cantado por classificação vocal. Referência: Gusmão e Pádua 2024Gusmão, Cristina de Souza. A inteligibilidade do português brasileiro cantado na canção de câmara brasileira: uma investigação analítica perceptivo-auditiva e acústica.2024. 174f. Tese (Doutorado) -Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), Escola de Música. Belo Horizonte, 2024.
O gráfico acima aponta os sopranos como os mais afetados com a perda da inteligibilidade no canto erudito. Este resultado dialoga com os estudos de Medeiros (2002Medeiros, Beatriz Raposo de. "Descrição comparativa de aspectos fonético-acústicos selecionados da fala e do canto em português brasileiro". 2002. 166f. Tese (Doutorado em linguística), Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 2002. e 2003Medeiros, Beatriz Raposo. "Aspectos fonéticos acústicos da canção brasileira erudita". Sínteses, Campinas, v. 8, p. 217-229, 2003.), DiCarlo (2007Dicarlo, Nicole S. "Effect of multifactorial constraints on intelligibility of opera". Journal of singing, Jacksonville, v. 63, n. 4, p. 443-455, mar./abr. 2007.), Gregg e Scherer (2007Gregg, Jean Westerman; Scherer, Ronald C. "Intelligibility of prolonged vowels in classical singing". Journal of Singing, Jacksonville, v. 63, n. 3, p. 299-307, jan./abr. 2007.) e Nollan e Sykes (2015).
Pergunta 7) Qual ou quais das opções abaixo você associa à falta da inteligibilidade do texto cantado por cantores do tipo vocal escolhido?
Ao verificar os fatores apontados como causadores da falta de inteligibilidade nas emissões realizadas por cantores da classificação vocal escolhida, obtiveram-se a tessitura vocal aguda e a dicção imprecisa como os principais, como pode ser visto no Gráfico 8.
Esse resultado demonstra que os sopranos são mais suscetíveis à perda da inteligibilidade no canto e que essa perda está associada, segundo os participantes desse estudo, dentre outros fatores, à tessitura aguda da canção, à dicção imprecisa e a um maior grau de impostação vocal no canto.
Fatores que influenciam a inteligibilidade do texto cantado de acordo com a classificação vocal escolhida. Referência: Gusmão e Pádua 2024Gusmão, Cristina de Souza. A inteligibilidade do português brasileiro cantado na canção de câmara brasileira: uma investigação analítica perceptivo-auditiva e acústica.2024. 174f. Tese (Doutorado) -Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), Escola de Música. Belo Horizonte, 2024.
4. Discussão
Este artigo buscou conhecer e analisar os fatores apontados pelos cantores líricos brasileiros que influenciam na inteligibilidade do texto cantado na canção de câmara brasileira. O primeiro ponto que nos chamou a atenção foi o número expressivo de respondentes ao questionário, que totalizaram 110, o que demonstrou um interesse por parte da comunidade cantora brasileira em dar seu depoimento e em entender mais sobre o canto em português do Brasil.
Obtivemos um número expressivo de cantores (101) que afirmaram gostar de executar o repertório da canção de câmara brasileira, o que consideramos um ponto muito positivo em relação à aceitação do repertório nacional.
Para 65,5% dos cantores pesquisados, a tessitura aguda da canção é um fator relevante para a perda da inteligibilidade na canção de câmara. Esse dado é confirmado nos estudos de DiCarlo (2007Dicarlo, Nicole S. "Effect of multifactorial constraints on intelligibility of opera". Journal of singing, Jacksonville, v. 63, n. 4, p. 443-455, mar./abr. 2007.), Gregg e Scherer (2007Gregg, Jean Westerman; Scherer, Ronald C. "Intelligibility of prolonged vowels in classical singing". Journal of Singing, Jacksonville, v. 63, n. 3, p. 299-307, jan./abr. 2007.) e Nolan e Sykes (2015Nolan, Francis; Sykes, Harriet. "Vowel and consonant identification at high pitch: The acoustics of soprano unintelligibility". In: International Congress of Phonetic Sciences, 18., 2015, Glasgow. Anais eletrônicos [...] Glasgow: International Phonetic Association, 2020. Disponível: Disponível: https://www.internationalphoneticassociation.org/user/login?destination=node/132 . Acesso em 28 dez. 2023.
https://www.internationalphoneticassocia...
), que associam esse fenômeno físico-acústico a modificações do padrão articulatório em regiões agudas da voz. A tessitura vocal aguda foi o ponto principal para que os cantores deste estudo (78,8%) selecionassem os sopranos os mais susceptíveis à ininteligibilidade do texto cantado.
As vogais no canto não são emitidas da mesma forma como na fala, pois quanto mais aguda for a frequência fundamental da nota cantada, maior será o grau de modificação vocálica no canto (Ophaug 2017Ophaug, Wencke. "The diminished vowel space in classical singing and the tug of war between 'speech-true' and modified vowel qualities". Journal of Singing, Jacksonville, v. 73, n. 3, p. 293-303, jan./fev. 2017.; Bozeman 2018Bozeman Kenneth W. "Vowel Migration and Modification". New York Singing Teachers Association (NYSTA), Nova Iorque, v. 16, n.2, p. 32-38, nov./dez. 2018. ). Os sopranos utilizam-se, na maior parte do tempo, de uma emissão vocal no registro de cabeça. Já as vozes graves emitem o texto cantado, na maioria das vezes, mais inteligível porque a “frequência grave envolve mais harmônicos dentro do espectro acústico2 2 O espectro acústico é o conjunto de harmônicos ordenados a partir de um som fundamental, segundo uma relação frequência/amplitude. Ele é representado por um gráfico que mostra as faixas de frequência no eixo vertical, o tempo no eixo horizontal e a intensidade da emissão por meio do escurecimento ou coloração do traçado das faixas de harmônicos (Lopes; Alves; Melo 2017). e garante mais chance de definição do formante e uma redução na modificação da vogal para a qualidade vocal desejada” (Gregg e Scherer 2007Gregg, Jean Westerman; Scherer, Ronald C. "Intelligibility of prolonged vowels in classical singing". Journal of Singing, Jacksonville, v. 63, n. 3, p. 299-307, jan./abr. 2007., 306).
A dicção imprecisa também foi apontada por 44,5% dos respondentes como um dificultador da inteligibilidade da canção. Esse dado corrobora os achados de Nelson e Tiffany (1986Nelson, H. D.; Tiffany W. R. "The Intelligibility of Song: Research Results with a New Intelligibility Test". Journal of singing, Jacksonville, v. 25, n. 2, p. 22-33, dez. 1968.) e Sundberg e Rommedahl (2009Sundberg Johan; Rommedahl, Camilla. "Text Intelligibility and the Singer's Formant - A Relationship?" Journal of Voice, Amsterdam, v. 23, n. 5, p. 539-545, set. 2009.) que relatam que uma boa articulação no canto favorece a compreensão do texto cantado. A busca pela “dicção precisa” é um ideal a ser seguido no canto, mas vale ressaltar que podem existir variações pessoais e regionais, mesmo mantendo tal precisão. Além da correta pronúncia das palavras, a boa articulação no canto também envolve a habilidade de lidar com a entonação, com o ritmo, com a compreensão e a expressão do texto, além das escolhas técnicas expressivas.
Ainda sobre a dicção, 59,1% dos cantores consideram os fonemas do português brasileiro difíceis de cantar, sobretudo em razão dos sons nasais. Talvez esse dado se explique pelo fato de o cantor ter que mudar um ajuste tão comum no canto erudito que é a elevação do palato. Isso acontece porque, para se fazer um som nasal, há a necessidade do abaixamento do palato mole (véu palatino), um ajuste antagônico ao que é exigido no canto erudito ocidental. Para a técnica erudita, a elevação do palato proporciona maior espaço oral devido à ampliação do trato vocal. Em se tratando da estética do canto erudito, Riggs (2019Riggs, Rawlianne. "The Brazilian Art Song and the Non-brazilian Portuguese Singer: A Performance Guide to Nine Songs by Alberto Nepomuceno". 2019. 138f. Dissertation (Doctor of Musical Arts) - College of Music, University of North Texas, Denton, 2019. ) ressalta que o abaixamento recorrente do palato mole pode afetar o espaço da garganta considerado ideal para uma ressonância eficiente no canto.
Com o intuito de facilitar a emissão dos sons nasais no português brasileiro cantado, alguns autores propõem sugestões para facilitar a execução. Santos (2011Santos, Lenine Alves dos. "O Canto Sem Casaca: propriedades pedagógicas da canção brasileira e seleção de repertório para o ensino de canto no Brasil". 2011. 479f. Tese (Doutorado em Música) - Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), São Paulo, 2011., 44) propõe que a nasalização do som em final de sílaba ocorra o mais próximo possível do corte da sílaba ou da palavra. Já Hannuch (2010Hannuch, Sheila M. "A nasalidade no português brasileiro cantado: um estudo sobre a articulação e representação fonética das vogais nasais no canto em diferentes contextos musicais". 2012. 103f. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Artes. São Paulo, 2012., 49) aponta a utilização de estratégias articulatórias baseadas na intensidade do instrumento que acompanha o cantor. Tomando como exemplo a canção Melodia sentimental, do compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959), a autora sugere que o intérprete mantenha a nasalidade das palavras quando a performance acontecer com um violão, porque é um instrumento que chega a aproximadamente 100 dB SPL de intensidade, o que não é suficiente para cobrir a voz. Assim, não se exigirá tanta projeção vocal do cantor. Em uma performance de voz e piano, cuja intensidade é maior, comparada ao violão, Hannuch (2010Hannuch, Sheila M. "A nasalidade no português brasileiro cantado: um estudo sobre a articulação e representação fonética das vogais nasais no canto em diferentes contextos musicais". 2012. 103f. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Artes. São Paulo, 2012., 49) sugere que a palavra seja cantada inicialmente oralizando o som, para depois nasalizar. Já em uma performance com orquestra, o que favorecerá a projeção da voz, o melhor seria manter inicialmente a oralidade e deixar o componente nasal somente para o final da emissão. Nota-se que as sugestões são estratégias para a adequação do traço de nasalidade, ligadas, portanto, à inteligibilidade e às demandas técnicas vocais e expressivas do canto.
Além dos parâmetros “tessitura vocal aguda”, “dicção imprecisa” e “maior impostação vocal”, percebemos que, na pergunta seis, houve também um número considerável de respondentes que apontaram os parâmetros “voz recuada” e “excesso de vibrato” como influenciadores na compreensão do texto na canção brasileira.
É importante destacar que o canto é uma manifestação artística que envolve vários parâmetros como a técnica vocal, a interpretação, o legato, a musicalidade, a afinação, entre outros. Na música de câmara brasileira, há diversas composições que permitem uma variedade de comportamentos vocais mais ou menos impostados. Mas é importante lembrar que a inteligibilidade, como vimos em alguns estudos, não depende apenas de um contexto “fechado”. Isso nos faz refletir, portanto, que a compressão do texto pode sofrer influência de fatores musicais e extra musicais.
5. Considerações Finais
Este estudo buscou elucidar os aspectos que influenciam a inteligibilidade do texto cantado na canção de câmara brasileira sob a visão de quem a pratica: os cantores líricos brasileiros. Diante das respostas, foi possível verificar que a falta de compreensão do texto na canção de câmara está associada à tessitura aguda da canção, seguida de uma dicção imprecisa no canto. Os aspectos “voz mais impostada” e “excesso de vibrato” também foram citados como parâmetros que influenciam na compreensão do texto.
Os sopranos foram os cantores mais citados pelos participantes deste estudo como afetados pela ininteligibilidade na canção de câmara brasileira. Esse dado pode ser justificado pela frequência aguda com que as palavras se encontram no repertório dos sopranos e pela prevalência da voz de cabeça, que proporciona uma maior intensidade da frequência fundamental e tipicamente menor intensidade nos harmônicos agudos do espectro.
Por fim, observou-se que a inteligibilidade perpassa as questões técnicas vocais, sendo, portanto, um fenômeno musical, acústico, técnico vocal e extra musical, já que o ambiente onde a performance ocorre também pode ser um fator importante, tema que merece discussões em novos estudos.
6. Referências
- Andrade, Mário de; Nascentes Antenor; Azevedo, Luís Heitor Corrêia de. CONGRESSO DA LÍNGUA NACIONAL CANTADA, 1., São Paulo, 1937. Anais... São Paulo: Departamento de Cultura do Município de São Paulo, 1938, 782p.
- Bozeman Kenneth W. "Vowel Migration and Modification". New York Singing Teachers Association (NYSTA), Nova Iorque, v. 16, n.2, p. 32-38, nov./dez. 2018.
- Carlosmagno, Márcio C. "Conduzindo pesquisas com questionários Online: uma introdução às questões Metodológicas". São Paulo, 2018. Disponível em: Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/6423894/mod_resource/content/1/Pesquisas%20com%20question%C3%A1rios%20on%20line.pdf Acesso em: 14 out, 2022.
» https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/6423894/mod_resource/content/1/Pesquisas%20com%20question%C3%A1rios%20on%20line.pdf - Dicarlo, Nicole S. "Effect of multifactorial constraints on intelligibility of opera". Journal of singing, Jacksonville, v. 63, n. 4, p. 443-455, mar./abr. 2007.
- Fernandes, Angelo J; Kayama, Adriana G. "A importância da dicção na construção da sonoridade coral". XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) Brasília - 2006.
- Gregg, Jean Westerman; Scherer, Ronald C. "Intelligibility of prolonged vowels in classical singing". Journal of Singing, Jacksonville, v. 63, n. 3, p. 299-307, jan./abr. 2007.
- Gusmão, Cristina de Souza. A inteligibilidade do português brasileiro cantado na canção de câmara brasileira: uma investigação analítica perceptivo-auditiva e acústica.2024. 174f. Tese (Doutorado) -Universidade Federal de Minas Gerais, (UFMG), Escola de Música. Belo Horizonte, 2024.
- Gusmão, Cristina de Souza; Pádua, Mônica Pedrosa. "A inteligibilidade da canção de câmara brasileira sob a ótica dos não músicos: um estudo piloto". In: Seminário da Canção Brasileira da Escola de Música da UFMG: a canção de câmara brasileira e seus intérpretes, 6., 2020, Belo Horizonte. Anais eletrônicos [...] Belo Horizonte: Escola de Música da UFMG, 2020. Disponível em: Disponível em: https://musica.ufmg.br/selominasdesom /wp-content/uploads/sites/3/2021/05/ANAIS-DO-VI-SEMINARIO-DA-CANCAO BRASILEIRA-DA-ESCOLA-DE-MUSICA-DA-UFMG-2020-mesclado.pdf Acesso em: 23 dez. 2023.
» https://musica.ufmg.br/selominasdesom /wp-content/uploads/sites/3/2021/05/ANAIS-DO-VI-SEMINARIO-DA-CANCAO BRASILEIRA-DA-ESCOLA-DE-MUSICA-DA-UFMG-2020-mesclado.pdf - Hannuch, Sheila M. "A nasalidade no português brasileiro cantado: um estudo sobre a articulação e representação fonética das vogais nasais no canto em diferentes contextos musicais". 2012. 103f. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Artes. São Paulo, 2012.
- Houaiss, Antônio; Villar, M. de Salles. "Dicionário Houaiss da língua portuguesa". Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
- Kayama, Adriana G. "O português brasileiro cantado: um relato da trajetória dos GTs na Anppom que elaboraram as Normas de pronúncia do português brasileiro no canto erudito". In: LIMA, Sonia Regina Albano de; ULHÔA, Martha Tupinambá de (org.). ANPPOM: 30 anos de criação (edição comemorativa). São Paulo: ANPPOM, 2018.
- Kayama, Adriana et al "PB cantado: normas para a pronúncia do português brasileiro no canto erudito". Opus, São Paulo, v. 13, n. 2, p.16-38, dez. 2007.
- Lopes, Leonardo W.; Alvez, Giorvan Ânderson dos S; Melo, Matheus L. de. "Evidência de conteúdo de um protocolo de análise espectrográfica". Revista CEFAC, Perdizes, v. 19, n. 4, p. 510-528, jul./ago. 2017.
- Marconi, Marina de A; Lakatos, Eva Maria. "Fundamentos de metodologia científica". Editora Atlas S.A, 5ª edição. São Paulo, 2003
- Mariz, Vasco. "A canção brasileira de câmara". 4ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002.
- Medeiros, Beatriz Raposo de. "Descrição comparativa de aspectos fonético-acústicos selecionados da fala e do canto em português brasileiro". 2002. 166f. Tese (Doutorado em linguística), Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 2002.
- Medeiros, Beatriz Raposo. "Aspectos fonéticos acústicos da canção brasileira erudita". Sínteses, Campinas, v. 8, p. 217-229, 2003.
- Montgomery, Douglas C.; Runger, George C. "Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros". 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
- Nelson, H. D.; Tiffany W. R. "The Intelligibility of Song: Research Results with a New Intelligibility Test". Journal of singing, Jacksonville, v. 25, n. 2, p. 22-33, dez. 1968.
- Netto, Crislaine Hildebrant. "Manuel Bandeira: Poesia e Música: Canções nascidas da obra poética de um escritor brasileiro". Dissertação (Mestrado em Música) - Escola superior de Música e Artes do Espetáculo, Instituto Politécnico do Porto, Porto, 2021.
- Nolan, Francis; Sykes, Harriet. "Vowel and consonant identification at high pitch: The acoustics of soprano unintelligibility". In: International Congress of Phonetic Sciences, 18., 2015, Glasgow. Anais eletrônicos [...] Glasgow: International Phonetic Association, 2020. Disponível: Disponível: https://www.internationalphoneticassociation.org/user/login?destination=node/132 Acesso em 28 dez. 2023.
» https://www.internationalphoneticassociation.org/user/login?destination=node/132 - Ophaug, Wencke. "The diminished vowel space in classical singing and the tug of war between 'speech-true' and modified vowel qualities". Journal of Singing, Jacksonville, v. 73, n. 3, p. 293-303, jan./fev. 2017.
- Pádua, Mônica Pedrosa. "Imagens de brasilidade nas canções de câmara de lorenzo fernandez: uma abordagem semiológica das articulações entre música e poesia". 2009. 275f. Tese (Doutorado em Letras - Estudos Literários) - Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2009.
- Picchi, Achille. "A canção de câmara: definição do objeto, contexto e estado da arte no Brasil". In: Jornada de Investigação em Música Latino-Americana, 2., 2018, Foz do Iguaçu. Anais eletrônicos [...] Foz do Iguaçu: Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). 2018. Disponível em: file:///C:/Users/Ju%C3%A7ara.DESKTOP- EP1LFCS/Desktop/JOR_17-62.pdf.
- Riggs, Rawlianne. "The Brazilian Art Song and the Non-brazilian Portuguese Singer: A Performance Guide to Nine Songs by Alberto Nepomuceno". 2019. 138f. Dissertation (Doctor of Musical Arts) - College of Music, University of North Texas, Denton, 2019.
- Santos, Lenine Alves dos. "O Canto Sem Casaca: propriedades pedagógicas da canção brasileira e seleção de repertório para o ensino de canto no Brasil". 2011. 479f. Tese (Doutorado em Música) - Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), São Paulo, 2011.
- Sundberg, Johan. "The acoustics of the singing voice". Scientific American, Nova Iorque, v. 236, n. 3, p. 82-91, mar. 1977. Disponível em: Disponível em: https://www.jstor.org/stable/24953939 Acesso em: 26 jan. 2023.
» https://www.jstor.org/stable/24953939 - Sundberg Johan; Rommedahl, Camilla. "Text Intelligibility and the Singer's Formant - A Relationship?" Journal of Voice, Amsterdam, v. 23, n. 5, p. 539-545, set. 2009.
-
1
Refere-se a uma forma de classificar vozes, especialmente no contexto da ópera, de acordo com a extensão vocal e a cor da voz.
-
2
O espectro acústico é o conjunto de harmônicos ordenados a partir de um som fundamental, segundo uma relação frequência/amplitude. Ele é representado por um gráfico que mostra as faixas de frequência no eixo vertical, o tempo no eixo horizontal e a intensidade da emissão por meio do escurecimento ou coloração do traçado das faixas de harmônicos (Lopes; Alves; Melo 2017Lopes, Leonardo W.; Alvez, Giorvan Ânderson dos S; Melo, Matheus L. de. "Evidência de conteúdo de um protocolo de análise espectrográfica". Revista CEFAC, Perdizes, v. 19, n. 4, p. 510-528, jul./ago. 2017.).
Glossário*
*As definições presentes neste glossário foram construídas a partir da síntese de leituras realizadas e do conhecimento científico pedagógico das autoras.
A impostação vocal é a resultante acústica da amplificação dos sons produzidos pelas pregas vocais, decorrente dos ajustes fonatórios realizados pelo cantor no seu trato vocal nos níveis da laringe, faringe, língua, lábios e palato, aliados a ajustes na musculatura respiratória para o controle do fluxo aéreo. Diferentes graus de impostação vocal resultarão em diferenças de timbre, intensidade e extensão vocal. Normalmente, uma impostação vocal lírica tem como características a amplificação controlada de harmônicos do som, maior extensão vocal e maior amplitude de deslocamento da onda sonora no meio, resultando em maior audibilidade.
Dicção é a forma como articulamos as palavras, possibilitando ao ouvinte a compreensão do que está sendo dito. É preciso combinar tais qualidades com a prática de se cantar as palavras com a acentuação adequada, dando sentido ao conteúdo poético de cada verso do texto e adequando-o ao conteúdo musical (Fernandes; Kayama, 2006Fernandes, Angelo J; Kayama, Adriana G. "A importância da dicção na construção da sonoridade coral". XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) Brasília - 2006.). A dicção imprecisa é aquela em que a compreensão da mensagem é comprometida, já que a articulação das palavras tanto no nível vocálico quanto consonantal, ou mesmo no nível interpretativo, fica comprometida.
A colocação vocal recuada ocorre quando os ajustes fonatórios realizados pelo cantor, sobretudo com a língua, tendem a ficar numa posição mais posterior durante o canto. Esse ajuste tem muitas vezes a intenção de escurecer o timbre da voz, já que essa configuração do trato vocal privilegia os harmônicos graves.
Ajuste é a manipulação das estruturas das pregas vocais e do trato vocal (língua, palato, laringe, faringe) executada pelo cantor com o intuito de mudar as características do timbre e da sonoridade da voz, de forma coerente com a estética do gênero ou estilo musical cantado.
Voz clara é uma voz rica em harmônicos agudos, cuja qualidade sonora ressoa mais frontal, sem grande impostação ou escurecimento do som.
A voz escura ocorre geralmente quando a laringe se encontra numa posição mais baixa no pescoço e mantém uma maior elevação de palato mole. A faringe tende a se manter numa posição alargada, com um trato vocal mais profundo. Essa é a cor que geralmente encontramos quando emitimos a vogal [u]. A posição da língua tende a ficar mais posteriorizada e esse ajuste permite um estreitamento próximo à parte posterior da cavidade oral.
Tessitura vocal é o conjunto de notas dentro da extensão vocal, as quais o cantor consegue executar de forma confortável e com qualidade. Importante no contexto da voz cantada por ser essencial para a classificação vocal no canto erudito.
Extensão vocal é a quantidade de notas, da mais grave à mais aguda, que uma pessoa consegue emitir, independentemente da qualidade e do esforço da emissão.
A classificação vocal pode ser definida pela faixa de notas emitidas por um indivíduo dentro da extensão possível na voz. Classifica-se a voz também, sobretudo as subclassificações do canto erudito, por meio da cor do timbre vocal e às habilidades performáticas de cada cantor. Dentro da classificação masculina, temos a voz do baixo, barítono, tenor e contratenor, da mais grave à mais aguda, respectivamente, e na classificação feminina, temos a voz de contralto, mezzo-soprano e soprano, da voz mais grave à mais aguda para a mulher, respectivamente.
Editado por
Editor de Seção:
Editor de Layout:
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
24 Jun 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
25 Abr 2024 -
Aceito
27 Maio 2024 -
Publicado
31 Maio 2024