Resumo
Este artigo investiga as relações da criança com o saber. O ponto de partida é a prática clínica com crianças que apresentaram impasses no acesso ao saber escolar e, na investigação analítica, revelaram a trama inconsciente na qual o saber ocupa um lugar no sintoma familiar. Apresentaremos a discussão teórica considerando que o acesso ao saber porta uma dimensão estrutural de impedimento, que é a impossibilidade do saber diante da castração. Sendo assim, percorreremos dois caminhos para discutir o que impede o acesso ao saber. No primeiro caminho abordaremos a relação entre demanda e desejo e suas incidências sobre a criança. No segundo percurso discutiremos a relação entre saber e verdade, explorando as relações e os limites entre os dois termos, acrescentando a essa discussão um terceiro termo essencial: o gozo.
Palavras-chave:
saber; psicanálise infantil; sintoma da criança; demanda e desejo; verdade
Résumé
Cet article examine les relations de l’enfant avec la connaissance. La pratique clinique et la recherche analytique avec des enfants qui ont présenté des impasses dans l’accès à les connaissances scolaires révèlent souvent la relation inconsciente dans laquelle la connaissance occupe une place dans le symptôme familier. Une discussion théorique sera présentée, considérant que l’accès au savoir porte une dimension structurelle d’empêchement, qui est l’impossibilité du savoir face à la castration. De cette façon, deux chemins seront abordés pour discuter de ce qui empêche l’accès à la connaissance. D’abord, la relation entre la demande et le désir et leurs incidences sur l’enfant sera abordée. Dans le deuxième chemin, la relation entre connaissance et vérité sera discutée, en explorant les relations et les frontières entre les deux termes, en ajoutant à cette discussion un troisième terme essentiel : la jouissance.
Mots-clés:
connaissance; psychanalyse infantile; symptôme de l’enfant; demande et désir; vérité
Resumen
Este artículo examina las relaciones entre el niño y el saber. El punto de partida es la práctica clínica con niños que presentaron dificultades en el acceso al saber escolar, y en la investigación analítica se reveló la trama inconsciente en la que el saber ocupa un lugar en el síntoma familiar. Presentamos la discusión teórica considerando que el acceso al saber contiene una dimensión estructural de impedimento, que es la imposibilidad del saber ante la castración. Por eso recorreremos dos caminos para discutir lo que impide el acceso al saber. En el primer, abordaremos la relación entre demanda y deseo y sus incidencias sobre el niño. En el segundo, discutiremos la relación entre saber y verdad, explorando las relaciones y los límites entre los dos términos, añadiendo a esa discusión un tercer término esencial: el goce.
Palabras clave:
saber; psicoanálisis infantil; síntoma del niño; demanda y deseo; verdad
Abstract
This paper investigates the child’s relationship with knowledge. Clinical practice and analytical research with children with difficulties to access school knowledge revealed the unconscious dynamics in which knowledge occupies a place in the family symptom. A theoretical discussion will be presented considering that access to knowledge bears a structural dimension of impediment, which is the impossibility of knowing in the face of castration. Therefore, we will investigate two paths to discuss what prevents access to knowledge. The first addresses the relationship between demand and desire and how it affects children. The second discusses the relationship between knowledge and truth, exploring the relationships and boundaries between both, adding to this discussion a third essential term: jouissance.
Keywords:
knowledge; child psychoanalysis; child’s symptom; demand and desire; truth
Introdução
Neste artigo, apresentamos uma reflexão sobre os impasses no acesso ao saber na clínica psicanalítica com crianças. A análise de dois casos clínicos nos levou a considerar a relação existente entre o sintoma da criança, que se manifesta no campo do saber, e a trama familiar. Para realizarmos esta discussão, escolhemos dois percursos teóricos: a relação entre demanda e desejo, a partir do seminário 9 de Lacan, A identificação (1961-62/2003Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62)), e a disjunção entre saber e verdade, a partir do seminário 17, de Lacan, O avesso da psicanálise (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)).
A dificuldade escolar, analisada pela perspectiva psicanalítica, considera que a relação do sujeito com o saber envolve a dimensão inconsciente. Desde Freud (1905/2016Freud, S. (2016). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In Obras completas (P. C. de Souza, trad., Vol. 6, pp. 13-172). São Paulo, SP: Companhia das Letras . (Trabalho original publicado em 1905)), compreendemos ainda que existe um não-saber de ordem estrutural, que se apresenta como um impedimento para o sujeito - a impossibilidade de saber sobre a castração -, mas que, contudo, lança o sujeito na busca por outros saberes.
Acreditamos que a prática clínica é uma fonte de pesquisa da qual o psicanalista se serve e, desta forma, optamos por apresentar dois fragmentos clínicos em que localizamos impasses das crianças em relação ao saber.
Em um deles, a criança não aprende nada que é ensinado na escola e repete continuamente que “não sabe das coisas”. Na entrevista inicial com a mãe, ela revela que a criança é fruto de uma gestação de gêmeos, que o irmão faleceu após o nascimento, mas que a criança “não sabe nada” sobre isso. No outro caso, a criança começa a “desaprender” tudo o que já havia aprendido na escola. Segundo o relato da mãe, essa regressão surge após a prisão do pai, cena que foi presenciada pela criança, acrescentando que ela “não quis saber” o motivo da prisão do marido, pois confia plenamente nele e em sua afirmação de que não fez nada de errado.
Os dois casos sugerem que a criança é impedida de saber, de maneira inconsciente, pela mãe, sobre a morte do irmão ou sobre a transgressão do pai. O impedimento relaciona-se com a dificuldade da própria mãe em lidar com essa perda, o que desencadeia, como resposta subjetiva da criança, uma recusa do saber escolar.
O saber que interessa à psicanálise está relacionado ao saber inconsciente, um saber “que não se sabe” (Lacan, 1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70), p. 35), mas está entrelaçado ao sujeito, derrapa no discurso e transborda pela palavra. É um saber que se difere da aquisição de conhecimento pela via da educação: esse saber não pode ser ensinado, ele é transmitido.
Neste artigo, faremos um percurso a partir de elementos da teoria lacaniana para discutir o que impede o acesso ao saber, tomando como referência os fragmentos clínicos que operaram como causa para o desenvolvimento deste trabalho. Partiremos da consideração de que o acesso ao saber porta uma dimensão estrutural de impedimento, que é a impossibilidade do saber diante da castração. Sendo assim, percorreremos dois caminhos para discutir o que impede o acesso ao saber. No primeiro caminho abordaremos a relação entre demanda e desejo e suas incidências sobre a criança. No segundo percurso discutiremos a relação entre saber e verdade, explorando as relações e os limites entre os dois termos, acrescentando a essa discussão um terceiro termo essencial: o gozo.
A demanda tomada como desejo
O percurso feito nesta seção busca responder à pergunta que instigou a nossa pesquisa: por que as crianças - apresentadas nos fragmentos clínicos - não acessam o saber?
Para iniciar esta reflexão, recorreremos ao seminário 9: A identificação (1961-62/2003). Nesse seminário, Lacan destaca a função do significante e sua relação com o processo de constituição do sujeito. O autor recorre às três categorias da falta: privação, frustração e castração, e as articula às categorias necessidade, demanda e desejo para abordar a constituição subjetiva. Lacan analisa a tríplice identificação do sujeito - ao pai, ao traço unário e ao desejo do Outro - através da topologia. Desde as suas primeiras elaborações sobre o desejo, Lacan relaciona-o com a necessidade e com a demanda. Lacan enfatiza que da operação da demanda sobre a necessidade advém um resto. Esse resto irredutível é capturado como objeto. O objeto a, em sua função de causa de desejo, será correspondente ao objeto perdido freudiano.
Lacan aborda o intercâmbio “que se produz pela dimensão do Outro entre desejo e demanda” (1961-62/2003Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62), p. 199)1 1 Este seminário não possui tradução oficial. Utilizaremos nesse artigo uma tradução extraoficial (Lacan, 1961-62/2003), a fim de reproduzirmos as citações diretas e figuras que foram apresentadas ao longo do artigo. e afirma que a demanda do Outro é tomada pelo neurótico como desejo. Lacan (1961-62/2003Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62)) utiliza uma figura da topologia, o toro, para mostrar a dialética entre a demanda e o desejo. Para ilustrar a demanda, é feito um movimento circular espiral, repetido diversas vezes, para representar a insistência da demanda. O círculo vazio central criado pelo contorno do repetido movimento espiral caracteriza o desejo inconsciente (Figura 1).
É importante considerar que o sujeito é constituído em relação ao campo do Outro e, por causa disso, dois toros - o do sujeito e do Outro - se entrelaçam na constituição do sujeito (Figura 2).
O Outro adentra o vazio, o centro vazio do sujeito, no lugar que diz respeito ao desejo, e por isso ele se torna objeto de desejo. O sujeito e o Outro se entrelaçam, e nesse movimento há uma confusão entre o desejo do sujeito e a demanda que vem do Outro. Como afirma Lacan (1961-62/2003Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62)), “desejo num, demanda no outro; demanda de um, desejo do outro, que é o nó onde se atravanca a dialética da frustração” (p. 201). A demanda do Outro é confundida com o próprio desejo do sujeito, uma vez que a demanda diz da suposição que o sujeito faz sobre o que o Outro quer dele. A frustração está implicada nesse processo, pois o vazio do desejo jamais poderá ser preenchido. O toro ilustra a impossível harmonia entre desejo e demanda.
Lacan (1961-62/2003Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62)) destaca que o desejo é estruturado pelo Édipo, que é essencialmente “uma relação entre uma demanda que toma um valor tão privilegiado que se torna o comando absoluto, a lei, e um desejo que é o desejo do Outro, do Outro de que se trata no Édipo” (p. 206).
Lacan (1961-62/2003Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62)) define o desejo em relação ao desejo do Outro a partir do impossível. Ele ressalta que o desejo se define como a interseção entre duas demandas, a do sujeito e a do Outro. O sujeito é signo de nada, já que o significante se define como representando o sujeito junto a outro significante, o que leva a uma remessa indefinida dos sentidos. Ao mesmo tempo, o Outro não responde nada. A impotência do Outro em responder se enraíza num impossível. Assim, o desejo é tomado como a interseção daquilo que, nas duas demandas, a do sujeito e a do Outro, não é para ser dito. Para o autor, o desejo se constitui inicialmente como aquilo que está escondido no Outro por estrutura. É o impossível ao Outro que se torna o desejo do sujeito: “O desejo constitui-se como a parte da demanda que está escondida no Outro” (Lacan, 1961-62/2003Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62), p. 215). Lacan (1961-62/2003Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62)) esclarece que esse Outro que não garante nada torna-se o véu, o princípio da ocultação do próprio lugar do desejo, “e é aí que o objeto vai se ocultar” (p. 215).
Essa discussão é também desenvolvida por Lacan no grafo do desejo. Lacan iniciou suas elaborações sobre o grafo do desejo no seminário 5, As formações do inconsciente (1957-58/1999Lacan, J. (1999). O seminário, livro 5: As formações do inconsciente. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1957-58)), continuou-as no seminário 6, O desejo e sua interpretação (1958-59/2016Lacan, J. (2016). O seminário, livro 6: O desejo e sua interpretação. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1958-59)), e retomou sua esquematização no texto Subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)), em que apresenta a versão completa do grafo. É a partir do grafo do desejo que Lacan (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)) começa a operar com a concepção de “significante de uma falta no Outro” (p. 832), introduzindo uma diferença na abordagem do Outro, que antes era apresentado como “tesouro dos significantes” (p. 820).
Nesse texto, Lacan (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)) se utiliza de formas gráficas para representar uma série de elementos que estão envolvidos na dialética do desejo. O autor acrescenta elementos ao grafo do desejo, de forma gradativa, tornando-o mais complexo. Iniciaremos nossa discussão com uma citação de Lacan que aborda a passagem do signo ao significante na relação da criança com o Outro:
a criança, de um só golpe, desvinculando a coisa de seu grito, eleva o signo à função do significante e eleva a realidade à sofística da significação, e, através do desprezo pela verossimilhança, descortina a diversidade das objetivações a serem verificadas de uma mesma coisa. (Lacan, 1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960), p. 820)
A criança grita (por dor ou fome, por exemplo), e o Outro, ao escutar o seu grito, o interpreta. O grito que até então indicava uma necessidade biológica, ao ser interpretado pelo Outro, é transformado em demanda. O Outro vai responder a essa demanda de acordo com a suposição do que poderia suprir essa necessidade. Nesse sentido, o sujeito recebe do Outro sua própria mensagem, só que de forma invertida: “é do Outro que o sujeito recebe a própria mensagem que emite” (Lacan, 1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960), p. 821). Temos, portanto, a transformação do grito da necessidade em demanda, quando ele é introduzido no campo do Outro, campo das significações. Como assinala Lacan (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)):
Impossível, no entanto, para os que sustentam que é pela acolhida dada à demanda que se introduz a discordância nas necessidades presumidas na origem do sujeito, negligenciar o fato de que não há demanda que não passe de algum modo pelos desfilamentos do significante. (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960), p. 826)
A criança, ao nascer, naturalmente não fala. Ela então será falada pelo Outro. A criança irá se alienar ao campo do Outro, que dará significados às suas manifestações - momento estruturante da subjetividade, em que criança se alienará à mãe, que encarna o Outro primordial. Lacadée (1996Lacadée, P. (1996). Duas referências essenciais de J. Lacan sobre o sintoma da criança (C. M. R. Guardado, trad.). Opção Lacaniana, 17, 74-82.) aponta que:
se tomarmos a criança como um significante, uma criança sozinha não significa nada. Ela só pode por em significação seu ser ou o que lhe acontece de real em seu corpo, na relação que estabelecerá com o Outro, a mãe no caso. (p. 75)
A alienação ao campo do Outro, ou a alienação significante, é apontada por Lacan como “a primeira operação essencial em que se funda o sujeito” (1964/1998Lacan, J. (1998). O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. (M. D. Magno, trad.). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1964), p. 199). Nessa alienação significante algo se destaca, o objeto a, que no texto “Subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano” (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)) é apresentando como sendo “voz”. Assim, nem tudo o que é da ordem do real pode se submeter à ordem significante. Há algo que escapa à simbolização, o que Lacan nomeia como objeto a. Laurent (1997Laurent, E. (1997). Alienação e separação I. In Feldstein, R., Fink, B., & Jaanus, M. (Orgs.), Para ler o seminário 11 de Lacan (pp. 31-41). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar .) esclarece que “o sujeito não pode ser inteiramente representado no Outro, sempre há um resto” (p. 37); a voz aparece como um real rejeitado pela significação. Podemos localizar essa configuração no primeiro plano do grafo do desejo, conforme a Figura 3:
Grafo do desejo - primeira parte2 2 Os termos apresentados nesse grafo são: $ - sujeito; A - grande Outro; s(A) - significado do Outro; I(A) - Ideal do Eu; i(a) - imagem; m - moi.
Nesse primeiro plano do grafo, é possível verificar uma articulação entre a alienação imaginária e a alienação simbólica:
Tomem apenas um significante como insígnia dessa onipotência, ou seja, desse poder todo em potência, desse nascimento da possibilidade, e vocês terão o traço unário, que, por preencher a marca invisível que o sujeito recebe do significante, aliena esse sujeito na identificação primeira que forma o ideal do eu. (Lacan, 1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960), p. 822)
Para a constituição do eu Ideal, que irá confirmar para o sujeito sua própria imagem, o sujeito precisa de um apoio simbólico, que ele situa no campo do Outro. O sujeito se aliena não só aos significantes que vêm do campo do Outro, mas também à imagem do Outro. Laurent aponta que “a alienação é o fato de que o sujeito, não tendo identidade, tenha de identificar-se a algo” (1997, p. 43).
A mensagem, assim como a imagem, vem do Outro, invertida. A criança espera que o Outro confirme que aquela imagem que ela vê é dela, fazendo, assim, do Outro um ponto de ancoragem, um apoio simbólico que confirma a identificação.
Freud (1921/2011Freud, S. (2011). Psicologia das massas e análise do Eu. In Obras completas (P. C. de Souza, trad., Vol. 15, pp. 13-113). São Paulo, SP: Companhia das Letras. (Trabalho original publicado em 1921)), em suas elaborações sobre a identificação, descreve três tipos de identificação. A primeira é a identificação ao pai e precede a escolha de objeto. A segunda aborda o campo da escolha objetal. A terceira identificação é aquela baseada no desejo de estar na mesma situação do outro.
A segunda identificação, a identificação ao traço, é privilegiada por Lacan (1961-62/2003Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62)) quando ele desdobra o traço único apresentado por Freud (1921/2011Freud, S. (2011). Psicologia das massas e análise do Eu. In Obras completas (P. C. de Souza, trad., Vol. 15, pp. 13-113). São Paulo, SP: Companhia das Letras. (Trabalho original publicado em 1921)) em traço unário, demarcando a identificação pela via simbólica que extrapola o viés imaginário. A identificação irá propiciar a separação entre o sujeito e o Outro pois, através da identificação com o traço do Outro, o sujeito internaliza o Outro e, a partir de então, pode se separar dele.
A alienação deixa como herança um sujeito que está articulado na cadeia significante, inserido na ordem simbólica e, sendo assim, demanda do Outro a verdade sobre seu ser: o que eu sou? O sujeito se endereça ao Outro por sua função de “tesouro dos significantes” e lhe dirige uma demanda. O sujeito recorre ao Outro em busca da verdade sobre seu ser, mas se depara com o fato de que ele só existe a partir do desejo do Outro. Quando o sujeito demanda essa verdade do Outro, ele esbarra no desejo do Outro. Ele se depara com o enigma do desejo do Outro, ou seja, a demanda está articulada ao desejo.
Lacan (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)) esclarece que toda demanda implica um espaço desmedido, por ser petição de amor. É como desejo do Outro que o desejo do homem ganha forma, mas guardando uma opacidade subjetiva, que constitui a substância do desejo: “O desejo se esboça na margem em que a demanda se rasga da necessidade” (Lacan, 1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960), p. 828). A pergunta “che vuoi?”3 3 Da expressão italiana “che vuoi?” (o que queres?), utilizada por Lacan em “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano” (1960/1998, p. 829). é a que melhor conduz ao caminho do próprio desejo.
A criança busca saber sobre a sua verdade e se depara com o desejo enigmático do Outro. Ela então se pergunta: o que o Outro quer de mim? Qual o meu lugar no desejo do Outro? “Che vuoi?”. Essa pergunta articula o sujeito à castração, à falta no campo do Outro. Não há um significante no campo do Outro que vá preencher a falta-a-ser.
O sujeito recorre ao Outro em busca de respostas, mas no lugar das respostas ele encontra a interrogação sobre o que ele é para o Outro. Lacan (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)) demonstra o intercâmbio entre o desejo do sujeito e o do Outro, afirmando que “o desejo do homem é o desejo do Outro” (p. 829). De acordo com Lacan (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)):
Eis por que a pergunta do Outro, que retorna para o sujeito do lugar de onde ele espera um oráculo, formulada como um “Che vuoi? - que quer você?”, é a que melhor conduz ao caminho de seu próprio desejo - caso ele se ponha, graças à habilidade de um parceiro chamado psicanalista, a retomá-la, mesmo sem saber disso muito bem, no sentido de um “Que quer ele de mim?” (p. 829)
A interrogação do sujeito sobre o desejo do Outro, representado pela pergunta “che vuoi?” integra a formulação do grafo do desejo, em sua denominação “grafo 3” (Figura 4):
Ao interrogar sobre o desejo do Outro, a criança não obtém a resposta, pois não existe a possibilidade de o Outro responder ao enigma do desejo. Nessa passagem do grafo, encontramos a disjunção entre saber e verdade.
A impossibilidade de resposta leva a criança à construção da fantasia ($ ◊ a). O sujeito irá construir uma ficção, uma resposta própria para o enigma do desejo do Outro. A fantasia é essa construção que a criança faz para responder ao desejo enigmático do Outro. Assim, o caráter opaco do desejo do Outro é interpretado pela fantasia. Como sublinha Lacan (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)):
O grafo inscreve que o desejo é regulado a partir da fantasia, assim formulada de maneira homóloga ao que acontece com o eu em relação à imagem do corpo, exceto que ela continua a marcar a inversão dos desconhecimentos em que se fundamentam, respectivamente, um e outro. (p. 831)
Não existindo a resposta que o sujeito demanda do Outro, ou um significante que feche a cadeia de significação, o que advém daí é da ordem do gozo, uma vez que o gozo aponta exatamente para uma impossibilidade de significação. Onde falta um significante, emerge o gozo. Segundo Quinet (1993Quinet, A. (1993). 4 + 1 condições da análise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar .), “este ser que lhe falta é o que sua fantasia ($ ◊ a) lhe indica como sendo o objeto com o qual ele, como sujeito, se encontra em conjunção e disjunção - objeto condensador de gozo: objeto a” (p. 111).
Compreender o sintoma da criança e sua relação com o desejo do Outro é importante para analisarmos os fragmentos clínicos apresentados neste artigo. Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) ressalta que o papel da mãe é o desejo da mãe, e que este carreia sempre estragos. Para o autor, a função da mãe se traduz em seus cuidados, que carregam a marca de um interesse particularizado (Lacan, 1969/2003Lacan, J. (2003). Nota sobre a criança. In Outros escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 369-370). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969), p. 369).
A criança se perguntará como ela poderá, ou não, saciar o desejo da mãe (Lacadée, 1996Lacadée, P. (1996). Duas referências essenciais de J. Lacan sobre o sintoma da criança (C. M. R. Guardado, trad.). Opção Lacaniana, 17, 74-82.). O sintoma da criança se apresenta em articulação com o lugar que ela ocupa em relação à falta do objeto da mãe. Lacadée (1996Lacadée, P. (1996). Duas referências essenciais de J. Lacan sobre o sintoma da criança (C. M. R. Guardado, trad.). Opção Lacaniana, 17, 74-82.) acrescenta que “a criança, com o seu sintoma, dá uma significação a este x que é o desejo da mãe. Podemos interpretar isto como uma identificação com o sintoma da mãe enquanto este se articula com a posição do pai” (p. 77). O desejo da mãe deve se apresentar dividido, é importante que o objeto de seu desejo não seja único (Miller, 1996/2014Miller, J-A. (2014). A criança entre a mãe e a mulher. Opção Lacaniana, 5(15). Recuperado de http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_15/crianca_entre_mulher_mae.pdf (Trabalho original publicado em 1996)
http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/num...
).
Disjunção entre saber e verdade
O acesso ao saber encontra a impossibilidade quando a dimensão da verdade é colocada em cena. Não se pode saber toda a verdade, já que ela só pode ser dita pela metade (Lacan, 1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)). Logo, saber e verdade se encontram em uma disjunção estrutural. O saber encontra o seu limite na medida em que ele não pode responder ao que é da ordem da verdade do sujeito.
Nesta seção, será analisada a disjunção entre saber e verdade e suas implicações no acesso do sujeito ao saber. Para realizar este percurso, serão privilegiadas as elaborações lacanianas apresentadas no seminário 17, O avesso da psicanálise (1969-70/2007). Ao longo do referido texto, Lacan trabalha as noções de saber e verdade a partir dos discursos. O autor parte da consideração de certa oposição entre saber e verdade, oposição extraída da obra Fenomenologia do espírito, de Hegel4 4 Nesta pesquisa, não iremos nos aprofundar nas questões apresentadas por Hegel. Sobre tais questões, consultar a bibliografia: Hegel (2002). . Entretanto, Lacan ultrapassa o par hegeliano quando introduz nesta discussão um terceiro termo, o gozo.
O saber como verdade, em Lacan, tal qual está disposto no discurso do analista, é um saber que não se sabe, e aí reside uma diferença entre o pensamento de Lacan e o de Hegel. Segundo Oliveira (2007Oliveira, C. (2007). Da enunciação da verdade ao enunciado do gozo. Discurso, (36), 271-284.), “não se trata, para Lacan, de Consciência de si, mas de Inconsciente, em outras palavras, Lacan não é hegeliano, mas freudiano” (p. 275).
Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) interroga o que seria a verdade como um saber e responde: “é um enigma” (p. 36). Enigma e verdade conservam a mesma condição de serem ditos apenas pela metade. Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) aponta que a função do enigma é a de ser um semidizer. Compreendemos que a verdade é também sustentada em um semidizer.
A partir da ideia de enigma proposta por Lacan, é possível diferenciar o enunciado da enunciação, distinção necessária para se compreender a dimensão da verdade. Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) ressalta que “o enigma é a enunciação - e se virem com o enunciado” (p. 37). Entendemos como enunciado aquilo que se diz e como enunciação aquilo que se quer dizer com o que se diz. Lacan aproxima, portanto, a enunciação do enigma:
Se eu insisti longamente na diferença de nível entre a enunciação e o enunciado, foi justamente para que a função do enigma ganhe sentido. O enigma é provavelmente isso, uma enunciação. Encarrego vocês de convertê-lo em enunciado. Virem-se como puderem - como fez Édipo -, vocês sofrerão suas consequências. Eis do que se trata no enigma. (Lacan, 1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70), p. 37)
A enunciação traz consigo a dimensão da verdade. O sujeito que fala, fala mais do que diz, e isso que não é dito, ou seja, que é não dito, concerne à dimensão encoberta presente na enunciação. É no nível da enunciação que o analista deve procurar traços da verdade do sujeito, mesmo avisado da impossibilidade de encontrar toda a verdade. A enunciação veicula a verdade na medida em que ela própria encontra os limites do dizer. A verdade se insinua na impossibilidade de tudo dizer. No seminário 16, De um Outro ao outro, Lacan (1968-69/2008Lacan, J. (2008). O seminário, livro 16: De um Outro ao outro (V. Ribeiro, trad.). Rio de Janeiro, RJ: Zahar . (Trabalho original publicado em 1968-69)) postula:
O que não se pode dizer do fato é designado, porém no dizer, por sua falta, e é isso que constitui a verdade. É por isso que a verdade sempre se insinua, mas também pode inscrever-se de maneira perfeitamente calculada ali onde só ela tem lugar, nas entrelinhas. (p. 65)
Ainda que a enunciação comporte a dimensão da verdade, a verdade não pode ser toda enunciada. O sujeito da enunciação é aquele que se encontra no intervalo entre o significante mestre (S1) e a cadeia significante (S2) e é, portanto, efeito dessa relação.
Para analisar a relação entre enigma e verdade, Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) acrescenta a ideia do mito. Após estabelecer o semidizer como uma função do enigma, Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) acrescenta que “o semidizer é a lei interna de toda espécie de enunciação da verdade, e o que melhor a encarna é o mito” (p. 116).
No seminário 17, O avesso da psicanálise, Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) anuncia que “todos sabem que, para estruturar corretamente um saber, é preciso renunciar à questão das origens” (p. 17). Lacan postula que o mito considera e aborda a verdade. Assim, há uma diferença entre saber e mito em relação à verdade. De acordo com Oliveira (2007Oliveira, C. (2007). Da enunciação da verdade ao enunciado do gozo. Discurso, (36), 271-284.):
O que Lacan mostra, aí, é que o saber tem uma origem, a verdade, mas que ele tende sempre a esquecer essa origem, o que quer dizer que ele tende sempre a esquecer sua verdade, como se fosse um saber sem verdade. O mito, ao contrário, trata dessa origem. O mito é sua memória. Como o inconsciente, nos termos de Freud, o mito é a memória do que o homem esquece. E é nesse sentido que o mito tem a ver com a verdade em seu estado nascente. Não esquecê-la é sua função, e é nisso que a psicanálise se aproxima do mito. (p. 276)
Há no mito um saber que, em vez de esquecer a origem, busca abordá-la. O saber mítico, pois, envolve a verdade; ele implica um resíduo da verdade, tal como a encontramos nas formações do inconsciente que se manifestam através dos sonhos, chistes e atos falhos. Segundo Oliveira (2007Oliveira, C. (2007). Da enunciação da verdade ao enunciado do gozo. Discurso, (36), 271-284.), “enquanto saber disjunto, o saber mítico não é senão o saber que advém do lugar da verdade, o saber como verdade” (p. 278). Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) articula o saber como verdade com a interpretação: “um saber como verdade - isto define o que deve ser a estrutura do que se chama uma interpretação” (p. 37).
Devemos refletir, portanto, sobre a relação existente entre o enigma e a interpretação. Lacan define que o enigma é a enunciação - e o que seria a interpretação?
A interpretação, na clínica, muitas vezes se estabelece a partir de um enigma. O analista, como intérprete, recolhe os elementos enunciados pelo sujeito e os devolve ao analisando como um enigma, com o qual o sujeito terá que se virar, ou seja, deverá produzir um enunciado. Oliveira (2007Oliveira, C. (2007). Da enunciação da verdade ao enunciado do gozo. Discurso, (36), 271-284.) faz a seguinte leitura do mito de Édipo, a partir de Lacan:
Para Lacan, é a Quimera que interpreta Édipo, e não o contrário, como estamos mais acostumados a pensar. Na medida em que lhe lança um enigma, na medida em que lhe lança uma enunciação, é Édipo que é chamado a dar a essa enunciação um enunciado. O enunciado de Édipo cifra o enigma da Quimera e esta se dissolve em seu próprio mistério. A interpretação da Quimera consiste em dar a Édipo uma enunciação, e não um enunciado. O enunciado, só quem o pode dar é Édipo. O mesmo ocorre, para Lacan, numa análise. (p. 280)
Tomar a fala do sujeito como um enigma é considerar a dimensão da enunciação escondida nos enunciados do sujeito; é, pois, trazer para a cena analítica os traços de verdade que aparecem em seu discurso. Assim, é o analista que supõe saber no sujeito; o analista interpreta, mas quem produz o sentido é o analisante, como aponta Oliveira (2007Oliveira, C. (2007). Da enunciação da verdade ao enunciado do gozo. Discurso, (36), 271-284.) quando diz que “o analista está ali para fazer supor um saber enquanto verdade na fala de seu paciente” (p. 281). É nesse sentido que podemos entender o saber como verdade, quando o analista supõe haver saber no paciente: saber que aponta algo da verdade do sujeito. Um saber que somente o próprio sujeito pode produzir e enunciar.
Oliveira (2007Oliveira, C. (2007). Da enunciação da verdade ao enunciado do gozo. Discurso, (36), 271-284.) acrescenta que o mito, além da dimensão da verdade - do saber como verdade -, apresenta a dimensão do real. Ele afirma: “como enunciação, o mito se refere à verdade, mas como enunciado, diz respeito ao real” (Oliveira, 2007Oliveira, C. (2007). Da enunciação da verdade ao enunciado do gozo. Discurso, (36), 271-284., p. 281). Para ele, o mito porta a dimensão de enunciado do impossível, do puro enunciado, aquele que não tem nenhum sentido, que é traumático, e nesse sentido o mito se configura como uma memória desse traumático.
A verdade mantém relação com o real, mas com ele não se confunde. Ela se aproxima do real e nele encontra seu limite. Segundo Lacan (1970/2003Lacan, J. (2003). Radiofonia. In Outros escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 440-447). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1970)), “[o real] não é uma verdade, é o limite da verdade” (p. 443). A verdade encontra seu limite no real justamente pela impossibilidade de haver um significante que dê conta da verdade do sujeito. Essa impossibilidade - da ordem do real - é que faz limite à verdade e a torna impossível de se inscrever.
A relação entre verdade e real nos remete ao terceiro elemento que pretendemos incluir nesta discussão, além da verdade e do saber, portanto, que é o gozo. Qual a relação entre esses três elementos no que se refere ao acesso ou impedimento ao saber?
A linguagem é apresentada como um aparelho de gozo (Lacan, 1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)). Ela ultrapassa a função da comunicação, pois com ela se goza. O gozo permite evidenciar que nem tudo está no campo da significação. O campo do gozo perfura o campo da linguagem.
O sujeito se dirige ao campo do Outro, tesouro dos significantes, na busca de um significante que feche a cadeia. Entretanto, o que o sujeito encontra é a falha no saber do Outro. O Outro não tem a resposta para a demanda sobre a verdade do sujeito. Diante dessa falha, o sujeito terá que criar uma ficção sobre si. A sua verdade se apoia em uma ficção. Lacan (1956-57/1995Lacan, J. (1995). O seminário, livro 4: A relação de objeto. (D. D. Estrada, trad.). Rio de Janeiro, RJ: Zahar. (Trabalho original publicado em 1956-57)), no seminário 4, A relação de objeto, já apontava que “a verdade tem uma estrutura, se podemos dizer, de ficção” (p. 259). Não encontrando o significante que diga sobre o seu ser, o sujeito nunca saberá toda a verdade. Ele saberá aquilo que pôde construir como ficção através da fantasia, representada pela fórmula ($ ◊ a), que fixa um modo de gozo do sujeito.
O gozo se articula ao saber. Quando o campo da significação se mostra insuficiente para construir um saber sobre a verdade, o sujeito cria um fantasma, através do qual goza. No momento em que o sujeito se vê diante da impossibilidade de o Outro responder sobre a sua verdade, ele é confortado com a castração do Outro. A castração aponta que algum gozo está vedado a quem fala. As falhas no campo da significação abrem espaço para o campo do gozo, estabelecendo um obstáculo ao saber, já que o gozo resiste à simbolização.
Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70), p. 17) aponta que a relação entre o gozo e o saber é primitiva e está na base do surgimento do significante. É no traço unário que Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) irá localizar essa relação primitiva. Segundo Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)), “é no traço unário que tem origem tudo o que nos interessa, a nós analistas, como saber” (p. 48). Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) designa o traço unário como a “origem do significante” (p. 48), esclarecendo que “[o saber] deriva primeiramente, saiba ele ou não, do traço unário, e, em seguida, de tudo o que poderá se articular de significante” (p. 52).
Gozo e saber apresentam então, de algum modo, uma relação especial com a fundação do traço unário, momento em que o sujeito se constitui a partir do significante. É através do Um que o traço comporta, do S1, que a cadeia significante se origina, ou seja, ela se constitui a partir da articulação do S1 com o S2. No intervalo entre S1-S2, o sujeito surge, como efeito da cadeia significante. A marca do traço cinde o sujeito, que advém como sujeito dividido, $. Nessa operação de divisão, algo se perde, o objeto a. De alguma maneira, saber e gozo se ancoram nesse momento inaugural da entrada do sujeito na linguagem:
O gozo é exatamente correlativo à forma primeira da entrada em ação do que chamo a marca, o traço unário, que é a marca para a morte, se quiserem dar-lhe seu sentido. Observem bem que nada toma sentido até que a morte entre na jogada. (Lacan, 1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70), p. 188)
Essa nova relação apresentada entre gozo e significante inaugura uma nova forma de se pensar a cadeia significante. Segundo Miller (1999/2012Miller, J-A. (2012). Os seis paradigmas do gozo. Opção Lacaniana, 3(7). Recuperado de http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_7/Os_seis_paradigmas_do_gozo.pdf (Trabalho original publicado em 1999)
http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/num...
):
o que foi, até então, abordado sob a forma de “o que se veicula na cadeia significante é o sujeito barrado, a verdade, a morte, o desejo” é retraduzido nos termos de “o que se veicula na cadeia significante é o gozo”. (p. 31)
Podemos acompanhar, no seminário 17, que a ênfase do ensino de Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) incide sobre o significante como uma marca de gozo. Segundo Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)), o traço unário comemora “uma irrupção do gozo” (p. 81). Assim, ao mesmo tempo em que ele introduz uma perda de gozo, ele também produz um suplemento de gozo (Miller, 1999/2012Miller, J-A. (2012). Os seis paradigmas do gozo. Opção Lacaniana, 3(7). Recuperado de http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_7/Os_seis_paradigmas_do_gozo.pdf (Trabalho original publicado em 1999)
http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/num...
).
O saber é trabalhado por Lacan, ainda nesse seminário (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)), como meio de gozo. A operação da divisão do sujeito tem como resultado a perda do objeto a, que Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) irá denominar “objeto mais-de-gozar”, que não é passível de significação. Essa perda irá provocar um vazio, o qual o sujeito irá buscar tamponar com diversos objetos. A perda do objeto irá inaugurar o processo de repetição, que visa o restabelecimento desse objeto perdido, ou seja, que visa o gozo. Esse objeto a, perdido, é o que Lacan define como:
o a, como tal, é propriamente o que decorre do fato de que o saber, em sua origem, se reduz à articulação significante. Tal saber é meio de gozo. E quando ele trabalha, repito, o que produz é entropia. Essa entropia, esse ponto de perda, é o único ponto, o único ponto regular por onde temos acesso ao que está em jogo no gozo. Nisto se traduz, se arremata e se motiva o que pertence à incidência do significante no destino do ser falante. (1969-70/2007, p. 52-53)
Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) irá tomar emprestado da termodinâmica o termo entropia para designar a relação entre o gozo e a cadeia significante: “quando o significante se introduz como aparelho de gozo, não temos que ficar surpresos ao ver aparecer uma coisa que tem relação com a entropia” (p. 50). A entropia veicula a ideia de perda, de desperdício, como assinala Miller (1999/2012Miller, J-A. (2012). Os seis paradigmas do gozo. Opção Lacaniana, 3(7). Recuperado de http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_7/Os_seis_paradigmas_do_gozo.pdf (Trabalho original publicado em 1999)
http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/num...
):
Desde então, o acesso ao gozo não se dá mais, essencialmente, através da transgressão, mas através da entropia, do desperdício produzido pelo significante. Assim, Lacan pode dizer que o saber é um meio de gozo. Não se poderia renunciar melhor à autonomia da ordem simbólica. O saber é um meio de gozo num duplo sentido: na medida em que ele tem efeito de falta e na medida em que ele produz o suplemento, o mais-gozar. (p. 32)
Ao abordar o saber como um meio de gozo, Lacan inaugura uma nova perspectiva do saber, que até então era tomado como uma barreira ao gozo. Segundo Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)), “o saber, isto é o que faz com que a vida se detenha em um certo limite ao gozo” (p. 17). O gozo veicula algo da morte. O saber, fazendo limite ao gozo, dando tratamento ao gozo, apresenta uma alternativa a essa rota de morte. Nesta perspectiva, o saber elaborado em análise, ainda que limitado, faz contenção ao gozo da falação. A partir da nova perspectiva do saber, introduzida por Lacan, o saber tanto pode operar como um limite ao gozo quanto pode veicular o gozo.
O gozo é também abordado por Lacan no seminário 17 (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) em sua relação com a verdade. No capítulo “Verdade, irmã de gozo”, Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) ressalta que “a verdade é certamente inseparável dos efeitos de linguagem tomados como tais” (p. 64). A verdade se apresenta como irmã de gozo uma vez que se liga ao gozo interditado; ela ocupa o lugar daquilo que é mortificado, barrado, anulado. A verdade permanece oculta por traz do dito, há algo que a protege, e essa barreira de proteção é da ordem do gozo. Lacan (1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)) nos esclarece que “a verdade, com efeito, parece mesmo ser-nos estranha - refiro-me à nossa própria verdade. Ela está conosco, sem dúvida, mas sem que nos concirna a um ponto tal que admitamos dizê-lo” (p. 60).
Lacan (1970/2003Lacan, J. (2003). Radiofonia. In Outros escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 440-447). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1970)) nos alerta que, “da verdade, não temos que saber tudo. Basta um bocado” (p. 442). Há algo que faz limite ao saber sobre a verdade. O autor articula a verdade que não se sabe com o inconsciente: “há em algum lugar uma verdade que não se sabe” (Lacan, 1968-69/2008Lacan, J. (2008). O seminário, livro 16: De um Outro ao outro (V. Ribeiro, trad.). Rio de Janeiro, RJ: Zahar . (Trabalho original publicado em 1968-69), p. 195). Esse lugar onde há uma verdade que não se sabe é o inconsciente. A relação do sujeito com a verdade é permeada pela impossibilidade do acesso a essa verdade. Há uma aproximação entre verdade e castração, visto que o que essa verdade esconde é a castração: “o amor à verdade é o amor a essa fragilidade cujo véu nós levantamos, é o amor ao que a verdade esconde, e que se chama castração” (Lacan, 1969-70/2007Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70), p. 54).
No texto “Radiofonia” (1970/2003), ao ser questionado sobre “em que o saber e a verdade são incompatíveis?” (p. 440), Lacan responde à pergunta tomando como referência não a compatibilidade, mas a complementaridade. Ele diz que saber e verdade não são complementares, mas ambos compartilham a impossibilidade de fazer um todo, pois o todo não existe. A verdade não pode ser toda dita e, quanto ao saber, é impossível ter acesso ao seu todo. Lacan (1970/2003Lacan, J. (2003). Radiofonia. In Outros escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 440-447). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1970)) diferencia o saber do conhecimento: “o todo é índice de conhecimento” (p. 440). O sujeito para a psicanálise é o sujeito do significante, do saber, não do conhecimento, como é para a ciência. Assim, Lacan enfatiza que a noção de saber implica necessariamente a dimensão do não-saber, diferentemente da noção de conhecimento, que pressupõe a possibilidade de tudo saber.
A temática do saber e da verdade é abordada também por Lacan no seminário 20: Mais, ainda (1972-73/1985). Nesse seminário, há um capítulo nomeado “O saber e a verdade”, em que Lacan desenvolve a relação entre saber e verdade no que concerne ao trabalho analítico. Lacan (1972-73/1985Lacan, J. (1985). O seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar. (Trabalho original publicado em 1972-73)) ressalta que:
Por toda parte onde a verdade se apresenta, se afirma a si mesma como de um ideal do qual a palavra pode ser o suporte, ela não se atinge assim tão facilmente. Quanto à análise, se ela se coloca por uma presunção, é mesmo por esta, de que se possa constituir, por sua experiência, um saber sobre a verdade. (p. 123)
Para desenvolver essa afirmação, Lacan retoma o discurso do analista, em que o saber se situa no lugar da verdade do discurso, para dizer que é do lugar ocupado pelo analista, enquanto causa de desejo, que se interpela o sujeito $ para que ele produza significantes S1. Estes significantes servirão para que o sujeito possa resolver “sua relação com a verdade” (Lacan, 1972-73/1985Lacan, J. (1985). O seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar. (Trabalho original publicado em 1972-73), p. 123).
A partir da exposição feita até agora, concluímos que o saber e a verdade se apresentam em disjunção, uma vez que não é possível saber sobre toda a verdade do sujeito, pois a verdade remete à castração. Essa impossibilidade de saber sobre a verdade é estruturante para o sujeito, que, ao se aproximar da descoberta da castração, se afasta e constrói, para lidar com ela, sua fantasia.
Para que o sujeito se estruture como tal, é necessário que haja certa disjunção entre saber e verdade, posto que o saber não apreende toda a verdade da castração. A verdade nunca é total para o ser falante; existe uma impossibilidade estrutural na relação do sujeito com a verdade, pois ele a recusa, a recalca. É a partir do recalque que se abrem possibilidades para a aquisição de outros saberes, como vimos com Freud (1905/2016Freud, S. (2016). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In Obras completas (P. C. de Souza, trad., Vol. 6, pp. 13-172). São Paulo, SP: Companhia das Letras . (Trabalho original publicado em 1905)).
O saber e a verdade apresentam uma heterogeneidade formal, já que eles apresentam naturezas diferentes nos discursos elaborados por Lacan. O saber é um elemento que circula entre os discursos, enquanto a verdade é um lugar fixo. Apesar de a verdade coincidir com o saber no discurso do analista, eles não são complementares.
Considerações finais
A partir dessas elaborações, retomaremos a questão que os dois fragmentos de caso suscitam: por que a criança não acessa o saber?
O saber passa pelo Outro, ou seja, a criança se dirige ao campo do Outro em busca de saber. Esse processo é descrito por Freud (1905/2016Freud, S. (2016). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In Obras completas (P. C. de Souza, trad., Vol. 6, pp. 13-172). São Paulo, SP: Companhia das Letras . (Trabalho original publicado em 1905)) no texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” acerca da manifestação da sexualidade na infância. Nesse período, que segundo Freud (1905/2016Freud, S. (2016). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In Obras completas (P. C. de Souza, trad., Vol. 6, pp. 13-172). São Paulo, SP: Companhia das Letras . (Trabalho original publicado em 1905)) compreenderia a faixa etária entre os três e os cinco anos de idade, aproximadamente, a criança se endereça aos pais em busca de um saber, por acreditar que eles detêm o saber sobre todas as coisas.
Porém, nos casos apresentados, a criança, ao buscar na mãe um saber, encontra uma demanda de não-saber. As crianças não acessam o saber justamente porque transformaram a demanda da mãe de “não-saber” em desejo, em uma lei que elas precisam cumprir, pois é como Outro que o sujeito deseja (Lacan, 1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)). A criança traduz a demanda da mãe de não-saber - sobre a morte do filho ou sobre a transgressão do marido - em desejo e responde a isso com uma recusa de saber. Como vimos, Lacan afirma que o neurótico é aquele que identifica a falta do Outro com a sua demanda (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960), p. 838). Ao identificar a falta do Outro com a demanda do Outro, ele toma para si a responsabilidade de responder a essa demanda, forjando seu desejo como suposto desejo do Outro.
Se o neurótico é aquele que identifica a falta do Outro com a sua demanda, a criança interpreta aquilo que falta à mãe e se oferece, com o seu sintoma, como objeto de desejo da mãe. É perguntando sobre o seu lugar no desejo do Outro que a criança aparece como objeto de amor da mãe.
A demanda de ignorância da mãe é respondida pela criança que, através das dificuldades no saber escolar, encontra uma maneira de responder ao que ela supõe ser o desejo da mãe. A criança busca, dessa maneira, encontrar uma garantia de amor no Outro materno.
A criança, como sujeito, é afetada e determinada tanto pelos efeitos do dizer quanto pela ausência de um dizer. É importante lembrar que a família se constitui em torno de um real indizível. Miller (1993/2007Miller, J-A. (2007). Assuntos de família no inconsciente. Revista aSEPHallus, 2(4). Recuperado de http://www.isepol.com/asephallus/numero_04/traducao_01.htm (Trabalho original publicado em 1993)
http://www.isepol.com/asephallus/numero_...
) reforça que a família é essencialmente unida por um segredo, pelo não dito. O segredo é sobre o gozo dos pais. O real apontado pelo modo de gozo dos pais faz da família uma resposta simbólica à impossibilidade de se escrever a relação sexual.
Os mitos familiares bordejam o real, são ficções que abordam e velam o gozo. Assim, a presença de um não dito sobre o gozo é condição estruturante da família. Nos casos discutidos neste artigo, não se trata de um indizível do gozo, mas de algo da história familiar a que não se pode ter acesso. Há uma dificuldade da mãe em reconhecer um saber que aponta para a verdade da castração. Para Lacan, o saber tem uma relação com o gozo. Existe um gozo no acesso e na apreensão do saber, mas também em sua recusa, em “não querer saber” nada disso. Lacan assinala que o que é apartado do simbólico retorna no real. O não querer saber da mãe tem incidências sobre a criança, que responde com um sintoma.
Vimos, no percurso teórico realizado, que há algo da verdade que é impossível ao saber, que está protegido pelo gozo. Como podemos localizar a relação entre saber, verdade e gozo nesses fragmentos de caso apresentados?
Façamos uma leitura da relação da mãe com a verdade, uma vez que localizamos aí um ponto central na formação do sintoma da criança. Em ambos os casos, há uma verdade sobre a qual a mãe não quer saber. Mas de que ordem é esse “não querer saber”?
Há algo que aponta para a castração da mãe, seja a morte do filho ou a perda do marido idealizado. Como vimos, o que remete à verdade da castração se encontra no plano da impossibilidade de simbolização, logo, há algo que não é possível de significar.
Entretanto, se o que protege essa verdade é o gozo, entendemos que há algo desse “não querer saber” que remete ao gozo da mãe e que faz barreira ao saber sobre a sua verdade. Logo, nossa hipótese é a de que há um gozo que impede e faz barreira a esse saber sobre a verdade. A mãe goza nesse lugar de não querer saber.
O que é o saber para essas crianças? Se o saber é algo a ser apreendido no campo do Outro, nesses caso a mãe coloca um impasse no acesso ao saber. A criança assume o impasse do Outro como sendo seu. Logo, ela recusa o saber.
A clínica com crianças, mais do que qualquer outra, nos ensina como o sintoma se articula a partir da relação do sujeito com o campo do Outro. Receber uma criança na clínica, visto que “a criança é um analisando de pleno direito” (Petri, 2008Petri, R. (2008). Psicanálise e infância: clínica com crianças. Rio de Janeiro, RJ: Companhia de Freud., p. 43), só é possível quando se acolhe a relação que o sintoma da criança tem com a família e, além disso, quando se oferece um lugar destacado do lugar de sintoma que esse sujeito ocupa no seio familiar.
O trabalho de uma análise é também o de fazer contenção do gozo. Sendo assim, o acesso ao saber sobre a verdade - sobre parte dela, é importante lembrar - se faz de alguma maneira possível por meio do saber produzido em análise.
Como vimos, o saber que se refere ao campo do inconsciente tem incidências sobre o campo da aprendizagem escolar. Nos casos apresentados, considerando a função do sintoma da criança na trama familiar, entendemos que a recusa do saber no campo escolar é a resposta da criança à suspensão no acesso ao saber por parte do Outro materno.
Sob o referencial da teoria psicanalítica, que nos adverte da dimensão inconsciente do saber, consideramos o sintoma no campo da educação como uma elaboração do sujeito diante do encontro com a falta no campo do Outro. O psicanalista, ao acolher esse sintoma como um sintoma analítico, permite ao sujeito que ele construa um saber próprio sobre sua verdade, não sem considerar que o acesso ao saber irá portar, sempre, a dimensão de um impasse.
Referências
- Freud, S. (2011). Psicologia das massas e análise do Eu. In Obras completas (P. C. de Souza, trad., Vol. 15, pp. 13-113). São Paulo, SP: Companhia das Letras. (Trabalho original publicado em 1921)
- Freud, S. (2016). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In Obras completas (P. C. de Souza, trad., Vol. 6, pp. 13-172). São Paulo, SP: Companhia das Letras . (Trabalho original publicado em 1905)
- Hegel, G. W. F. (2002). Fenomenologia do espírito (P. Meneses, trad.). Petrópolis, RJ: Vozes.
- Lacadée, P. (1996). Duas referências essenciais de J. Lacan sobre o sintoma da criança (C. M. R. Guardado, trad.). Opção Lacaniana, 17, 74-82.
- Lacan, J. (1985). O seminário, livro 20: mais, ainda Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar. (Trabalho original publicado em 1972-73)
- Lacan, J. (1995). O seminário, livro 4: A relação de objeto (D. D. Estrada, trad.). Rio de Janeiro, RJ: Zahar. (Trabalho original publicado em 1956-57)
- Lacan, J. (1998). O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (M. D. Magno, trad.). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1964)
- Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960)
- Lacan, J. (1999). O seminário, livro 5: As formações do inconsciente Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1957-58)
- Lacan, J. (2003). Nota sobre a criança. In Outros escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 369-370). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969)
- Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62)
- Lacan, J. (2003). Radiofonia. In Outros escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 440-447). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1970)
- Lacan, J. (2007). O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1969-70)
- Lacan, J. (2008). O seminário, livro 16: De um Outro ao outro (V. Ribeiro, trad.). Rio de Janeiro, RJ: Zahar . (Trabalho original publicado em 1968-69)
- Lacan, J. (2016). O seminário, livro 6: O desejo e sua interpretação Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1958-59)
- Laurent, E. (1997). Alienação e separação I. In Feldstein, R., Fink, B., & Jaanus, M. (Orgs.), Para ler o seminário 11 de Lacan (pp. 31-41). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar .
- Miller, J-A. (2007). Assuntos de família no inconsciente. Revista aSEPHallus, 2(4). Recuperado de http://www.isepol.com/asephallus/numero_04/traducao_01.htm (Trabalho original publicado em 1993)
» http://www.isepol.com/asephallus/numero_04/traducao_01.htm - Miller, J-A. (2012). Os seis paradigmas do gozo. Opção Lacaniana, 3(7). Recuperado de http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_7/Os_seis_paradigmas_do_gozo.pdf (Trabalho original publicado em 1999)
» http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_7/Os_seis_paradigmas_do_gozo.pdf - Miller, J-A. (2014). A criança entre a mãe e a mulher. Opção Lacaniana, 5(15). Recuperado de http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_15/crianca_entre_mulher_mae.pdf (Trabalho original publicado em 1996)
» http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_15/crianca_entre_mulher_mae.pdf - Oliveira, C. (2007). Da enunciação da verdade ao enunciado do gozo. Discurso, (36), 271-284.
- Petri, R. (2008). Psicanálise e infância: clínica com crianças Rio de Janeiro, RJ: Companhia de Freud.
- Quinet, A. (1993). 4 + 1 condições da análise Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar .
-
1
Este seminário não possui tradução oficial. Utilizaremos nesse artigo uma tradução extraoficial (Lacan, 1961-62/2003Lacan, J. (2003). O seminário, livro 9: A identificação: seminário. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife. (Trabalho original publicado em 1961-62)), a fim de reproduzirmos as citações diretas e figuras que foram apresentadas ao longo do artigo.
-
2
Os termos apresentados nesse grafo são: $ - sujeito; A - grande Outro; s(A) - significado do Outro; I(A) - Ideal do Eu; i(a) - imagem; m - moi.
-
3
Da expressão italiana “che vuoi?” (o que queres?), utilizada por Lacan em “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano” (1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In Escritos (V. Ribeiro, trad., pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar . (Trabalho original publicado em 1960), p. 829).
-
4
Nesta pesquisa, não iremos nos aprofundar nas questões apresentadas por Hegel. Sobre tais questões, consultar a bibliografia: Hegel (2002Hegel, G. W. F. (2002). Fenomenologia do espírito (P. Meneses, trad.). Petrópolis, RJ: Vozes.).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
21 Mar 2019 -
Data do Fascículo
2019
Histórico
-
Recebido
06 Abr 2018 -
Aceito
30 Jan 2019
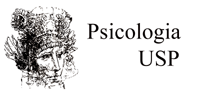

 Fonte:
Fonte:  Fonte:
Fonte: Fonte:
Fonte: Fonte:
Fonte: