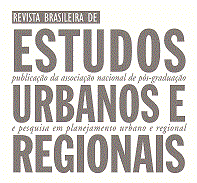Resumo
Este artigo procura debater o(s) significados(s) de fronteira no Brasil e o papel das instituições no processo de desenvolvimento econômico a partir de uma abordagem centrada no novo institucionalismo econômico. Qualquer padrão de comportamento coletivo caracteriza uma instituição e, como tal, determina as “regras do jogo”. A fronteira representa uma relação socioeconômica de produção, pois a estrutura da sociedade na construção de uma fronteira é dominada (in)diretamente pelo capital. No Brasil, o movimento de ocupação territorial da fronteira não acontece, costumeiramente, por meio de contingentes de pequenos lavradores, mas sim via uma mescla de diversos segmentos sociais, como migrantes, homens “sem terra”, fazendeiros e empresários - todos em busca de terras para ocupar, produzir e especular. Como principal conclusão, o artigo demonstra que um sistema institucional evoluído pode ajudar na promoção do desenvolvimento econômico ao estruturar o entorno e estimular o processo de cooperação, inovação e aprendizagem nas regiões de fronteira.
Palavras-chave:
fronteira; instituições; novo institucionalismo econômico; capital; Brasil
Abstract
The present article seeks to discuss the meaning (s) of frontiers in Brazil and the role of institutions in the process of economic development through the new institutional economics. Any pattern of collective behavior characterizes an institution, and as such determines the “rules of the game”. The frontier represents a socio-economic relationship of production because the structure of society in building a frontier is dominated (in)directly by capital. In Brazil, the movement to occupy land on the frontier does not usually occur through contingent smallholders, but rather through a mixture of different social segments, such as: migrants, “landless” males, farmers and entrepreneurs, all seeking land to occupy, to produce and to speculate. The main conclusion is that a developed institutional system may help to promote economic development by structuring the surrounding environment and stimulating the process of cooperation, innovation and learning in the frontier regions of Brazil.
Keywords:
frontier; institutions; new institutional economics; capital; Brazil
Introdução1 1 O autor agradece todas as valiosas contribuições, sugestões e críticas construtivas recebidas pelos pareceristas anônimos que auxiliaram no processo de construção histórico-teórica do presente artigo.
Do ponto de vista histórico, a formação socioespacial da região amazônica brasileira se deu, primeiramente, com a ocupação de colonos, soldados e missionários religiosos, que tiveram um papel importante na catequese e na submissão das comunidades indígenas, na coleta de produtos extrativos e também no cultivo de bens de subsistência. Nessa etapa da história, as relações econômicas, sociais e políticas foram, de certo modo, marcadas por um movimento de expansão demográfica e econômica para terras não ocupadas ou ainda não completamente ocupadas.
As áreas de fronteiras no Brasil apresentam traços e processos de ocupação que as caracterizam e as diferenciam das outras áreas fora do território nacional. Na fronteira, ainda que na prática o acesso à terra não esteja inteiramente disponível a todos os imigrantes, a ideologia da “fronteira aberta” representa, no imaginário coletivo dos grupos sociais, em especial dos indivíduos despossuídos de meios de produção, uma oportunidade para melhorar suas condições de vida.
Do ponto de vista teórico, o novo institucionalismo econômico busca explicar o papel desempenhado por instituições na determinação de resultados sociais, econômicos, políticos e ambientais em uma dada sociedade. Nesse sentido, qualquer padrão de comportamento coletivo representa uma instituição, e, como tal, ele determina as “regras do jogo” em uma sociedade.
A escola de pensamento econômico proveniente do novo institucionalismo econômico não é homogênea, entretanto, uma perspectiva em comum de seus diferentes estudos é a crítica ao pensamento neoclássico, que defende a racionalidade econômica como o único elemento na tomada de decisões, ao lado da ideia de equilíbrio perfeito do sistema econômico.
Nesses termos, o processo de desenvolvimento econômico é também um processo de desenvolvimento das instituições, e este deve ser acrescentado aos modelos de desenvolvimento econômico. Essa nova abordagem teórica reafirma a importância da reflexão e da evolução da teoria do novo institucionalismo econômico para o (melhor) desempenho econômico, político, social e, inclusive, ambiental de um país.
Desse modo, é de extrema importância situar a discussão proposta no interior da teoria da fronteira e da teoria econômica das instituições, utilizada como marco referencial teórico para a compreensão do fenômeno da expansão do capitalismo na fronteira brasileira. Considerando isso, a fronteira não pode ser entendida apenas como uma área de ocupação de um território relativamente desocupado em termos demográficos, na qual as instituições públicas responsáveis pela manutenção da ordem jurídica - com vistas ao estabelecimento das “regras do jogo” para a funcionalidade das instituições privadas - têm uma atuação precária no cumprimento das leis de uma democracia.
Dito isso, este artigo tem como objetivo principal discutir o significado de fronteira e o papel das instituições no processo de desenvolvimento de uma economia de mercado a partir de uma abordagem centrada no novo institucionalismo econômico. Para tanto, ele está organizado em três seções, além desta introdução. Na segunda seção, é discutida, de uma perspectiva histórico-teórica, a fronteira e seus significados. Na terceira, apresenta-se o referencial teórico, tendo como base o novo institucionalismo econômico, sobretudo a abordagem da fronteira como uma instituição econômica. Por último, são feitas algumas considerações finais.
Fronteira e o(s) seu(s) significado(s): uma proposta de discussão histórico-teórica
Um dos historiadores e teóricos mais importantes no debate sobre a teoria da fronteira é Frederick Jackson Turner. Embora o objeto da investigação de Turner (1961TURNER, F. J. Frontier and Section, Selected Essays of Frederick Jackson Turner. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961.) tenha sido a fronteira dos Estados Unidos da América (EUA), ele se referia à fronteira como uma fase do processo geral de evolução, afirmando que seu significado na formação de outras sociedades deveria ser investigado.
No artigo “The Significance of History”, Turner (1891TURNER, F. J. The Significance of History. Wisconsin Journal of Education, n. 21, 1891. , p. 230, tradução minha) adverte que “as concepções de história são quase tão numerosas quanto os homens que escrevem sobre história”. Nas palavras de Turner (1961TURNER, F. J. Frontier and Section, Selected Essays of Frederick Jackson Turner. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961., p. 26 apud Turner, 2005, p. 218):
Tentei oferecer, assim, estas considerações: a História não deve ser tomada em um sentido estrito. Ela é mais do que a literatura passada, mais do que a política passada, mais do que a economia passada. Ela é a autoconsciência da humanidade - a tentativa humana de se compreender a partir do estudo do passado. Sendo assim, não deve ser confinada nos livros; o objeto é que deve ser estudado, não os livros. A História possui uma unidade e uma continuidade; o presente precisa do passado para ser explicado; e a história local deve ser lida como uma parte da história mundial.
Essa citação deixa clara a importância do conhecimento da história local da fronteira tanto para a história nacional quanto para a história mundial de qualquer nação. Os trabalhos de Turner sobre a história das fronteiras são relevantes não só por fornecerem um valioso material empírico, tendo como objeto de estudo a fronteira do Oeste norte-americano, mas também, e sobretudo, por oferecerem argumentos que permitem uma discussão histórico-teórica sobre essa temática.
De fato, em “The Significance of the Sections in American History”, há várias passagens em que Turner sugere a necessidade de investigação da fronteira na Rússia, Alemanha, Canadá, Austrália, África e também no Brasil. Para esse autor (Turner 1961TURNER, F. J. Frontier and Section, Selected Essays of Frederick Jackson Turner. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961., p. 38 apud Knauss, 2004, p. 24-5):
Nesse avanço, a fronteira é o pico da crista de uma onda - o ponto de contato entre o mundo selvagem e a civilização. Muito tem sido escrito sobre a fronteira sob o ponto de vista da guerra de fronteira e da caça, mas, como campo para sérios estudos de economistas e historiadores, tem sido negligenciada.
Para Turner (1961TURNER, F. J. Frontier and Section, Selected Essays of Frederick Jackson Turner. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961.), a democracia norte-americana se fundamenta precisamente na experiência da fronteira do Oeste norte-americano, ou seja, o efeito mais importante da fronteira se relaciona à promoção da democracia nos EUA. No Brasil, por sua vez, o avanço da fronteira agropecuária vem se dando dentro da lógica da acumulação capitalista.
Porém, não se pode prescindir dos elementos institucionais que estão presentes em função dos interesses e conflitos que permeiam o processo de ocupação econômica na região de fronteira. Na concepção de Turner (1961TURNER, F. J. Frontier and Section, Selected Essays of Frederick Jackson Turner. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961.), que estudou a fronteira econômica do Oeste com o propósito de descobrir sua contribuição à formação das instituições na sociedade norte-americana no século XIX, o papel da fronteira na formação das instituições e do sentimento nacionalista dos EUA é apresentado de forma diferente da percepção dominante dos historiadores tradicionais do Leste (Sul e Norte), que deixaram em segundo plano o processo de ocupação e a pesquisa sobre a fronteira do Oeste.
Turner (1920TURNER, F. J. The Frontier In American History. New York: Henry Holt and Company, 1920. , p. 206 apud Knauss (2004, p. 55) sustenta que:
O Oeste, na origem, é uma forma de sociedade, mais do que uma área. O termo é aplicado a uma região cujas condições sociais resultaram da combinação de instituições e ideias antigas com a influência transformadora de terras livres. A partir dessa combinação, um novo ambiente se instalou repentinamente, a liberdade de oportunidades se abriu, a massa de costumes foi abalada e novas atividades, novas linhas de crescimento, novas instituições e novos ideais ganharam existência.
Hofstader e Lipset (1968HOFSTADER, R.; LIPSET, S. M. Turner and the Sociology of the Frontier. New York: Basic Books, 1968.) observam que Turner tinha consciência da importância do avanço da fronteira não só para a conquista de territórios vazios do ponto de vista demográfico, por meio da ocupação socioeconômica e da formação da nação-continente norte-americana, mas também para a constituição de instituições nos EUA.
Para Turner (1961TURNER, F. J. Frontier and Section, Selected Essays of Frederick Jackson Turner. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961.), as grandes extensões de “terras livres” para ocupação talvez tenham sido a principal força motivadora dos primeiros pioneiros agricultores (farmers) no aprofundamento da fronteira norte-americana, ou seja, o avanço das frentes econômicas de expansão nas regiões de fronteira talvez tenha permitido a formação de instituições adequadas ao desenvolvimento econômico, social e político dos EUA.
Nessa perspectiva, fica evidente que a fronteira econômica exerce influência marcante na história da evolução das instituições sociais, políticas e econômicas de uma nação. A frente de expansão da fronteira do Oeste norte-americano, por exemplo, avançou graças às famílias dos pequenos agricultores, depois com a agroindústria e, por fim, com a indústria manufatureira; em contrapartida, a fronteira do Sul dos EUA teve maior inserção a partir das grandes plantações de algodão e, posteriormente, da pujança da indústria têxtil e também da pecuária. No final, essas fronteiras, apesar das distâncias, realizaram um comércio de mercadorias entre si, o que contribuiu para a redução das importações de mercadorias da Europa, principalmente da Inglaterra.
Desse modo, o crescimento do sentimento nacionalista do povo norte-americano e a evolução das suas instituições tiveram a participação direta da fronteira. A legislação constitucional que definiu a independência dos três poderes e liberou a criação de instituições empresariais teve o reforço das sociedades da fronteira do Oeste; por conseguinte, o avanço da fronteira deu origem à criação de estados e municípios que hoje fazem parte dos Estados Unidos da América.
Ao analisar o comportamento fronteiriço dos contingentes populacionais distantes dos EUA, Arthur Scott Aiton e Lígia Osório Silva (2001SILVA, L. O. A fronteira e outros mitos. 2001. Tese (Livre-Docência) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas, 2001.) destacam certas similaridades e diferenciações. Para Aiton (1994 AITON, A. S. Latin American Frontiers. In: WEBER, D.; RAUSCH, J. (Ed.). Where Cultures Meet. Frontiers in Latin American History. Wilmington: Jaguar Books on Latin America, 1994. p. 19-25.apudSilva 2001SILVA, L. O. A fronteira e outros mitos. 2001. Tese (Livre-Docência) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas, 2001., p. 3), um ponto em comum entre as fronteiras norte-americanas e latino-americanas são as virtudes dos povos da fronteira, como “individualismo, autoconfiança, iniciativa, democracia e vontade de experimentar (ou atração pelo experimento)”. Na discussão sobre afastamentos e aproximações, Silva (2001SILVA, L. O. A fronteira e outros mitos. 2001. Tese (Livre-Docência) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas, 2001., p. 3) pontua:
Na realidade, no continente latino-americano não houve uma fronteira, mas várias; as fronteiras produtivas se sucederam ao longo dos séculos: a do gado, a dos metais preciosos, as fronteiras agrícolas (açúcar, café, algodão, etc.) e as fronteiras de coleta (borracha, ervas do sertão ou da floresta amazônica etc.). Talvez por isso, a influência exercida pelo trabalho de Turner tenha sido muito desigual nas distintas histórias nacionais. [...] Em consequência, inicialmente foram, sobretudo, os historiadores norte-americanos que tentaram aplicar as teses de Turner às fronteiras da América Latina.
Hennessy (1978HENNESSY, C. A. M. The Frontier in Latin American History. London: Edward Arnold, 1978., p. 3) afirma que “as sociedades latino-americanas estão ainda no estágio histórico de fronteira”, sendo a Amazônia (brasileira), como assinala Foweraker (1982FOWERAKER, J. A Luta pela Terra: a economia política da fronteira pioneira no Brasil de 1930 aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.), a última grande fronteira. Bolton (1991BOLTON, H. E.; BARNABEU, S.; SOLANO, F. (ed.). Estudios (nuevos y viejos) sobre la frontera. Madri: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1991. p. 45-60. ) ressalta a necessidade de atrelar o estudo da fronteira hispano-americana à visão de Turner, em especial no aspecto referente à relevância da atividade missionária no ambiente de fronteira.
Por conta disso, Silva (2001SILVA, L. O. A fronteira e outros mitos. 2001. Tese (Livre-Docência) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas, 2001., p. 03), baseada nos estudos de Bolton, lembra que “os sistemas coloniais e as experiências de espanhóis, portugueses e ingleses nas Américas foram similares”. Na concepção de Bolton (1996 BOLTON, H. E. The Spanish borderlands: A chronicle of the Old Southwest and Florida. Albuquerque: University of New Mexico, 1996[1921].[1921]) apudAvila (2009AVILA, A. L. Da história da fronteira à história do Oeste: fragmentação e crise na Western history norte-americana no século XX. História Unisinos, v. 13, n. 1, p. 84-95, 2009. https://doi.org/10.4013/htu.2009.131.08
https://doi.org/https://doi.org/10.4013/...
, p. 87):
A experiência fronteiriça norte-americana não se aplicava somente aos territórios adjacentes às terras indígenas, mas também àqueles que eram limítrofes com a América hispânica, no Sudoeste do país. Para não haver confusão entre estes dois espaços, contudo, ele elaborou o conceito de borderland (“terra limítrofe”), em seu famoso livro The Spanish Borderlands (“As Borderlands Espanholas”, 1921) [...], para aquelas áreas onde “anglosaxões” e “espanhóis” se encontravam.
Bolton (1932BOLTON, H. E. The epic of a greater America. American Historical Review, v. 38, n. 3, p. 448-474, 1932. https://doi.org/10.2307/1837492
https://doi.org/https://doi.org/10.2307/...
, p. 452 apudAvila 2009AVILA, A. L. Da história da fronteira à história do Oeste: fragmentação e crise na Western history norte-americana no século XX. História Unisinos, v. 13, n. 1, p. 84-95, 2009. https://doi.org/10.4013/htu.2009.131.08
https://doi.org/https://doi.org/10.4013/...
, p. 88) observa que “cada história local teria seu significado ampliado se estudada à luz das outras, isto é, do todo da história americana (e não só norte-americana)”. Nesse caso, a fronteira pode ser compreendida a partir de duas categorias fundamentais para o processo de colonização: a presença de um contingente populacional considerável e, fundamentalmente, a participação das igrejas e suas missões religiosas.
Acruche (2014ACRUCHE, H. A Fronteira no Mundo Atlântico: abordagens sobre o rio da prata colonial. Histórias, histórias, v. 2, n. 3, p. 125-136, 2014. Available at: <http://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/view/10840>. Accessed on: 5th December 2016.
http://periodicos.unb.br/index.php/hh/ar...
, p. 14) estabelece uma conexão entre Turner e Bolton. Ele afirma:
Ao comparar ambos os trabalhos, observamos que a atuação do Estado representa a pedra de toque para a compreensão sobre as formas de colonização, pois enquanto Turner observava a expansão empreendida pelo homem comum, Bolton analisava a construção da fronteira a partir do Estado, representado pela Igreja Católica.
Na sequência, são apresentados outros tópicos necessários para a compreensão do debate sobre fronteira, oferecendo, assim, um maior embasamento histórico-teórico à discussão. São analisadas questões como: o sentido da fronteira no Brasil; as críticas sobre a teoria da fronteira de Turner; a dinâmica de movimentação da fronteira no Brasil; a “Operação Amazônia”; e, por fim, o processo de federalização institucional na fronteira da Amazônia brasileira.
O sentido da fronteira no Brasil
Furtado (1974FURTADO, C. M. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1974.), ao discutir os fundamentos econômicos da ocupação do Brasil, procura distinguir a colonização inglesa de povoamento do território norte-americano da colonização portuguesa de exploração do território brasileiro. Nesta última, as plantations de cana-de-açúcar ou café tiveram um papel importante ao atuar como empresa agromercantil exportadora de produtos para os países europeus, sobretudo para Portugal e Inglaterra, no encerramento da etapa colonial.
Entretanto, outras modalidades de estruturas mercantis foram responsáveis pela extensão da fronteira brasileira para além dos limites das plantations, como o caso das organizações econômicas das missões religiosas na Amazônia durante o ciclo das “drogas do sertão”. O significado de fronteira como um processo sistemático de ocupação geográfica tem levado muitos estudiosos da fronteira no Brasil, como Morse (1965MORSE, R. M. The Bandeirantes: the historical role of the brazilian pathfinders. New York: Alfred A. Knopf Books, 1965.), Velho (1976VELHO, O. G. Capitalismo Autoritário e Campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo: Difel, 1976.) e Hébette e Marin (2004HÉBETTE, J.; MARIN, REAA . Colonização e Fronteira: articulação no nível econômico e no nível ideológico. In: HÉBETTE, J. (Ed.). Cruzando Fronteira: 30 anos de estudo do campesinato na Amazônia. v. I. Belém: EDUFPA, 2004. p. 75-88.), a substituir a noção de fronteira pela de frente pioneira, na qual o termo “pioneira” explicita a ideia de que houve famílias que chegaram primeiramente a tal área.
Essa noção denota uma forte ligação com a teoria geral de Turner (1961TURNER, F. J. Frontier and Section, Selected Essays of Frederick Jackson Turner. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961.) sobre o caráter pioneiro da fronteira do Oeste norte-americano, compreendida como uma válvula de segurança importante na formação da nacionalidade das pessoas desse país. No Brasil, muito mais do que uma válvula de segurança, a fronteira é vista como uma espécie de válvula de escape às tensões sociais no âmbito agrário, a partir da qual se impede o aumento de conflitos sangrentos na luta pela terra de latifundiários e grileiros contra camponeses e índios da região.
Na Amazônia, a “via brasileira” pode ser observada; nela, esses tipos de desenvolvimento agrário aparecem com toda a clareza e dão origem a um padrão misto de ocupação: de um lado, encontra-se a ocupação burguesa da terra, em que o capitalista transforma-se em proprietário da terra, como foi o caso das grandes empresas agropecuárias incentivadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); de outro, aparece a colonização dirigida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), baseada em pequenos colonos produtores com o intuito de formar uma classe média rural. Pode-se dizer que, na verdade, esse último modelo tinha como função prioritária engendrar um processo de colonização e, por conseguinte, de expansão da fronteira.
Além disso, há, ainda, a questão das diversas formas de propriedades tradicionais - como é o caso dos grandes latifundiários de seringais, castanhais - que convivem, lado a lado, com camponeses - proprietários, parceiros, arrendatários e posseiros -, ambos com perspectivas de serem mantidos ou transformados em empresas de grande, médio ou pequeno porte.
A visão histórica de Morse (1965MORSE, R. M. The Bandeirantes: the historical role of the brazilian pathfinders. New York: Alfred A. Knopf Books, 1965.) distancia-se de Turner, quando o referido autor observa que a fronteira não é uma linha ou um limite, ou um avanço da civilização, ou um processo unilateral ou unilinear. Na perspectiva de Morse (1965), portanto, compreender o processo brasileiro de ocupação significa perceber a fronteira mais como interpenetração do que como avanço; mais como uma relação com o meio do que como uma projeção sobre ele; mais como uma busca intermitente por um jardim das delícias do que como uma construção sistemática de um.
Por sua vez, para Turner (1961TURNER, F. J. Frontier and Section, Selected Essays of Frederick Jackson Turner. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961.), a fronteira do Oeste norte-americano era uma “fronteira aberta”, no sentido de sua ocupação ter se dado, de forma democrática e com o apoio do Homestead Act de 1862, em terras livres para os farmers, ou seja, para famílias de pequenos produtores rurais. Sandroni (1999SANDRONI, P. Dicionário de economia do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 1999., p. 285) descreve com detalhes essas medidas jurídico-institucionais:
O Homestead estabelecia, em resumo, que a propriedade da terra era de quem conseguisse demarcá-la durante um dia, legitimando dessa forma as posses que os agricultores iam obtendo ao desbravar o Oeste. A Lei representou um poderoso estímulo para a colonização do Oeste dos EUA e atraiu um enorme fluxo migratório para aquele país.
Em linhas gerais, a história do desenvolvimento agrário tem variado entre as duas nações - EUA e Brasil - de acordo com a estratégia estabelecida pelo capital para impor a sua dominação na agricultura. Entretanto, é preciso destacar que com a penetração do capital na fronteira amazônica brasileira, tudo mudou - e todos mudaram - em relação ao tratamento da terra como uma mercadoria fictícia ou como um ativo de alta liquidez.
De repente, com a expansão da fronteira, não era mais possível saber a quem a terra pertencia, pois o capital havia separado o homem da terra e, portanto, da natureza, com toda a sua fonte de recursos naturais. Esse processo de apropriação de terras por métodos violentos, que termina com a expulsão dos produtores autônomos de suas terras, representa o que Marx (1984MARX, K. O Capital. São Paulo: Ciências Humanas . Livro 1, Capítulo VI, 1978. In: MARX, K. O Capital: Crítica da Economia Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Livro 1, Vol. 2, 1984., Cap. XXIV, p. 261) chamou de acumulação primitiva do capital, isto é, “uma acumulação que não é o resultado do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida”.
A noção de pioneiro - representando homens livres que ocupam terras livres na marcha para o Oeste norte-americano - chegou até mesmo a constituir, como visto na explicação de Turner, o fundamento ideológico de uma teoria da história e da identidade nacionalista dos EUA. Todavia, no Brasil, os movimentos sociais de ocupação da fronteira se dão de forma muito distinta das descritas por Turner, e isto é assim porque os homens não são tradicionalmente livres - tampouco as terras.
Nesse sentido, é muito importante mencionar a contribuição de Martins (1975MARTINS, J. S. Capitalismo e Tradicionalismo: Estudos sobre as contrações da sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Livraria Pioneira, 1975. ), que, partindo das noções de fronteira da geografia-econômica, formula um modelo teórico com vistas a melhorar o entendimento da dinâmica do processo progressivo de absorção das regiões de fronteira pela economia de mercado, com base nos movimentos sociais por ele chamados de “frente de expansão” e “frente pioneira”. Sobre essa questão, Martins (1979 MARTINS, J. S. O Cativeiro da Terra. São Paulo: Ciências Humanas, 1979, p. 59) oferece a seguinte contribuição:
Em 1850, a Lei de Terras instituiu um novo regime de propriedade em nosso país, que é o que tem vigência até hoje, embora as condições sociais e históricas tenham mudado muito desde então. Ao contrário do que se deu nas zonas pioneiras americanas, a Lei de Terras instituiu no Brasil o cativeiro da Terra - aqui as terras não eram e não são livres, mas cativas no sentido da Lei 601 que estabeleceu em termos absolutos que a terra não seria obtida por meio que não fosse o da compra. O homem que quisesse tornar-se proprietário de uma gleba teria que comprá-la do dono da terra - o latifundiário. Sendo imigrante pobre, como foi o caso da maioria dos “moradores” das grandes fazendas, teria que trabalhar previamente para pagar o grande fazendeiro.
Nas áreas em que não foram instituídas essas características, como nos casos do Nordeste açucareiro e do Sudeste cafeeiro, ou em que não havia programas de colonização oficial, como ocorreu no Sul do Brasil, essa lei teve pouca eficácia. Na concepção de Martins (1980MARTINS, J. S Expropriação e Violência: A questão política no campo. São Paulo: Hucitec, 1980., p. 73-74), foi justamente “nessas áreas relativamente livres, como é o caso do Centro-Oeste e do norte do Brasil, que o regime de posse e a economia dos posseiros se expandiram para além dos limites dos territórios já ocupados pelas grandes fazendas de cana-de-açúcar, de café e de pecuária”. Ele ainda acrescenta:
Tradicionalmente, o posseiro operou como desbravador do território, como amansador da terra. A verdade é que, pressionado pelas empresas capitalistas interessadas em desalojá-lo de suas terras, foi frequentemente utilizado para deslocar os grupos indígenas, para avançar sobre as terras deles, desalojando o índio porque este foi desalojado pelo capital (MARTINS 1980MARTINS, J. S Expropriação e Violência: A questão política no campo. São Paulo: Hucitec, 1980., p. 74).
Esse processo se fez presente, recentemente, no caso da ocupação forçada da fronteira amazônica brasileira, quando empresas detentoras do capital e com o suporte financeiro do Estado começaram a avançar sobre as terras de posseiros e índios. Na Amazônia brasileira, observam-se de dois movimentos distintos e combinados que envolvem complexas formas de conflitos no processo de ocupação territorial, sendo que foi por intermédio do movimento dos posseiros que a sociedade nacional se expandiu nessa parte do território brasileiro ocupada por índios.
Essa frente de ocupação territorial liderada pelos posseiros é chamada por Martins (1979 MARTINS, J. S. O Cativeiro da Terra. São Paulo: Ciências Humanas, 1979) de frente de expansão. A economia da frente de expansão é uma economia de excedente, cujas famílias que dela fazem parte produzem, em primeiro lugar, para a própria subsistência e, secundariamente, para a troca de excedentes de acordo com aquilo que desejam obter no mercado.
Já a frente pioneira exprime um movimento econômico, cujo resultado imediato é a incorporação de novas terras das regiões de fronteira à economia de mercado de base capitalista. A frente pioneira deve ser vista como uma fronteira econômica, sendo, com efeito, precursora do ponto de vista do capital, já que é uma frente capitalista de ocupação territorial representada pelo grande latifúndio, por empresas agrícolas, bancos, casas de comércio, estradas e por todo o aparato institucional do Estado entreposto no intuito de mitigar conflitos. Conforme Martins (1980MARTINS, J. S Expropriação e Violência: A questão política no campo. São Paulo: Hucitec, 1980., p. 71):
É nessa frente que surge o que em nosso país se chama hoje, indevidamente, de pioneiro. São na verdade os pioneiros das formas sociais e econômicas de exploração e dominação vinculadas às classes dominantes e ao Estado. Essa frente pioneira é essencialmente expropriatória porque está socialmente organizada com base numa relação fundamental, embora não exclusiva, que é a de compradores e vendedores de força de trabalho.
O que caracteriza a penetração do capital no campo não é tanto a instauração de relações socioeconômicas de produção baseadas no trabalho alheio, mas sim a instauração da propriedade privada, isto é, a mediação da renda da terra capitalizada entre o produtor agrícola e a sociedade em geral. No Brasil, há diversas formas de apropriação de terras: a propriedade privada familiar dos pequenos lavradores; a propriedade privada capitalista; a propriedade comunal dos povos indígenas; e a apropriação dos posseiros.
Quando o capital se apropria da terra como um meio de produção, ela se transforma em terra de negócio, isto é, terra destinada à exploração do trabalho alheio, e, no momento em que o capitalista se apropria da terra, ele o faz com o objetivo de obter lucro ou renda da terra. Martins (1980MARTINS, J. S Expropriação e Violência: A questão política no campo. São Paulo: Hucitec, 1980., p. 61) afirma que “esse tipo de propriedade privada capitalista é próprio das frentes pioneiras”.
Quando as frentes de expansão confrontam as frentes pioneiras, surge uma luta pela terra: uma luta contra a propriedade capitalista da terra e também uma luta da terra de trabalho contra a terra de negócio. A tendência desse debate, que culmina na luta pela terra, é a expropriação dos produtores autônomos, que, em contraste com a grande empresa que decide ocupar e expandir suas atividades capitalistas em determinada região, não dispõem de nenhuma proteção econômica, política e jurídica sobre suas terras ocupadas.
Em outras palavras, no choque das frentes, os fatos econômicos são examinados no contexto de uma urdidura maior, envolvidos em condicionantes técnicos, políticos e sociais, compondo, assim, um quadro socioeconômico geral que ora age como fator condicionador, ora como fator determinante, dependendo do grau da dominação ou subordinação do trabalho ao capital assumido em momentos históricos distintos.
Considerações críticas sobre a teoria da fronteira de Turner
A tese de Turner sobre a história da fronteira do Oeste norte-americano é pouco mencionada nos estudos de história da fronteira do Brasil, e a razão disso, como bem observa Moog (1969MOOG, V. Bandeirantes e Pioneiros. Paralelo Entre Duas Culturas. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 1969., p. 231), “é justificada pelas diferenças culturais e religiosas trazidas pelo colonizador: portugueses (Brasil) e anglo-saxões (EUA)”. O referido autor é um dos precursores dos estudos de fronteira no Brasil. Ele considera que as principais diferenças culturais entre os “pioneiros” colonizadores dos EUA e do Brasil residem na esfera religiosa: protestantismo, sobretudo calvinista, no primeiro caso, e catolicismo, no segundo.
Ademais, Moog (1969MOOG, V. Bandeirantes e Pioneiros. Paralelo Entre Duas Culturas. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 1969.) defende a ideia de que as principais diferenças entre o homem da fronteira do Oeste norte-americano e o bandeirante brasileiro habitam nas motivações e ideais dos “pioneiros” no período colonial. Nos EUA, os colonos ingleses e americanos rumavam à fronteira do Oeste motivados pela posse da terra, onde poderiam desenvolver a agricultura e fixar um lar para sua família. No Brasil, em contrapartida, a principal motivação do pioneiro para ir à fronteira era fazer fortuna rapidamente por meio da descoberta de ouro, diamante e outras pedras preciosas e, posteriormente, regressar ao seu ambiente de origem, já que as ocupações rurais ou urbanas não eram vistas como dignas, pois eram mais adequadas a escravos e trabalhadores assalariados. Hofstader e Lipset (1968HOFSTADER, R.; LIPSET, S. M. Turner and the Sociology of the Frontier. New York: Basic Books, 1968., p. 11) ressaltam que “essas diferenças estavam ligadas aos diferentes traços culturais e motivações na busca de oportunidades de riqueza ou de trabalho na fronteira”.
Embora a percepção de Moog (1969MOOG, V. Bandeirantes e Pioneiros. Paralelo Entre Duas Culturas. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 1969.) sobre o modelo de colonização baseado no pioneirismo dos bandeirantes no período colonial brasileiro possa estar correta, ela perde poder de explicação quando se trata do atual processo de ocupação da fronteira amazônica brasileira, onde são encontradas frentes de garimpos em busca de riqueza, frentes de “sem terra” em busca de terra para trabalho e também frentes capitalistas de atividades agropecuárias e mineração em busca de terras para realizar o processo de acumulação de capital.
Para Lattimore (1962LATTIMORE, O. Studies in Frontier History. Collected Papers 1928-1958. London: Oxford University Press, 1962., p. 490, tradução minha), “Turner é um historiador perspicaz, mas cometeu um erro de observação quando viu a fronteira influenciando a sociedade norte-americana, quando, na verdade, estava vendo o inverso, ou seja, a influência da sociedade sobre a fronteira”. Velho (1976VELHO, O. G. Capitalismo Autoritário e Campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo: Difel, 1976.) afirma que o argumento mais forte a favor dessa tese parece advir dos estudos comparativos e do reconhecimento de que, em outros países, a fronteira não parece ter tido o efeito esperado por Turner.
Uma generalização do modelo de Turner pressupõe a presença de um capitalismo industrial no Norte, um capitalismo mercantil-escravista no Sul e um sistema de produção agrícola em pequena escala de base familiar (farmer) na formação da sociedade do Oeste norte-americano. O autor não usa a categoria campesinato ou camponês em sua análise por considerar que ela é mais adequada à época do mundo feudal europeu.
Velho observa que a visão de fronteira de Turner, como uma ideologia relacionada à formação do caráter individualista do povo norte-americano, tem a ver com a ideologia da formação da pequena burguesia no campo e na cidade. Para ele, o “movimento dos homens sem-terras” na fronteira não significa que a fronteira econômica seja o elemento necessário para que haja essa predominância, logo, não há necessidade de reificar a fronteira.
É importante aceitar o papel de outros fatores semelhantes na dinâmica da fronteira. Nas palavras de Velho (1976VELHO, O. G. Capitalismo Autoritário e Campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo: Difel, 1976., p. 31):
Isto é claramente devido, em parte, também ao peso “peculiar” que o farmer de fronteira adquiriu nos EUA. Ele formou a base da ideologia bastante persistente que só recentemente tem sido mais seriamente ameaçada, agora que o capitalismo em sua forma monopolista tende a alienar as massas populares que representariam a democracia de uma maneira que é cada dia mais difícil ocultar ideologicamente ou através de compensações que tendem a se tornar crescentemente insatisfatórias. Embora a principal força da “pequena burguesia” envolvida fosse o farmer do Oeste, é, também, verdade que pequenos produtores urbanos e rurais no Leste, juntamente com profissionais tais como jornalistas, advogados, tiveram importante papel no processo [de conquista da democracia].
Em regimes políticos de capitalismo autoritário, a fronteira torna-se um recurso útil para governos autoritários na redução das tensões sociais no campo e na mitigação do êxodo rural para os grandes centros urbanos. Com isso, segundo Velho (1976VELHO, O. G. Capitalismo Autoritário e Campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo: Difel, 1976.), surge um terceiro tipo de fronteira: a fronteira aberta controlada, isto é, uma fronteira cujo processo de ocupação das terras está sujeito ao comando e ao controle do Estado por meio de instituições legais e organismos governamentais criados para tal fim, e isso acontece porque todos os segmentos sociais que migram para a fronteira seguem em busca da terra como um recurso limitado.
José de Souza Martins (2009MARTINS, J. S. Fronteira: a degradação do Outro nos confins do Humano. São Paulo, Contexto, 2009., p. 32-33) faz uma crítica àqueles que adotam a teoria da fronteira de Turner para explicar a dinâmica da frente de expansão da fronteira no Brasil. Seu posicionamento contrário à explicação da história da ocupação da fronteira brasileira, em particular da fronteira da Amazônia brasileira, é justificado do seguinte modo:
Justamente por ter omitido a luta pela terra e a invasão dos territórios indígenas em sua própria sociedade, Turner, certamente, não é a melhor referência para pensarmos a complicada conflitividade da fronteira. Na mesma linha, certamente o caso da frente de expansão brasileira, como provavelmente o caso de outros países, não corresponde à idílica suposição de que a fronteira é o lugar de concepções e práticas democráticas de autogestão e liberdade, na medida em que o homem da fronteira estaria menos sujeito aos constrangimentos da lei e do Estado, e mais sujeito à própria iniciativa na defesa de sua pessoa, de sua família e de seus bens.
Essa conclusão encontra respaldo sobretudo se se toma como base o argumento de Turner em seu mais conhecido texto, “The Significance of the Frontier”. Embora Martins tenha razão quanto à tentativa inadequada de transposição da teoria de Turner da fronteira norte-americana para explicar a dinâmica da fronteira brasileira, é preciso lembrar que há outros ensaios do autor criticado, tais como “The Significance of the Section” e “Social Forces in American History”, nos quais outras formas de conflito são expostas.
Desse modo, cabe pontuar que o objetivo de Turner era somente inserir e destacar, em um contexto histórico, a importância das várias famílias da fronteira do Oeste na formação do espírito empreendedor e desbravador de uma parte do território dos EUA, indo na contramão dos historiadores americanos ortodoxos que procuravam enfatizar somente a história do capitalismo de um norte urbano-industrial, com relações de produções tipicamente capitalistas, e de um sul rural-agrícola, com relações de produções escravistas. Nesse sentido, Velho (1976VELHO, O. G. Capitalismo Autoritário e Campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo: Difel, 1976., p. 33) reconhece a importância de Turner:
Há ainda muitos problemas para serem enfrentados, tais como a questão dos múltiplos papéis da fronteira em cada caso específico, que nem Turner nem os seus oponentes parecem dar conta. Quando o tentarmos fazer, ver-se-á que o estudo da fronteira americana e da obra de Frederick Jackson Turner terá constituído um passo importante nessa direção.
A dinâmica de movimentação da fronteira no Brasil
O movimento de ocupação territorial da fronteira brasileira não ocorreu (e não ocorre) exclusivamente por meio de contingentes de famílias de pequenos lavradores - compreendidos como unidades de produção familiar -, mas sim a partir de uma mistura envolvendo diversos segmentos sociais: pequenos produtores de base familiar, empresários, fazendeiros e homens “sem terra”, todos em busca de terras para ocupar, produzir ou especular.
O movimento histórico de integração nacional da continental nação brasileira ocorreu (e ainda ocorre) por intermédio do avanço da fronteira agrícola. Esta é vista como um elo institucional entre o desenvolvimento capitalista em curso e os espaços vazios - isto é, com uma grande quantidade de terras disponíveis -, que logo se transformam em regiões ocupadas economicamente, com baixo grau de ordenamento institucional e legal e domínio da acumulação do capital mercantil.
É importante indicar que o movimento da fronteira agrícola com base nas grandes plantations deixava pouco espaço para a formação de um campesinato livre fora das terras das respectivas plantations, porque havia um monopólio do controle da terra. Já no caso da frente da expansão pecuária, por exemplo, os resultados lembram os da frente de expansão bandeirante no que tange à busca de terras no hinterland brasileiro, pois a criação de gado no Nordeste brasileiro, a princípio, era feita nas áreas das plantations.
No Brasil, a ocupação das terras da fronteira, com exceção do Estado do Acre, vem se dando dentro dos limites da fronteira do território brasileiro com países vizinhos. A fronteira econômica, nesse caso, aparece como locus territorial de uma economia em processo de formação, e a integração nacional da sua estrutura produtiva de bens e serviços se dá dentro dos limites internos de um Estado nacional.
Dentro do conceito de fronteira econômica, deve ser destacada a fronteira agrícola, na qual se encontram cultivos agrícolas homogêneos na forma de grandes plantações, a exemplo das plantações de café no norte do Paraná e, mais recentemente, e de soja e trigo no Centro-Oeste brasileiro. Percebe-se que o avanço da fronteira agrícola traz consigo não apenas investidores pioneiros, mas também mão de obra, por meio da migração de pessoas das regiões de alta densidade demográfica.
O progresso da fronteira direcionada para a ocupação de territórios vazios teve uma orientação do Estado, a partir, principalmente, do Estado Novo (1937-1945). Velho (1976VELHO, O. G. Capitalismo Autoritário e Campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo: Difel, 1976., p.145) pondera que “o avanço da fronteira agrícola na direção do Centro -Oeste do Brasil, durante o governo do (ex) Presidente Getúlio Dornelles Vargas, tinha como principal objetivo a integração demográfica e econômica de parte do território da região do Centro-Oeste brasileiro”.
O Brasil, na época de Vargas, era visto como uma unidade política do ponto de vista federativo, mas não era uma unidade econômica integrada. Apesar de sua retórica ideológica sobre a “Marcha para o Oeste”, não existem, como pontua Buarque de Holanda (1957HOLANDA, S. B. Caminhos e fronteiras. Rio de Janeiro: Olympio, 1957.), indicações concretas de que Vargas acreditasse no sucesso da produção agrícola da fronteira aberta do Centro-Oeste no que diz respeito ao abastecimento de alimentos para os grandes centros urbanos do país. Mesmo assim, Vargas acreditava no papel da fronteira econômica como uma instituição importante na formação de um mercado econômico nacional; houve um massivo movimento de migrantes, sobretudo de pequenos produtores, que acabou ocupando e integrando nacionalmente o Centro-Oeste ao restante da economia brasileira.
A “Operação Amazônia” e o processo de federalização institucional na fronteira da Amazônia brasileira
A institucionalização da “Operação Amazônia” ocorreu em três etapas: na primeira, em dezembro de 1965, foram estendidos à Amazônia Legal todos os incentivos fiscais e creditícios; na segunda, de setembro a outubro de 1966, foram votadas as leis básicas; e, por fim, em fevereiro de 1967, foi criada, por meio do decreto-lei nº 288, a Zona Franca de Manaus, Amazonas.
De acordo com Campos (1994CAMPOS, R. A Lanterna na Popa: Memórias. Rio de Janeiro: Topbooks, 1994.), a federalização institucional da região - vista como um aparato de leis, decretos-leis e de criação de órgãos federais para a atuarem na Amazônia Legal - foi anunciada no discurso proferido pelo ex-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, em primeiro de dezembro de 1966, no território do Amapá.
A Lei nº 5.173, de 27/10/1966, definiu os objetivos da federalização institucional que deu origem à Amazônia Legal, que incluiu os Estados do Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Goiás e Tocantins. Para marcar definitivamente a presença da ação federal na Amazônia Legal, foi criada, pela Lei nº 5.173, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).
O governo federal também resolveu transformar, através da Lei nº 5.122, de 29/09/1966, o Banco de Crédito da Amazônia S/A em Banco da Amazônia S/A (BASA). Para viabilizar a política de ocupação e desenvolvimento da Amazônia Legal, o governo militar instituiu, com a Lei nº 5.174, de 27/10/1966, a política de incentivos fiscais-financeiros que iria se constituir no principal instrumento sancionador de recursos de suporte aos investidores na Amazônia brasileira.
Para Carvalho (2005CARVALHO, D. F. Globalização, Federalismo Regional e o Desempenho Macroeconômico da Amazônia nos Anos 90. In: (Ed.). Ensaios Selecionados sobre a Economia da Amazônia nos Anos 90. v. I. Belém: UNAMA, 2005. p. 11-48. ), a intenção da “Operação Amazônia” foi claramente a militarização do planejamento do desenvolvimento regional na região, produto da geopolítica da segurança nacional engendrada pelo general Golbery do Couto e Silva. Não é à toa que a estratégia militar de intervenção na Amazônia fundou-se no binômio segurança e desenvolvimento.
Nesse contexto, com o intuito de viabilizar as ações da União, por cima dos interesses dos Estados subnacionais, o governo federal instituiu uma federação de regiões no Brasil: Nordeste, Amazônia Legal, Centro-Oeste e Sul, com suas respectivas agências regionais de desenvolvimento - a referida Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) e, por fim, a Superintendência de Desenvolvimento do Sul (SUDESUL).
Dessa forma, a invenção institucional da Amazônia Legal permitiu que a União, como agente principal, planejasse e executasse sua política de ocupação e desenvolvimento passando por cima dos interesses dos atores da região amazônica. Além disso, para submeter os governos estaduais e locais aos interesses do governo federal, foram criadas novas instituições regionais e redefinidos os papéis que o governo federal e o setor privado deveriam assumir em suas dimensões geoeconômicas e geopolíticas.
A nova estrutura institucional montada pelo governo federal para que esses organismos federais atuassem na Amazônia Clássica, que se confundia geograficamente com a região Norte, exigiu a invenção de uma nova Amazônia: a Amazônia Legal. Com isso, sua criação serviu aos interesses do governo militar, que, dispondo de recursos orçamentários e dos incentivos fiscais, manobrava, de acordo com as suas vontades, a política nacional de integração da Amazônia ao centro capitalista: o Sudeste.
Em suma, o planejamento nacional do desenvolvimento regional foi institucionalizado como um instrumento político-ideológico, a partir do qual o governo militar impôs, aos governos estaduais e à sociedade, uma nova estratégia de ocupação e desenvolvimento. As estratégias de ocupação e desenvolvimento da Amazônia brasileira foram constantemente adaptadas às mudanças da conjuntura econômica e à preservação do poder militar, típico de uma aliança entre uma burguesia industrial e financeira do centro e uma oligarquia da periferia regional representante dos capitais mercantis locais.
Fundamentação teórica do novo institucionalismo econômico
Instituições, para os institucionalistas, são qualquer tipo de padrão de comportamento coletivo, constitutivo do universo cultural de uma sociedade. Essa noção inclui, consequentemente, não apenas as organizações criadas pelos governos, agências administrativas ou pela iniciativa privada para fins específicos - como escolas, bancos, famílias -, mas também o conjunto de usos e costumes, leis e códigos de conduta - religião, modos de pensar, hábitos e convenções sacramentadas.
O primeiro aspecto positivo ao adotar como marco referencial teórico o novo institucionalismo econômico diz respeito à crítica direcionada ao economicismo neoclássico, ou seja, ao denominado mainstream da ciência econômica contemporânea, que defende a ideia de leis imutáveis na economia e de equilíbrio do sistema econômico. O segundo aspecto, este de caráter prático, é que tal referencial admite a possibilidade de intervenção do Estado na reconciliação dos competidores, a partir de políticas econômicas capazes de assegurar o bom funcionamento do sistema econômico.
O novo institucionalismo econômico, liderado por Douglass Cecil North e Oliver Eeaton Williamson, tem como objetivo desenvolver uma teoria econômica das instituições, com o intuito de prover um conjunto de evidências históricas acerca de como as instituições afetam o desenvolvimento dos países. Sua proposta teórica é introduzir as instituições como constrangimentos que, ao lado das restrições usuais estudadas pelos economistas, guiam as ações dos indivíduos.
Williamson (1985 WILLIAMSON, O. E. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. New York: The Free Press, 1985. ) rejeita a velha ideia de uma ordem social harmônica e reconhece a existência de conflitos de interesses entre grupos e de desajustes inerentes à vida econômica. Nesse sentido, tendo como base os pressupostos teóricos de North (1990NORTH, D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1990.), as instituições podem ser formais, tais como leis, decretos-lei e regulamentos do Estado, que balizam o comportamento dos membros de uma sociedade, e informais, como convenções e códigos criados historicamente pela própria sociedade.
As instituições formais interagem com as informais, e essa ação pode complementar ou melhorar a eficácia das últimas ou mesmo modificá-las ou substituí-las com o tempo, já que essas mudanças consistem em ajustamentos marginais em relação ao complexo de regras, normas e imposições regulamentares que compõem a estrutura institucional de um país. Dessa forma, as mudanças institucionais disruptivas e descontínuas, tais como as revoluções e invasões, são casos singulares que não estão isentos dos efeitos das instituições informais.
Outra questão importante relacionada ao movimento teórico do novo institucionalismo, segundo os estudos de North (1990NORTH, D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1990.), envolve as seguintes características: 1º) reconhecimento de que o mundo real não se aproxima da concorrência perfeita sugerida pelos economistas neoclássicos; 2º) previsão da construção de um modelo de instituição idealizado e funcional que, no limite, recria as condições favoráveis à livre concorrência; 3º) descrição do modelo anglo-saxão de economia de mercado como o mais próximo desse modelo, com a evidência da importância dessas instituições para o desenvolvimento; 4º) existência de instituições que inibem as relações econômicas implicam subdesenvolvimento - tais instituições persistem porque obedecem a uma racionalidade política de grupos não competitivos encastelados no Estado.
O institucionalismo de North (1990NORTH, D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1990.) não é propriamente um determinismo institucional, mas a supõe que o caminho do desenvolvimento econômico é moldado por instituições impregnadas (embedded) na economia. Logo, a compreensão das instituições econômicas do capitalismo hodierno expõe a economia moderna a desafios profundos e duradouros.
Na próxima seção, são discutidos os seguintes itens: fronteira como instituição, sob a ótica do novo institucionalismo econômico; análise das instituições, do Estado e do capital em uma fronteira econômica.
A fronteira como instituição sob a ótica do novo institucionalismo econômico
A interpretação teórica da fronteira e da expansão da fronteira econômica no Brasil e, dentro dela, da colonização, vista como uma das suas formas institucionais, não dispensa uma referência à nova organização do mundo globalizado em termos geopolíticos e geoeconômicos. Para Alston, Libecap e Mueller (1999ALSTON, L. J.; LIBECAP, G. D.; MUELLER, B. Titles, Conflict, and Land Use: The Development of Property Rights and Land Reform on the Brazilian Amazon Frontier. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999., p. 8-9, tradução minha):
Fronteiras têm alto potencial para melhorar o status econômico e social dos assentados, mas a efetivação disso depende dos regimes de direitos de propriedade e da flexibilidade deles para acomodar as novas condições econômicas emergentes. Se os direitos de propriedade são claramente assinalados e regulamentados, os indivíduos podem explorar os recursos da fronteira de modo a maximizar sua riqueza com a redução dos problemas ambientais. Fronteiras também apresentam um elevado potencial para gerar conflitos sobre direitos de propriedade associados à ocupação produtiva ou especulativa da terra, porque as fronteiras são o lugar onde as instituições legais e as organizações governamentais estão ausentes.
Contudo, quando a ocupação sistemática de terras livres em uma fronteira com recursos naturais e abundância de terras, como no caso da Amazônia brasileira, passa a despertar o interesse econômico de uma elite burguesa, a institucionalização resultante da expansão da fronteira vem acompanhada por leis específicas e, concomitantemente, pela criação de organismos públicos que atendam à dinâmica da ocupação da fronteira econômica em bases capitalistas. Sobre essa questão, Becker (2001BECKER, B. K. Síntese do processo de ocupação da Amazônia: lições do passado e desafio do presente. In: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (Org.). Causas e dinâmica do desmatamento na Amazônia. Brasília: MMA, 2001. p. 5-28., p. 9) afirma:
Na contemporaneidade, o uso do território de um Estado, de modo geral, e de sua fronteira política, de modo específico, parece, em grande parte, o resultado de fluxos e pressões gerados não só de dentro como, cada vez mais, fora dele e que escapam, de certo modo, ao controle de suas instituições e regulações territoriais tradicionalmente elaboradas. [...] Não é demais enfatizar, desse modo, que o tratamento da questão fronteiriça na Amazônia vincula-se ao processo mais amplo de desenvolvimento e ocupação da região.
É visível, portanto, que a organização do espaço amazônico e de seu extenso limite fronteiriço com os países da Pan-Amazônia remete, em grande parte, à interferência geopolítica do Estado brasileiro, associada com a política de soberania nacional, e também à ingerência da geoeconomia interna e externa, relacionada à influência das relações internacionais. No entanto, a expansão da fronteira econômica no Brasil é muito mais um reflexo do dinamismo da economia brasileira a partir do polo concentrador e centralizador do capital industrial e do capital financeiro, qual seja: o Estado de São Paulo.
Dessa maneira, são os imperativos do processo de acumulação do capital no território nacional que acabam determinando a transição das frentes de expansão para as frentes pioneiras na fronteira econômica. Conforme Hébette e Marin (2004HÉBETTE, J.; MARIN, REAA . Colonização e Fronteira: articulação no nível econômico e no nível ideológico. In: HÉBETTE, J. (Ed.). Cruzando Fronteira: 30 anos de estudo do campesinato na Amazônia. v. I. Belém: EDUFPA, 2004. p. 75-88., p. 75-76):
Igualmente são os imperativos da necessidade incessante de acumulação de capital que acabam determinando as formas de ocupação - dentre as quais se destacam as práticas da colonização espontânea, empresarial e governamental - na fronteira amazônica.
Diante desse cenário, é possível constatar que a velocidade de ocupação de terras livres na fronteira pode ser objeto de interesse do capital - a disputa por terras livres (ou não) pode conduzir à expropriação de terras de terceiros, mediante processos truculentos ou fraudulentos de acumulação primitiva, e, consequentemente, à elevação de conflitos, por meios violentos, em torno da luta pela terra.
Aqui é crucial voltar ao terceiro tipo de fronteira sugerido por Velho (1976VELHO, O. G. Capitalismo Autoritário e Campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo: Difel, 1976.): a fronteira aberta controlada. A fronteira, quando aberta (com ou sem restrição do Estado), possibilita a penetração de uma diversidade de atores sociais, tais como camponeses, fazendeiros e empresas. Todos a enxergam como um lugar de terra ilimitada, mesmo sabendo que a terra é limitada em termos físicos, jurídicos e econômicos, do ponto de vista do seu aproveitamento para a agricultura, por exemplo.
Nas diretrizes de Velho (1976VELHO, O. G. Capitalismo Autoritário e Campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo: Difel, 1976., p. 100), “o lócus por excelência da terra ‘ilimitada’ é, obviamente, a fronteira”. Embora na prática, mesmo na fronteira, a terra não esteja aberta a todos de forma ilimitada, ela representa, no imaginário coletivo das famílias dos “sem terra”, essa imagem ideológica, quando contrastada com as situações sociais em que realmente vivem muitos pequenos produtores agrícolas ou até mesmo com as dos despossuídos de meios de produção, os quais vivem em péssimas condições sociais nas cidades mais próximas da fronteira.
Para essas famílias, a fronteira é vista como possibilidade de mobilidade social ascendente, assim como meio de escapar da subordinação formal do trabalho ao capital (Velho, 1976VELHO, O. G. Capitalismo Autoritário e Campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo: Difel, 1976.). Por tudo isso, a fronteira econômica é um lugar importante para esses modelos de desenvolvimento - ou seja, os modelos compostos pelas frentes de expansão e pelas frentes pioneiras capitalistas -, daí o interesse do Estado em controlar o movimento fronteiriço na região.
De acordo com Martins (2009MARTINS, J. S. Fronteira: a degradação do Outro nos confins do Humano. São Paulo, Contexto, 2009., p. 135-136):
A concepção de frente pioneira compreende, implicitamente, a ideia de que na fronteira se cria o novo, uma nova sociabilidade, fundada no mercado e na contratualidade das relações sociais. No fundo, consequentemente, a frente pioneira é mais do que o deslocamento da população sobre o território no Brasil, pois acaba sendo uma situação espacial e social que convida/induz à modernização, à formulação de novas concepções de vida, à mudança social.
Joe Foweraker toma o conceito de fronteira pioneira em um sentido diferente daqueles associados ao caráter cíclico do crescimento econômico e da ocupação da terra no Brasil. Na visão dele (1982FOWERAKER, J. A Luta pela Terra: a economia política da fronteira pioneira no Brasil de 1930 aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 1982., p. 31):
A fronteira pioneira, ao contrário, tem-se expandido em resposta às demandas do mercado nacional e em função da acumulação econômica dentro da economia nacional desde 1930. A fronteira pioneira, nestes termos, é um processo histórico específico de ocupação de novas terras.
No geral, o período de ocupação de novas terras na fronteira corresponde à fase de ocorrência das mais altas taxas de industrialização e urbanização no Brasil. Começa no momento em que a economia brasileira experimenta um grande excedente de mão de obra, que, com parcas possibilidades de emprego nos grandes centros urbanos, se dirige no sentido da ocupação de novas terras. Logo, da mesma forma que cresce “em profundidade” em termos estruturais nos centros industriais e financeiros, a economia brasileira também aumenta “em largura”, em função da expansão das fronteiras agrícolas e pecuárias.
Em suma, a fronteira não exprime toda e qualquer atividade econômica cuja produção é voltada para o mercado exterior, mas sim uma atividade particular que integra as regiões inexploradas à economia nacional, sendo esse processo impulsionado pelas forças e contradições próprias de uma economia em desenvolvimento.
Isso é importante porque muitos dos mecanismos usuais de acumulação do capital na fronteira podem, em determinadas situações, não ser especificamente capitalistas em relação aos métodos de “subsunção formal do trabalho ao capital ou subsunção real do trabalho alheio”, como descritos por Marx (1978MARX, K. O Capital. São Paulo: Ciências Humanas . Livro 1, Capítulo VI, 1978. In: MARX, K. O Capital: Crítica da Economia Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Livro 1, Vol. 2, 1984., p. 66). Carvalho (2015CARVALHO, D. F. Economia política do desenvolvimento econômico, formação do Estado, padrões de industrialização e crises e ciclos econômicos do capitalismo contemporâneo. Belém: ICSA/UFPA, 2015., p. 146) observa que “o processo de trabalho é subsumido (subordinado) ao capital, e nesse processo, que é também um processo de produção de mercadorias, o capitalista se enquadra nele como dirigente e proprietário do capital”.
O capital industrial e financeiro, em uma formação econômico-espacial já dominada por relações sociais de produção especificamente capitalistas, tem como intento fixar o seu domínio territorial na fronteira econômica por meio da intermediação do capital mercantil, que faz uso, como lhe é peculiar, de formas violentas de expropriação de terras e de exploração do trabalho alheio por métodos de acumulação primitiva. É nesse ambiente de violência e de insegurança institucional que as instituições governamentais não funcionam de maneira adequada no cumprimento das regras do jogo.
Instituições, Estado e Capital em uma fronteira econômica
O mercado costuma ser o locus institucional em que são processadas as relações mercantis via concorrência entre empresas e consumidores, entre as próprias empresas e, às vezes, entre empresas e governos. Indo além, Mészaros (2011MÉSZAROS, I. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2011., p. 120) salienta:
É assim que surge a mitologia do mercado, não apenas como regulador suficiente, mas até como regulador global ideal do processo sociometabólico. Mais tarde, essa visão é levada ao extremo, atingindo seu clímax nas teorias grotescamente explicativas do século XX, na forma da ideologia de “reduzir as fronteiras do Estado” quando as transformações que realmente ocorrem apontam na outra direção. No entanto, o papel diversificado do mercado nas diferentes fases de desenvolvimento do sistema do capital, desde os intercâmbios limitados até o mercado mundial completamente realizado, é totalmente incompreensível sem relacioná-lo ao outro lado da mesma equação: a dinâmica igualmente variável do Estado como estrutura de comando político totalizadora.
Williamson (1985 WILLIAMSON, O. E. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. New York: The Free Press, 1985. ) denomina de estrutura intermediária o conjunto de instituições que medeiam as relações econômicas situadas tanto no ambiente simples de compra e venda entre produtores e consumidores quanto no ambiente institucional complexo, em que as transações são realizadas por meio de contratos de compra e venda estabelecidos entre companhias e compradores, entre diferentes empresas e entre estas e os governos.
O ambiente institucional das transações é, pois, o de uma concorrência intercapitalista. Isso significa que a dinâmica institucional está subordinada ao impulso das leis do movimento do capital, ou seja, aos movimentos da acumulação, concentração e centralização do capital no âmbito da concorrência. De acordo com Mészáros (2011MÉSZAROS, I. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2011., p. 100):
O sistema do capital é orientado para a expansão e movido pela acumulação. Essa determinação constitui, ao mesmo tempo, um dinamismo antes inimaginável e uma deficiência fatídica. Neste sentido, como sistema de controle sociometabólico, o capital é absolutamente irresistível enquanto conseguir extrair e acumular trabalho excedente - seja na forma econômica direta, seja na forma basicamente política - no decurso da reprodução expandida da sociedade considerada.
O capital impõe uma necessidade de dominação de novos territórios - periféricos ou não -, principalmente por não respeitar limites nem fronteiras. Lênin (1980LÊNIN, V. I. Capitalismo e Agricultura nos Estados Unidos da América. Novos dados sobre as leis de desenvolvimento do capitalismo na agricultura. São Paulo: Brasil Debates, 1980.) procurou demonstrar, com base nas melhores estatísticas disponíveis nos EUA, como o capital subordina e transforma, a bel-prazer, as várias formas de propriedade da terra, inclusive a dos pequenos agricultores de base familiar (farmers).
Na verdade, o referido trabalho teve como principal objetivo desmitificar certas ideias da época, por exemplo, a de que a grande maioria dos estabelecimentos agrícolas nos EUA era formada por uma pequena produção familiar e a de que a agricultura capitalista norte-americana estava decompondo-se. Lênin (1980LÊNIN, V. I. Capitalismo e Agricultura nos Estados Unidos da América. Novos dados sobre as leis de desenvolvimento do capitalismo na agricultura. São Paulo: Brasil Debates, 1980., p. 51) demonstrou, usando métodos de investigação e de exposição adequados, que todas essas afirmações eram “monstruosamente falsas e contrárias à realidade”.
Em 1981, esse mesmo assunto veio à baila com a publicação dos trabalhos de Nakano (1981NAKANO, Y. A Destruição da Renda da Terra e da Taxa de Lucro na Agricultura. Revista de Economia Política . v. 1, n. 3, p. 03-16, 1981.) e de Aidar e Perosa Júnior (1981AIDAR, A. C. K; PEROSA JÚNIOR, R. M. Espaços e limites da empresa capitalista na agricultura. Revista de Economia Política, v. 1, n. 3, p. 17-39, 1981.), que procuraram relacionar o peso da agricultura familiar e os limites às grandes empresas no campo em países desenvolvidos. Essas pesquisas confirmaram, a partir de dados do censo mais recente da economia agrícola norte-americana, a versão contemporânea do mito criado por Turner sobre a democracia agrária.
O mito do The small is beautiful ou do The small family farm, além de criar a ilusão de que a democracia agrária continuaria intacta nos EUA, permitiu que as grandes corporações continuassem obtendo subsídios públicos, sob o pretexto de apoiar a agricultura, em uma forma de privatização recursos sociais. No Brasil, como dito anteriormente, o ex-presidente Getúlio Dornelles Vargas acreditava no papel da fronteira econômica como fator importante para levar adiante a formação de um mercado nacional. Vargas (1943VARGAS, G. As Diretrizes da Nova Política do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1943., p. 285-286) insistia:
Precisamos promover essa arrancada, sob todos os aspectos e com todos os métodos, a fim de suprimirmos os vácuos demográficos do nosso território e fazermos com que as fronteiras econômicas coincidam com as fronteiras políticas. Eis o nosso imperialismo. Não ambicionamos um palmo do território que não seja nosso, mas temos um expansionismo, que é o de crescermos dentro das nossas próprias fronteiras.
A primeira impressão que se tem do projeto de colonização de Vargas, que visava à ocupação da fronteira no Mato Grosso e em Goiás, é de que sua política de terras era democrática por facilitar o direito à propriedade e ao uso das terras pelos novos colonos migrantes. Uma investigação mais atenta, entretanto, rompe com essa impressão inicial. Conforme Lenharo (1986LENHARO, A. A terra para quem nela não trabalha. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 6, n. 12, p. 47-64, 1986. Available at: <http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3626>. Accessed on: 5th December 2016.
http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID...
, p. 47), “as ações do governo Vargas renderam mais dividendos políticos, já que as reais necessidades dos trabalhadores por terras para produção agrícola autônoma ficaram aquém das promessas políticas governamentais”.
De qualquer maneira, Ricardo (1942RICARDO, C. Marcha para o Oeste. São Paulo: José Olympio, 1942.), autor do livro Marcha para o Oeste, sustenta que o avanço da fronteira agrícola no Centro-Oeste - durante o período da ditadura Vargas - teve um papel semelhante ao sugerido por Turner para o caso da fronteira dos EUA. Na época, foram criados diversos mitos em torno do avanço da fronteira econômica, sobretudo os que dizem respeito ao estabelecimento da ideologia de uma identidade nacional.
É claro que a tese de Turner não é suficiente para explicar a dinâmica de ocupação da fronteira no Brasil. Apesar disso, como afirma Mello (1982MELLO, J. M. C. O Capitalismo Tardio: Contribuição à revisão crítica da formação e do desenvolvimento da economia brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1982., p.110-111), “é inegável o fato de que, mais recentemente, o avanço da fronteira da soja e da pecuária nos Estados do Mato Grosso e de Goiás conseguiu promover um rápido desenvolvimento do agronegócio no Centro-Oeste, dentre muitos motivos, devido à proximidade com a região mais industrializada e urbanizada do país, o Sudeste”.
No Brasil, a política de integração nacional conduzida pelo Estado - especialmente nos períodos de governos autoritários -, a partir do avanço da fronteira econômica, sempre teve como base de sustentação os fundamentos da geopolítica externa adaptados à geopolítica interna. Com o término do governo Vargas, um novo ciclo de expansão da fronteira agrícola entrou em curso através da agricultura cafeeira em direção ao norte do Estado do Paraná, notadamente nos anos 1950, quando as áreas de fronteira paranaenses foram ocupadas por fazendas de café e firmas madeireiras, que abriram o caminho para o café.
Nesse contexto, a permanência da pequena produção agrícola envolveu uma luta violenta pela terra em Goiás e no Maranhão. Até então, apesar das experiências de colonização agrícola no Pará, como é o caso da colonização da Zona Bragantina, o fenômeno da expansão da fronteira em bases capitalistas ainda não tinha ocorrido, como certificam Hébette e Marin (2004HÉBETTE, J.; MARIN, REAA . Colonização e Fronteira: articulação no nível econômico e no nível ideológico. In: HÉBETTE, J. (Ed.). Cruzando Fronteira: 30 anos de estudo do campesinato na Amazônia. v. I. Belém: EDUFPA, 2004. p. 75-88.).
Toda essa dinâmica é modificada com a construção de Brasília e da rodovia Belém-Brasília, que fixou as bases para uma verdadeira integração econômica da Amazônia Oriental com o resto do Brasil no período do governo democrático de Juscelino Kubitscheck. A estrada Belém-Brasília acabou desativando, do ponto de vista econômico, todas as velhas cidades situadas às margens do rio Tocantins, com exceção da cidade de Imperatriz, no Maranhão, que dela se beneficiou e deu origem, em compensação, a numerosas pequenas aglomerações humanas nas proximidades dos mais de 2.000 km2 2 Também chamada BR-010 ou Rodovia Engenheiro Bernardo Sayão. de extensão da rodovia Belém-Brasília.
Percebe-se que a funcionalidade, para fins das transações mercantis, justifica a emergência de mercados organizados como instituições regidas por leis e regulamentos para limitar o aparecimento de formas oportunistas fraudulentas e atenuar os efeitos da incerteza comportamental. Tais arcabouços institucionais caracterizam-se por assegurar a vigência de contextos institucionais distintos em que os agentes econômicos atuam dentro de relações de mútua confiança, a partir das quais são desenvolvidas linhas de comunicação e códigos de conduta que mitigam possíveis conflitos e suavizam a adaptação a novas contingências dentro e fora da firma.
Com isso, a forma institucional de tratar a relação mercado e Estado supera a velha dicotomia que os opunha. Przeworski (1998PRZEWORSKI, A. Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva agent x principal. In: PEREIRA, L. C. B.; SPINK, P. K. (Ed.). Reforma do Estado e administração pública gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 1998., p. 39-40) observa que a própria frase “o mercado está sujeito às intervenções do Estado é enganadora”. De fato, a intervenção do Estado em uma economia de mercado conhecida como regulação não é simples de analisar, seja na teoria, seja na prática. Para Przeoworski (1998PRZEWORSKI, A. Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva agent x principal. In: PEREIRA, L. C. B.; SPINK, P. K. (Ed.). Reforma do Estado e administração pública gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 1998., p.40-41):
O problema de uma estrutura institucional não é mais simplesmente a oposição entre o Mercado versus o Estado, mas sim de novas instituições específicas que podem induzir os atores individuais - atores econômicos, políticos ou burocratas - a se comportarem de maneira benéfica à coletividade. A teoria econômica neo-institucionalista mostra que os mercados não são tão eficientes e que a intervenção do Estado pode melhorar as soluções do mercado. O Estado tem importante papel a desempenhar não só no que diz respeito a garantir a segurança material para todos e a buscar outros objetivos sociais, mas também como promotor do desenvolvimento econômico.
Note-se que os mercados são instituições sociais incompletas e heterogêneas, sobretudo porque os agentes econômicos para acessar informações diferentes têm de pagar, o que implica dizer que os mercados - tal como eles são - existem somente como sistemas econômicos organizados, só que de formas distintas.
Considerações finais
Instituições são formadoras de convenções sociais que definem o padrão de comportamento dos membros de uma sociedade. Os padrões de comportamento, por sua vez, são associados a normas sociais que orientam o que as pessoas devem ou não fazer e/ou pensar em determinados meios sociais. Essas normas sociais podem ser aplicadas por organizações formais (legais) ou seguir sanções informais resultantes da aprovação ou desaprovação dos membros de uma sociedade civil organizada.
O novo institucionalismo econômico ajuda a entender como os membros de uma comunidade constroem soluções cooperativas, ao focalizar as regras formais e informais que dificultam ou facilitam a ação coletiva, tais como: conselhos locais, associações, órgãos governamentais, legislação, acordos, contratos, entre outros.
Neste artigo, o ponto de partida para levar adiante uma discussão histórico-teórica sobre a fronteira foi o trabalho desenvolvido por Turner. De fato, respeitando, primeiramente, as diferenças histórico-institucionais entre Brasil e EUA foi possível identificar o verdadeiro sentido da fronteira na formação socioeconômica brasileira, que ganhou contornos diferenciados em relação aos demais países, mormente pela possibilidade de difusão dos conceitos de “frente de expansão” e “frente pioneira” como modelos econômicos de ocupação da fronteira no país.
No Brasil, a incorporação, por via de atividades agropecuárias, de áreas antes inacessíveis ou relativamente despovoadas foi resultado do avanço da fronteira econômica. No caso específico da fronteira econômica da Amazônia brasileira, a expansão da atividade agropecuária contou com o apoio de instituições e organizações regionais criadas pelo governo militar, com destaque para o aparato legislativo contido na chamada “Operação Amazônia”, que deu origem à Amazônia Legal, à SUDAM, ao BASA e também ao INCRA.
O fato de o governo federal, através da SUDAM e do BASA, dirigir e concentrar seus gastos em infraestrutura econômica de suporte ao grande capital revelou sua postura, frente ao grande capital nacional e transnacional, como principal agente desenvolvedor das forças produtivas sociais no processo de ocupação da fronteira da Amazônia brasileira. Contudo, os efeitos dessa estratégia, proporcionada pelas organizações do Estado, acabaram por criar várias zonas de conflitos sociais na luta pela terra entre as frentes de expansão e as frentes pioneiras de expansão capitalista (agropecuária).
Nesse sentido, é importante frisar que a fronteira deve ser entendida como uma instituição, produto da criação do Estado brasileiro, desde o momento que o governo militar institucionalizou a “Operação Amazônia” - dando origem à Amazônia Legal e a todo o aparato institucional e econômico proveniente do BASA, da SUDAM e, posteriormente, do INCRA, que contribuiu para a transformação da região em uma fronteira econômica real, verdadeiro locus dos conflitos de luta pela terra no Brasil.
É essencial ter consciência de que a fronteira amazônica faz parte da totalidade socioeconômica brasileira. Desse modo, a fronteira, como uma sociedade em formação, não se estrutura como um fenômeno autônomo - nem em sua fase pioneira, tampouco em sua fase de expansão; ela, como parte da sociedade brasileira em expansão, não pode ser estudada de forma dissociada.
Logo, a fronteira econômica é uma relação social de produção, porque a estrutura da sociedade em construção no território da fronteira é dominada (in)diretamente pelo capital; ou como afirma Graziano da Silva (1981GRAZIANO DA SILVA, J. A porteira já está fechando? In: GRAZIANO DA SILVA, J. A modernização dolorosa: estrutura agrária, fronteira agrícola e trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar , 1981. p. 115-125., p. 114), “é fronteira do ponto de vista do capital, ou seja, como uma relação social de produção capitalista”; Mészaros (2011MÉSZAROS, I. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2011., p. 67 - grifos do autor) reforça essa condição ao destacar que o capital “é uma relação de propriedade - o meio de produção alienado incorporado na propriedade privada ou estatal - historicamente criada (e historicamente transcendível), que é contraposta a cada produtor e governa a todos”.
Do ponto de vista institucional, a fronteira costuma ser o locus do descumprimento das leis no âmbito de uma sociedade civil organizada e democrática, isto é, o lugar em que o aparato normativo e coercitivo do Estado se encontra ausente e, quando aí existe, está a serviço do capital. Em contrapartida, um sistema institucional economicamente evoluído e estruturado pode ajudar na promoção do desenvolvimento econômico ao estruturar o entorno e estimular o processo de cooperação, inovação e aprendizagem em uma região de fronteira. Tal processo está em curso na Amazônia brasileira.
Referências
- ACRUCHE, H. A Fronteira no Mundo Atlântico: abordagens sobre o rio da prata colonial. Histórias, histórias, v. 2, n. 3, p. 125-136, 2014. Available at: <http://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/view/10840>. Accessed on: 5th December 2016.
» http://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/view/10840 - AIDAR, A. C. K; PEROSA JÚNIOR, R. M. Espaços e limites da empresa capitalista na agricultura. Revista de Economia Política, v. 1, n. 3, p. 17-39, 1981.
- AITON, A. S. Latin American Frontiers. In: WEBER, D.; RAUSCH, J. (Ed.). Where Cultures Meet. Frontiers in Latin American History. Wilmington: Jaguar Books on Latin America, 1994. p. 19-25.
- ALSTON, L. J.; LIBECAP, G. D.; MUELLER, B. Titles, Conflict, and Land Use: The Development of Property Rights and Land Reform on the Brazilian Amazon Frontier. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.
- AVILA, A. L. Da história da fronteira à história do Oeste: fragmentação e crise na Western history norte-americana no século XX. História Unisinos, v. 13, n. 1, p. 84-95, 2009. https://doi.org/10.4013/htu.2009.131.08
» https://doi.org/https://doi.org/10.4013/htu.2009.131.08 - BECKER, B. K. Síntese do processo de ocupação da Amazônia: lições do passado e desafio do presente. In: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (Org.). Causas e dinâmica do desmatamento na Amazônia Brasília: MMA, 2001. p. 5-28.
- BOLTON, H. E. The epic of a greater America. American Historical Review, v. 38, n. 3, p. 448-474, 1932. https://doi.org/10.2307/1837492
» https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1837492 - BOLTON, H. E.; BARNABEU, S.; SOLANO, F. (ed.). Estudios (nuevos y viejos) sobre la frontera Madri: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1991. p. 45-60.
- BOLTON, H. E. The Spanish borderlands: A chronicle of the Old Southwest and Florida. Albuquerque: University of New Mexico, 1996[1921].
- CAMPOS, R. A Lanterna na Popa: Memórias. Rio de Janeiro: Topbooks, 1994.
- CARVALHO, D. F. Globalização, Federalismo Regional e o Desempenho Macroeconômico da Amazônia nos Anos 90. In: (Ed.). Ensaios Selecionados sobre a Economia da Amazônia nos Anos 90 v. I. Belém: UNAMA, 2005. p. 11-48.
- CARVALHO, D. F. Economia política do desenvolvimento econômico, formação do Estado, padrões de industrialização e crises e ciclos econômicos do capitalismo contemporâneo Belém: ICSA/UFPA, 2015.
- FOWERAKER, J. A Luta pela Terra: a economia política da fronteira pioneira no Brasil de 1930 aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
- FURTADO, C. M. Formação Econômica do Brasil São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1974.
- GRAZIANO DA SILVA, J. A porteira já está fechando? In: GRAZIANO DA SILVA, J. A modernização dolorosa: estrutura agrária, fronteira agrícola e trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar , 1981. p. 115-125.
- HÉBETTE, J.; MARIN, REAA . Colonização e Fronteira: articulação no nível econômico e no nível ideológico. In: HÉBETTE, J. (Ed.). Cruzando Fronteira: 30 anos de estudo do campesinato na Amazônia. v. I. Belém: EDUFPA, 2004. p. 75-88.
- HENNESSY, C. A. M. The Frontier in Latin American History London: Edward Arnold, 1978.
- HOFSTADER, R.; LIPSET, S. M. Turner and the Sociology of the Frontier New York: Basic Books, 1968.
- HOLANDA, S. B. Caminhos e fronteiras Rio de Janeiro: Olympio, 1957.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica São Paulo: Atlas, 1991.
- LATTIMORE, O. Studies in Frontier History. Collected Papers 1928-1958. London: Oxford University Press, 1962.
- LENHARO, A. A terra para quem nela não trabalha. Revista Brasileira de História São Paulo, v. 6, n. 12, p. 47-64, 1986. Available at: <http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3626>. Accessed on: 5th December 2016.
» http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3626 - LÊNIN, V. I. Capitalismo e Agricultura nos Estados Unidos da América. Novos dados sobre as leis de desenvolvimento do capitalismo na agricultura. São Paulo: Brasil Debates, 1980.
- MARTINS, J. S. Capitalismo e Tradicionalismo: Estudos sobre as contrações da sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Livraria Pioneira, 1975.
- MARTINS, J. S. O Cativeiro da Terra São Paulo: Ciências Humanas, 1979
- MARTINS, J. S. Fronteira: a degradação do Outro nos confins do Humano. São Paulo, Contexto, 2009.
- MARX, K. O Capital São Paulo: Ciências Humanas . Livro 1, Capítulo VI, 1978. In: MARX, K. O Capital: Crítica da Economia Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Livro 1, Vol. 2, 1984.
- MELLO, J. M. C. O Capitalismo Tardio: Contribuição à revisão crítica da formação e do desenvolvimento da economia brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1982.
- MÉSZAROS, I. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2011.
- MOOG, V. Bandeirantes e Pioneiros Paralelo Entre Duas Culturas. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 1969.
- MORSE, R. M. The Bandeirantes: the historical role of the brazilian pathfinders. New York: Alfred A. Knopf Books, 1965.
- NAKANO, Y. A Destruição da Renda da Terra e da Taxa de Lucro na Agricultura. Revista de Economia Política . v. 1, n. 3, p. 03-16, 1981.
- NORTH, D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1990.
- PRZEWORSKI, A. Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva agent x principal. In: PEREIRA, L. C. B.; SPINK, P. K. (Ed.). Reforma do Estado e administração pública gerencial Rio de Janeiro: FGV, 1998.
- RICARDO, C. Marcha para o Oeste São Paulo: José Olympio, 1942.
- SANDRONI, P. Dicionário de economia do século XXI Rio de Janeiro: Record, 1999.
- SILVA, L. O. A fronteira e outros mitos 2001. Tese (Livre-Docência) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas, 2001.
- SILVA,EL.; MENEZES,EM. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005.
- TURNER, F. J. The Significance of History. Wisconsin Journal of Education, n. 21, 1891.
- TURNER, F. J. The Frontier In American History New York: Henry Holt and Company, 1920.
- TURNER, F. J. Frontier and Section, Selected Essays of Frederick Jackson Turner Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1961.
- VARGAS, G. As Diretrizes da Nova Política do Brasil Rio de Janeiro: José Olympio, 1943.
- VELHO, O. G. Frentes de Expansão e Estrutura Agrária: um estudo do processo de penetração numa área da Transamazônica. Rio de Janeiro: Zahar , 1972.
- VELHO, O. G. Capitalismo Autoritário e Campesinato: um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. São Paulo: Difel, 1976.
- WILLIAMSON, O. E. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. New York: The Free Press, 1985.
- WILLIAMSON, O. E. The Mechanisms of Governance Oxford: Oxford University Press, 1996.
- WILLIAMSON, O. E. The new institutional economics: taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, v. 38, n. 3, p. 595-613, 2000. https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595
» https://doi.org/https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595 - MARTINS, J. S Expropriação e Violência: A questão política no campo. São Paulo: Hucitec, 1980.
-
1
O autor agradece todas as valiosas contribuições, sugestões e críticas construtivas recebidas pelos pareceristas anônimos que auxiliaram no processo de construção histórico-teórica do presente artigo.
-
2
Também chamada BR-010 ou Rodovia Engenheiro Bernardo Sayão.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
24 Jul 2023 -
Data do Fascículo
Jan-Apr 2017
Histórico
-
Recebido
19 Fev 2016 -
Aceito
09 Set 2016