Resumo Para o sociólogo Norbert Elias, a emergência do gênero literário utópico, inaugurado por Thomas More no século XVI, constitui um importante indício de transformação do mundo moderno. Desde então, as obras utópicas expressam um aumento crescente das reflexões sobre o papel do Estado. Trata-se de conceber um modelo de organização social fundamentado em princípios morais aceitos como legítimos. O pensamento de Alexander Chayanov é representativo dessas reflexões, ao idealizar uma utopia camponesa como perspectiva de mundo justo, com princípios precursores de justiça ecológica. Esse tipo de utopia anima, na contemporaneidade, escolhas e ações como aquelas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) com vistas à democratização do acesso à terra. A concepção de assentamento “Comuna da Terra”, preconizada pelo MST no estado de São Paulo, apresenta muitos pontos de afinidade com a utopia de Chayanov. O estudo de casos dessa natureza é promissor para discutir a construção de orientações transformadoras no Brasil.
Palavras-chave:
Chayanov; Norbert Elias; utopia camponesa; agroecologia; MST
Abstract For the sociologist Norbert Elias, the emergence of the utopian literary genre, initiated by Thomas More in the 16th century, constitutes an important indication of the transformation of the modern world. Since then, utopian works have expressed a growing number of reflections on the role of the State. It involves conceiving a model of social organization based on moral principles accepted as legitimate. Alexander Chayanov's thought is representative of these reflections by idealizing a peasant utopia as a perspective of a just world, with precursor principles of ecological justice. This type of utopia currently inspires choices and actions like those of the Landless Rural Workers Movement (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST) with a view to democratizing access to land. The concept of the “Comuna da Terra” settlement, advocated by the MST in the state of São Paulo, shares many points of affinity with Chayanov's utopia. Case studies of this nature is promising for discussing the construction of transformative orientations in Brazil.
1. Introdução
O pensador russo Alexandre Chayanov se situa no plano das grandes referências em termos dos estudos da agricultura camponesa e familiar. Em razão de sua vida ter se transcorrido em um período de grandes transformações, o que certamente favoreceu sua reflexão sobre a construção de um futuro mais promissor1 , sua obra apresenta instigantes ideias para conceber inovações sociais, em particular no âmbito agrário. Todavia, se a paisagem social do início do século passado ofereceu esperanças para uma reflexão utópica de mundo melhor, os riscos para os pensadores, inovadores e críticos do período, foram igualmente muito importantes.
De fato, as ideias de Chayanov não correspondiam à orientação predominante do regime de “comunismo de guerra” (Niqueux, 2023) comandado por Stalin, responsável por seu assassinato no exílio no Cazaquistão. Dessa forma, seus textos estiveram esquecidos por muito tempo, tendo sido redescobertos a partir dos anos 1960. Com efeito, uma parte de sua produção bibliográfica ainda é pouco explorada. Assim, este artigo focaliza sua “utopia camponesa”, procurando discutir em que medida ocorrem proximidades com propostas contemporâneas emergentes de alternativas agrícolas e de desenvolvimento rural sustentável, especialmente aquelas difundidas pela Via Campesina e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Com esse propósito, o artigo situa num primeiro momento a produção dos escritos utópicos de Chayanov, considerando particularmente os ensinamentos de Norbert Elias sobre as transformações das utopias, científicas e literárias, desde Thomas More. Em seguida, são apresentadas as características centrais de uma utópica sociedade camponesa, tal como concebida por Chayanov no início do século XX. Enfim, são traçados paralelos entre o pensamento desse autor russo e construções contemporâneas, visando discutir pontos de inspiração de sua concepção utópica para perspectivas de transformação das paisagens agroalimentares, expressas notadamente em noções como aquelas de agroecologia, soberania alimentar, recampesinação, multifuncionalidade da atividade agrícola, agricultura urbana e circuitos curtos agroalimentares.
2. Fundamentação teórica
2.1 A utopia segundo Norbert Elias
O sociólogo Norbert Elias é efetivamente um pensador bastante perspicaz, cuja obra abarca temas dos mais diversos. Tal como sugere Marc Joly (2012), Elias contribuiu de forma notável para decantar a turbidez em torno do conhecimento sobre a sociedade ocidental, podendo ser considerado como representante maior de um tipo ideal de excelência sociológica, apesar de seu tardio reconhecimento (Moruzzi Marques, 2014). Aliás, parte de seus textos ainda não está traduzida para o português, como é o caso daqueles dedicados à reflexão sobre a utopia (Elias, 2014). Para nossos propósitos, suas ideias sobre a inflexão que ocorre no desenvolvimento das perspectivas utópicas constituem um quadro muito interessante para situar a utopia camponesa de Chayanov. Efetivamente, o interesse de Elias pelas utopias se inscreve em sua trajetória intelectual voltada à análise sociológica de saberes, condutas e crenças compartilhados coletivamente. Dessa maneira, esse sociólogo define utopia como uma representação imaginária da sociedade, que contenha propostas de soluções para problemas não resolvidos em determinada realidade histórica e indique mudanças que os autores ou os defensores dessa construção utópica desejam ou acreditam que possam ocorrer (Elias, 2014, p. 35-36). Com essa visão, a utopia revela uma projeção cognitiva e emocional de futuro, situada no tempo e no espaço.
Norbert Elias desenvolve uma série de ideias conceituais e metodológicas muito consistente para o estudo das utopias, o que é pertinente para reconstruir concepções de problemas não resolvidos a partir do olhar daqueles que vivenciaram as dificuldades de um determinado lugar em sociedades passadas, propondo, pela via utópica, meios para sua superação. Nessa perspectiva, uma tarefa central desse tipo de pesquisa consiste em determinar o problema social humano para o qual uma utopia apresenta possibilidades de resolução, além de explicar as razões pelas quais o autor utópico concebe uma forma específica de resposta. Ademais, Elias (2014) considera que a pesquisa sobre as utopias deve identificar o público focal para o qual seu autor se dirige, procurando tratar de sua função nos processos históricos. Trata-se, assim, de estabelecer um diagnóstico o mais preciso possível das experiências sociais do autor e do público leitor visado. A forma literária escolhida para a elaboração utópica constitui um elemento de análise bastante importante para tratar de sua comunicação pública.
Com efeito, essa abordagem não considera apenas a perspectiva crítica de determinado autor em relação ao senso moral predominante em seu tempo, mas principalmente o meio pelo qual, ou os meios pelos quais, os movimentos políticos são produzidos. A utopia estabelece-se como estratégia argumentativa de valoração de determinados grupos sociais e de perspectivas de mundo justo, que, por sua vez, apresentam certo potencial de confrontação ao ordenamento social e político vigente.
Nesse sentido, o interesse de Elias (1994) pelo processo civilizatório desperta seu olhar atento ao florescimento do gênero literário das utopias, o qual adquire maior relevância em mundo com cada vez mais espaços pacificados, propícios à ampliação do horizonte do pensável. Dessa maneira, as palavras passam a possuir maior poder do que a espada, favorecendo confrontos argumentativos apoiados em concepções plurais de mundo justo: o debate público tende então a assumir centralidade nos conflitos sociais (Boltanski & Thévenot, 2020).
É importante também salientar que a utopia para Elias pode ser positiva ou negativa. Esse último polo é muito mais frequentemente tratado como distopia, tal como salienta Quentin Deluermoz (2014, p. 11). De toda maneira, essa forma de tratar as utopias se associa às suas reflexões sobre o “processo civilizador” (Elias, 1994, 1995) e às transformações das produções utópicas, constituindo elemento de compreensão das mudanças civilizacionais.
Convém então realçar que Elias considera a predominância das utopias catastróficas a partir do primeiro quarto do século passado, período em que Chayanov elabora sua obra. Anteriormente, predominavam amplamente utopias de caráter positivo, veiculando esperanças de um mundo melhor. Nesse sentido, é possível situar o autor focalizado neste artigo em período de transição, cuja concepção utópica ainda tende a perspectivas bem-aventuradas de futuro.
Em sua linha de raciocínio, Norbert Elias confere muita ênfase à obra utópica que pode ser considerada inaugural desse gênero literário, aquela de Thomas More, o qual, não por acaso, lança ideias capazes de responder ao problema relativo à função do Estado. De fato, o posterior crescimento da literatura utópica se associa estreitamente ao processo de formação dos Estados modernos. Ou seja, esse fenômeno vincula-se a uma mudança estrutural de grande envergadura, que provoca a emergência de novas experiências e implica em eclosão de inéditos problemas. Assim, a Utopia de More pode ser considerada como um sintoma do crescimento da reflexão conceitual sobre o Estado, com novos sentidos ligados às mudanças em curso.
A obra em questão foi publicada em 1516, quando More tinha 38 anos. Pensador educado no humanismo, suas leituras de textos da antiguidade e seu círculo de relações inspiraram certamente seu olhar crítico ao poder absolutista das coroas reais da sua época. Nessa idade, foi mais prudente do que quando era mais jovem, quando afrontava diretamente o poderoso rei da Inglaterra, Henrique VII (1457-1509). Aliás, essa prudência se converteu pouco a pouco em adesão à configuração de poder que criticava, tornando-se na velhice conselheiro direto de Henrique VIII (1491-1547). Diante dessa conversão, Elias considera duas etapas claramente distintas da vida de More: enquanto jovem, defendeu a tolerância religiosa e foi crítico intransigente dos reis; porém, idoso, tornou-se um rigoroso ortodoxo a serviço obediente do monarca.
É de todo modo o lado humanista que impulsiona seu olhar com perspectiva secular sobre os problemas de seu tempo. A forma desumana que grande parte de seus contemporâneos vivia não poderia ser negligenciada por esse espírito humanista. Utopia representa então uma tentativa de conceber um modelo de organização social assentado na tomada de consciência de que os seres humanos podem e devem atuar para reduzir a miséria, não como um meio de serem recompensados no além, mas por seu próprio interesse mundano. Assim, More faz parte de um primeiro grupo da história europeia que concebe uma missão de reforma do Estado e da Igreja, mesmo sem abdicar de sua fé religiosa e com uma margem de manobra extremamente reduzida para esse projeto reformista2 .
Ainda deve ser realçado outro ponto sobre a atmosfera de produção dessa utopia. Efetivamente, a publicação de uma obra crítica contra os poderosos de então poderia resultar em forte punição. More (1997), então, utiliza artifícios astutos para dissimular sua crítica, considerando que o fundo de conhecimentos de sua época constituía um obstáculo considerável para distinguir realidade e ficção. A propósito, o jogo de línguas utilizado na narração (o texto foi originalmente escrito em latim, mas a maior parte de referências, especialmente toponímicas, é em grego) serve paradoxalmente para reforçar o realismo da exposição e para indicar absurdos da narrativa (Racault, 2005; Bore, 2014). Entre esses estratagemas, os comentários e relatos críticos, potencialmente perigosos, são atribuídos a um desconhecido sábio navegador português chamado Rafael Hitlodeu, cujo nome de família é propositalmente peculiar, com intuito de deixar marcas do caráter ficcional da obra. O modelo de narração em forma de diálogo foi explorado de maneira muito hábil por More (1997), que se introduz, assim como seus amigos, nessa conversação. Outra astúcia foi apresentar a idealização de um Estado mais democrático e justo, implantado em ilha fictícia; todavia, em época de grandes descobertas marítimas (Lestringant, 2006), tal experiência poderia ser julgada como efetiva e credível. Thomas More realizou esse prodígio com grande imaginação e talento literário, o que lhe permitiu lançar suas ideias para um amplo público, muito maior caso a obra fosse um tratado filosófico sobre a forma ideal de Estado.
Até o fim do século XIX, a literatura utópica inaugurada pelo pensador inglês se alimentou dos avanços científicos e tecnológicos para apresentar perspectivas promissoras para o futuro. A partir de então, ocorreu uma profunda transformação, com H. G. Wells podendo ser considerado, como propõe Elias (2014), o autor-chave para a análise da transição. Sua obra mais importante para os propósitos deste artigo foi publicada originalmente em 1896 (Wells, 2019). Se Wells, em diversos textos, apresenta sinais de crença em possibilidades de uma sociedade melhor graças aos progressos da ciência e educação, o autor é perfeitamente consciente das ameaças que o desenvolvimento científico poderia representar para a humanidade. Segundo Elias (2014), a visão ambivalente de Wells diante da ciência anuncia a mudança do clima intelectual ao longo do século XX. A confiança até então dominante na produção científica e na racionalidade, fundada na certeza de sua contribuição para um futuro melhor, cede lugar à dúvida, à hesitação e à desilusão. A emergência das utopias pessimistas – ou das distopias ou ainda das projeções de “pesadelos”, nos termos de Elias – constitui, portanto, sintoma de uma mudança de perspectiva. As explicações para tal metamorfose são um tanto evidentes nos dias de hoje: a ciência e a racionalidade não são capazes de impedir as guerras e se tornaram até mesmo bases para a intensificação dos conflitos armados.
Outros fatores são menos perceptíveis para essa mudança de perspectiva, o que Elias (2014) se propõe igualmente a evidenciar. As representações mais realistas do mundo são frequentemente mais desagradáveis aos olhos humanos. A teoria da evolução de Darwin (2014) e a queda da concepção antropocentrista do universo provocaram traumáticas decepções emocionais. Como ressalta Elias (2014), era emocionalmente e muito satisfatório considerar a Terra e a humanidade como o centro do universo, o que oferecia muitos sentidos para a vida humana. Passar a olhar nosso planeta como um minúsculo astro do Sistema Solar, e ainda infinitamente menor em relação à Via Láctea ou ao universo observável, implica forte erosão de significados para o papel da humanidade3 .
As distopias passam a refletir então a lenta emergência desse desencantamento do mundo, provocado pelo avanço científico, o qual, ao mesmo tempo, produziu novos perigos e nos permitiu enxergar riscos até então invisíveis. A percepção sobre a ciência se transforma: deixa de ser base de uma vida melhor para se tornar fonte dos piores pesadelos. Trata-se de esperanças perdidas, agravadas por receios catastróficos sobre o futuro.
Esses temores se associam a uma condição humana deveras incapaz de controlar as consequências nefastas de processos sociais, os quais são, todavia, uma obra dos próprios seres humanos. Ainda pior, como adverte Elias, a maior parte da humanidade se encontra submersa em ambiente enigmático: mesmo utilizando tecnologia de ponta provinda das ciências da natureza, a orientação para suas práticas societárias não se vincula a uma mínima razoável noção de como ocorrem os processos sociais.
3. Metodologia
Para esta elaboração, foram mobilizados dados primários de estudos anteriores, realizados em assentamentos de reforma agrária no território paulista, organizados sob modelo de Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS), bem como uma revisão bibliográfica em profundidade. Na ocasião, a coleta desses dados ocorreu por meio da abordagem de entrevistas de história e relato de vida (Alberti, 2013; Bertaux, 1997), com o objetivo central de iluminar argumentos justificativos de ordem moral mobilizados pelos interlocutores para embasar decisões relacionadas ao engajamento na luta pela democratização do acesso à terra e em defesa da agroecologia. A abordagem nas entrevistas não foi propriamente direcionada a traçar paralelos entre os depoimentos de interlocutores assentados e a utopia camponesa chayanoviana, mas a proporcionar novas interpretações acerca das construções conceituais do mundo rural brasileiro, com um olhar notadamente voltado à agricultura familiar. Nesse sentido, o conceito de utopia elaborado por Norbert Elias revela um grande potencial para a análise de elementos históricos, especialmente aqueles que expressam concepções de um mundo justo e ideal (utopia) ou de um mundo injusto e terrível (distopia). Com efeito, os relatos de vida, coletados em outras pesquisas, podem ser reinterpretados à luz de diferentes pressupostos teóricos, oferecendo novas perspectivas ao debate sobre o mundo rural brasileiro. Trata-se, afinal, de dados coletados por meio de técnica sociológica, que oferece múltiplas possibilidades de análise.
Para além de expor algumas apropriações das perspectivas políticas e de teses acadêmicas de Chayanov pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a ideia consiste em aprofundar discussões teóricas acerca das utopias camponesas. Em particular, foi considerada a reflexão sobre a noção de utopia desenvolvida por Norbert Elias, pouco explorada na sociologia rural brasileira. Com esse ponto de partida, este texto visa contribuir com mais luzes no campo dos estudos rurais sobre a construção utópica de Chayanov.
4. Resultados e Discussão
4.1 A perspectiva utópica de Chayanov
Chayanov se tornou uma referência de primeira grandeza para os estudos contemporâneos sobre a agricultura familiar. Seu texto literário utópico reflete perspectivas de construção de uma sociedade socialista, com um protagonismo notável dos camponeses, o que é concebido a partir de suas sólidas bases teóricas sobre as dinâmicas da agricultura de base familiar. Portanto, torna-se útil aqui apresentar suas principais contribuições nesse campo, bem como o contexto de sua produção.
Economista e agrônomo, esse pensador russo possuía uma rede de relações em renomados centros europeus de pesquisa, o que lhe permitia conhecer, com grande profundidade, a realidade da agricultura europeia. Dessa maneira, Chayanov foi capaz de examinar com muita perspicácia a unidade de produção camponesa, considerando a insuficiência em abordar o campesinato a partir das categorias “salários”, “capital”, “lucro” e “renda” (Abramovay, 1998). Nessa ótica, a agricultura familiar pode ser concebida como uma forma de organização de produção, cuja característica principal seria a “ausência da mais-valia”.
De maneira diferente do que ocorre no âmbito da empresa capitalista, o rendimento alcançado pela produção familiar caracteriza-se por ausência de separação entre orçamentos produtivo e doméstico. Assim, são as necessidades dos membros da família que orientam as escolhas do agricultor. Com essas premissas, Chayanov concebe que a racionalidade camponesa se funda no balanço entre trabalho e consumo no estabelecimento familiar. Os esforços laborais (físico e mental) dos integrantes da família se articulam com o provimento familiar, com vistas a proporcionar um nível de satisfação e bem-estar considerado aceitável4 .
A energia empregada por um trabalhador numa produção agrícola familiar é estimulada pelas demandas de consumo da família e, à medida que aumentam, a taxa de autoexploração do camponês cresce em consequência. Por outro lado, o esforço laboral é inibido pela penosidade do trabalho. Quanto mais penoso, a família camponesa passa a aceitar um menor bem-estar tendo em compensação uma redução da fatiga. Frequentemente, mesmo para atingir esse nível reduzido de conforto, grandes esforços são necessários. Em outras palavras, o grau de autoexploração é estabelecido por uma relação entre a medida de satisfação da demanda familiar e a medida da carga de trabalho5 .
Por outro lado, convém destacar a importância do tema da pluriatividade familiar na obra de Chayanov. Em suas elaborações sobre a organização da atividade econômica camponesa, o autor assinala que a família, “às vezes, é obrigada a empregar parte de sua força de trabalho em atividades rurais não agrícolas”6 (Chayanov, 1974, p. 44).
Com esses estudos aprofundados sobre o campesinato, Chayanov defendeu o cooperativismo e a integração vertical na agricultura como fundamento da construção socialista na União Soviética. Apesar de considerar a pertinência de projetos de coletivização com vistas ao socialismo, o autor manifestou resistência à forma forçada como foi efetivada na URSS. Ele propunha, por sua vez, um processo de “autocoletivização”, ou seja, que a participação nas organizações cooperativas locais dos agricultores seria o meio para modernizar a atividade agrícola. Com essa organização de base, Chayanov acreditava que a incorporação de tecnologias não destruiria a essência da agricultura camponesa, pois as mudanças ocorreriam de maneira democrática.
Efetivamente, Chayanov não propunha o isolamento camponês para preservar suas tradições. De fato, aos seus olhos, o cooperativismo permitiria conceber uma nova forma de produção agrícola controlada pelos próprios agricultores, com repercussão na estruturação social. Com esse olhar, acreditava que a revolução soviética não deveria desperdiçar as energias produtivas e organizativas dos camponeses.
Nessa linha de raciocínio, a organização social deveria se fundar na formação de cooperativas independentes nas quais os agricultores familiares poderiam ter ganhos de escala graças à concentração vertical da produção. Trata-se de manter os dispersos cultivos agrícolas e as criações pecuárias na mão dos agricultores, porém com o processamento e a distribuição dos produtos sob a gestão das cooperativas. Portanto, o cooperativismo permitiria aos agricultores deter o controle das etapas de beneficiamento e comercialização. Dessa forma, a interferência do Estado poderia ser menor, canalizando maior poder para entidades locais e cooperativas. O estudo de Maria Nazareth Wanderley (2009) sobre a concepção socialista de Chayanov é bastante eloquente nesse ponto. A autora destaca a ideia segundo a qual, para o pensador russo, a “autocoletivização” representaria uma verdadeira revolução agrária, com a formação de “corpos cooperativos” capazes de promover um profundo processo de concentração vertical na agricultura. Se, na sociedade capitalista, a cooperação consiste em meio adaptativo para os pequenos agricultores conseguirem sobreviver, o cooperativismo em regime socialista constituiria a base de uma nova estrutura social, tornando-se componente central de um projeto de construção de sociedade mais igualitária.
Claramente, essas concepções serviram de base para o pensamento utópico de Chayanov, que projeta uma transformação do mundo rural e da sociedade russa de maneira a tornar os camponeses protagonistas incontornáveis de um modelo de democracia socialista. Efetivamente, a utopia chayanoviana inscreve-se no quadro de reflexão sobre o problema da superação das desigualdades sociais com a implantação de um regime socialista ou comunista.
Tal elaboração foi assinada com um pseudônimo (Kremniov, 2023), pois Chayanov antecipava problemas que essas ideias poderiam lhe causar. Como na obra utópica de Thomas More, Chayanov desenvolve sua narrativa em forma de diálogo entre Kremniov e seus anfitriões russos, 60 anos adiante de seu tempo. Com efeito, o início de sua viagem ao futuro ocorre quando o personagem central da obra se debruça sobre textos da literatura utópica russa, impulsionando sua imaginação a questionar as características do socialismo.
Tomando em conta os preceitos de Elias (2014), é muito plausível pensar que o esforço literário de Chayanov visava alcançar um público muito maior do que aquele de especialistas sobre a questão agrária e, assim, fomentar adesão a uma perspectiva política para orientar os sentidos de implantação do socialismo soviético. De todo modo, a ficção foi construída a partir da mencionada viagem ao futuro, na qual o protagonista é confundido por seus anfitriões com um visitante norte-americano, Charlie Man, desejoso de conhecer as mudanças socioeconômicas ocorridas na Rússia, especialmente no que se refere à agricultura. Em suas primeiras observações sobre Moscou de 1984, o viajante no tempo considera a cidade como um enorme parque, no interior do qual podiam ser notados conjuntos de edifícios lembrando pequenas cidades dispersas.
Em seu modelo utópico, Chayanov concebe uma solução que rompe com a profunda separação das formas de vida nas cidades e no campo. Considerando que as grandes concentrações urbanas apresentam importantes riscos para o regime democrático, Chayanov idealiza um forte esvaziamento urbano, com uma organização social sob a batuta camponesa que transforma as cidades em lugar principalmente de encontros lúdicos, esportivos, associativos e artísticos. Nessa sociedade utópica, os transportes são muito desenvolvidos, permitindo deslocamentos rápidos e frequentes entre campo e cidade. Os territórios rurais seriam muito dinâmicos, com uma forte densidade demográfica. Os povoados ofereceriam conforto, qualidade de vida e bem-estar, abrigando escolas, bibliotecas, salas de espetáculos e outros serviços públicos.
Particularmente interessante, essa utopia estimula uma reflexão sobre diferentes papeis que a atividade agrícola poderia desempenhar em regime democrático e socialista. Nesse idealizado país camponês, a agricultura absorve uma enorme quantidade de trabalho. Com efeito, Chayanov propõe uma alternativa de desenvolvimento que antecipa respostas das mais pertinentes à crise contemporânea do emprego. A agricultura de qualidade, de forma bem específica em relação a outras atividades humanas, exige cuidados intensos e grande criatividade para oferecer diversidade de produtos e alimentos saudáveis. Ao mesmo tempo, este trabalho agrícola satisfaz uma missão de preservação ambiental. Portanto, Chayanov concebe claramente um projeto agroecológico avant la lettre. Como sugere Jean Viard (2023), em sua leitura contemporânea, a utopia chayanoviana toma novo sentido, aquele ecológico. Trata-se de uma sociedade na natureza, com pouco consumo, mas com muitas viagens e encontros, ligando o campo com o coração das cidades.
Nos dias de hoje, a agroecologia é considerada por seus defensores como fundamento para o desenho de estratégias de desenvolvimento rural sustentável. Guzmán (2001) aborda este último a partir de suas características endógenas, propondo que sua construção deva se alicerçar no conhecimento local, o que seria essencial para processos de transição agroecológica.
Contra o modo industrial de uso dos recursos naturais, que se constitui mecanismo homogeneizador hostil com as formas de interação social nas comunidades rurais, o desenvolvimento endógeno mobiliza elementos de resistência específicos de cada identidade local. Com essa ótica, a agroecologia ofereceria meios para articular formas de ação social coletiva que possuam potencial endógeno transformador. Assim, a criação e reavaliação de tecnologias autóctones seriam favorecidas, articuladas com tecnologias externas que, mediante o ensaio e a adaptação, possam ser incorporadas ao acervo cultural dos saberes e ao sistema de valores próprios de cada comunidade. Portanto, essas ideias coadunam-se muito com a perspectiva utópica de Chayanov de desenvolvimento sob protagonismo camponês.
Com efeito, a concepção de agroecologia de Guzmán (2001) se refere a atividades muito além daquelas agrícolas. Assim, o manejo dos recursos naturais a partir da agricultura, pecuária e silvicultura constituiria um elemento inicial de estratégias de desenvolvimento de territórios rurais, oferecendo posteriormente potencialidades e oportunidades para implantação de atividades econômicas e socioculturais que possam contribuir de forma ecológica para fornecer meios de vida capazes de promover a melhoria do bem-estar da população local. Desse ponto de vista, a pluriatividade dos agricultores constituiria uma forma pertinente para promover práticas ecológicas e econômicas sustentáveis, o que poderia ser exemplificado com turismo rural ou processamento de alimentos, além de serviços ambientais, especialmente graças a estruturas associativas que possam reforçar laços de solidariedade.
O autor insiste também na ideia segundo a qual os protagonistas das mudanças devem ser os próprios habitantes das localidades, mantendo a gestão e o controle dos elementos-chave do processo. Nessa linha de pensamento, os mercados locais são privilegiados, formando circuitos curtos agroalimentares. É a partir do local que deveria ocorrer a integração em mercados fundados em circuitos mais longos, o que poderia então fomentar perspectivas de natureza ecológica e solidária.
Essa visão de Guzmán de desenvolvimento endógeno se assenta em uma concepção de construção social recriadora da heterogeneidade em meio rural, de maneira a adaptar elementos exteriores visando à sua assimilação à identidade local, com aspiração de que esses ajustes das inovações externas à matriz cultural da localidade possam gerar tecnologias específicas adequadas a determinado território. A propósito, Bernard Pecqueur (2006) considera “processos de especificações” como centrais para o desenvolvimento territorial, o que dialoga estreitamente com essas ideias de Guzmán com foco no endógeno. Em ambas as abordagens, a mobilização das forças sociais internas à comunidade local constitui trunfo essencial para que se estabeleçam ações em prol de um desenvolvimento com fortes especificidades locais, o que constitui concepção muito favorável a modelos agroecológicos.
Como se sustenta aqui, a utopia chayanoviana antecipa tais perspectivas agroecológicas. Segundo o autor russo, na unidade de produção camponesa, base de seu utópico sistema socioeconômico, o trabalho agrícola criativo engendraria novas formas de existência, transformando cada trabalhador em criador artístico, pois cada manifestação de individualidade na agricultura representaria uma arte do labor. Nesse quadro conceitual, a vida no campo ofereceria inúmeras oportunidades e seria muito saudável, promovendo grande diversidade de formas de existência.
Aliás, em artigo cujo título destaca a redescoberta de Chayanov, Guzmán (1990) aponta para três elementos-chave da proposta teórica chayanoviana: as cooperativas agropecuárias, a cooperação vertical e os “ótimos diferenciais”. Esse último ponto trata da combinação das estruturas socioeconômicas, das formas peculiares de exploração agrícola e das tecnologias adaptadas aos modos locais de conhecimentos para se alcançar vantagens produtivas e sociais. Ou seja, Guzmán estima que o olhar agronômico de Chayanov articula conhecimento científico-tecnológico ao saber campesino, dotando de envergadura intelectual as ações criativas espontâneas locais. Dessa forma, esse estudioso da agroecologia considera o pensamento chayanoviano capaz de responder a problemas contemporâneos, visando à construção de uma “produção agropecuária moderna”, especialmente em termos de uso dos recursos naturais com preocupações ecológicas.
No que se refere às estruturas de poder democrático na sua concepção de sociedade futura, Chayanov projeta a ampla e difusa constituição de agrupamentos classistas camponeses, que seriam representados nos órgãos centrais de poder, oferecendo forças para a consolidação de seu utópico regime sociopolítico. A pujança desse poder camponês estaria vinculada a uma base social motivada por princípios seculares de economia camponesa, mas aberta às renovações de valores culturais que possam representar a dinamização permanente das atividades humanas no campo. Assim, trata-se de reforçar o excepcional ânimo de resistência passiva dos camponeses para que possa se transformar em força propulsora de mudanças sociais progressistas profundas.
Na ficção futurista de Chayanov, a saudável vida no campo, com múltiplas potencialidades, teria sido reconhecida nessa sociedade utópica, permitindo a vitória do projeto camponês sobre aquele da agricultura industrial, “fábrica de pão e carne”. Esta produção industrializada constituiria uma máquina movida pela energia da cobiça humana, de um lado, e pela fome, de outro. O desafio do projeto camponês de superar esse modelo industrial produtivista teria sido ao mesmo tempo a integração de estímulos à economia privada e lançamentos de medidas para democratizar a renda, evitando sua desigual repartição. Bloqueando a formação de grandes fortunas, a renda seria melhor distribuída. Todavia, Chayanov aponta em sua construção utópica para o problema de uma formação insuficiente de capital para investimentos importantes. Assim, concebe dispositivos nessa sociedade do futuro para a formação de “capitais sociais e especiais”. De um lado, esse papel seria atribuído às cooperativas camponesas e, de outro, a inventores criativos, que receberiam generosos recursos públicos para poderem investir em campos estratégicos e inovadores associados aos seus inventos.
Nessa narrativa de um futuro próspero, o regime camponês teria sido assegurado graças à concepção de respostas para dois problemas considerados fundamentais: aquele da economia, com o desenvolvimento de um sistema econômico nacional apoiado na unidade camponesa com papel diretivo, e aquele sociocultural, com a forte coesão de organizações sociais representativas das massas sociais. Com essas soluções imaginativas, o acesso às formas mais diversas e elevadas de vida social, a partir de atividades agroalimentares em meio rural, favoreceria o florescimento de grande progresso cultural.
Um aspecto marcante dessa construção utópica é o caráter profundamente democrático da idealizada sociedade camponesa: “cada projeto, cada esforço criativo, deve ter a possibilidade de competir com os ideais camponeses” (Kremniov, 2023, p. 165-166). Dessa maneira, a ambição do projeto camponês consistiria em conquistar o mundo com a pujança das perspectivas organizativas camponesas, sem destruir os pensamentos divergentes.
Para edificar essa sociedade guardiã do interesse geral, Chayanov sugere que o critério final das escolhas públicas se assentaria no aprofundamento do conteúdo da vida, visando favorecer a plenitude das personalidades humanas. Com esse intento, o progresso social se fundaria em estímulos para que as pessoas se alimentassem de fontes originais de cultura. Tal sociedade utópica camponesa seria herdeira daquela socialista soviética, abandonando seu padrão autoritário, especialmente com o desenvolvimento de elementos de gestão democrática dos empreendimentos cooperativos. Dessa forma, Chayanov leva o personagem protagonista desse seu país utópico a definir tal regime como aquele de sovietes camponeses.
Nesse ponto, o artigo de Biagio d’Angelo (2021) sobre as idealizações de Chayanov é igualmente muito útil para situar sua utopia, especialmente em relação às produções utópicas russas do século XIX e XX. Em seu estudo, é realçada a influência romântica nos escritos utópicos russos do século XIX, com diferentes graus de valorização do passado, do retorno a uma vida mais próxima da natureza, da liberdade individual e do nacionalismo. Nesse período, a obra utópica de Nikolai Tchernichevski pode ser considerada central, por ter inspirado pensadores-chave dos movimentos revolucionários do início do século passado na Rússia, especialmente Lenin, o qual batiza um de seus principais ensaios políticos com o título do livro mais conhecido do autor em questão, O que fazer? (Tchernichevski, 2020).
Em consequência, d’Angelo estima que a revolução bolchevique concorreu para uma simbiose entre a utopia literária e a sua realização. A Rússia soviética seria a encarnação de um país no qual o sonho igualitário poderia se concretizar. Porém, o otimismo utópico logo cederia lugar ao pessimismo antiutópico. Como mencionado anteriormente, a partir da interpretação de Norbert Elias, a obra de Chayanov pode ser inserida em período de transição, nesse caso no contexto russo. Como muito bem observa d’Angelo, os últimos capítulos do texto utópico em questão mudam de tom, pois Kremniov é preso e passa a pairar o espectro da distopia. A aspiração utópica é então substituída na obra por indícios de pesadelo, que se concretiza efetivamente com a prisão e o fuzilamento de Chayanov.
4.2 Utopia camponesa e agroecologia enquanto base de concepção de projetos contemporâneos de transformação social
A perspectiva do desenvolvimento sustentável, particularmente aquela associada à agroecologia, favorece a construção, na contemporaneidade, de novos referenciais orientadores da política pública agroalimentar (Muller, 2003; Grisa & Schneider, 2014; Moruzzi Marques & Dória, 2021). Com efeito, a utopia chayanoviana como alternativa ao modelo industrial produtivista pode ser considerada como precursora7 de muitas ideias que são desenvolvidas nos dias de hoje com vistas a lidar com justiça ecológica os problemas agroalimentares (Blanc & Moruzzi Marques, 2022; Retière & Moruzzi Marques, 2019; Moruzzi Marques et al., 2021).
O reconhecimento recente da agroecologia ̶ capaz de se contrapor ao modelo da revolução verde a partir de denúncias de seus limites técnicos, econômicos e sociais ̶ tornam-na um efervescente campo de produção de ideias. Nos anos 1980 e 1990, pesquisadores expoentes como Miguel Altieri (1987) e Stephen Gliessman (2014), além de Eduardo Sevilla Guzmán (2001), anteriormente mencionado, levantaram questionamentos sobre o “domínio de validade” dos conceitos e pressupostos das ciências agronômicas, propondo abordagens sistêmicas visando à construção de agriculturas mais sustentáveis. Para esses autores, a agroecologia se situa no primeiro plano das alternativas agroalimentares, mobilizadas em campos de debate sobre justiça ambiental, soberania alimentar ou multifuncionalidade da agricultura. Nessa linha de pensamento, trata-se de uma abordagem conceitual muito além do que um conjunto de técnicas agrícolas e, como proposto anteriormente, nutre-se de perspectivas integradas no pensamento chayanoviano.
Nesta parte final, a análise da evolução das orientações estratégicas do MST permite realçar a dimensão crescente do reconhecimento da agroecologia. O artigo de Borsatto & Simões do Carmo (2013) constitui consistente referência para discutir as influências teóricas dos modelos produtivos propostos para os assentamentos rurais por parte do MST. Desde seu nascimento até meados dos anos 1990, são os propósitos de Marx, Lênin e Kaustky, tomados de maneira muito ortodoxa, que levam o movimento a adotar um modelo radical de produção coletivizada, fomentando a instalação de cooperativas de produção agropecuárias (CPA) nos assentamentos. A intenção consistia em torná-las base de uma produção em larga escala, com utilização intensa de agroquímicos, para obtenção de produtos indiferenciados destinados à comercialização em circuitos longos. Essas estruturas coletivas deveriam ser alicerce para a implantação do socialismo, segundo a “teoria de organização do campo”, com a “desejável” eliminação do “comportamento ideológico camponês”8 , ou seja, uma suposta postura individualista.
As críticas internas direcionadas a esse modelo, indiferente às particularidades de cada assentamento e fundado em forte dependência do mercado, reforçadas pelo rápido insucesso das CPA, fortaleceram propostas alternativas que se multiplicam desde 2000, quando ocorreu o IV Congresso Nacional do MST. Essa tendência é paralela à adesão à Via Campesina, o que representou a ampliação da rede de relacionamentos internacionais do MST. A Via Campesina propaga em particular a defesa da soberania alimentar, associada a uma orientação agroecológica para combate ao produtivismo agroalimentar. Com efeito, esse projeto camponês se alimenta em importante medida do referencial teórico de Chayanov, permitindo pensar em suas influências utópicas de sociedade socialista.
Nesse ponto, é pertinente apresentar a concepção de “Comuna da Terra” como um fruto da reorientação agroecológica do MST no estado de São Paulo (SP), pois apresenta muitos pontos de afinidade com a perspectiva utópica focalizada. Em primeiro lugar, trata-se de uma forma de “relocalizar” a agricultura para mais próxima dos consumidores, a partir de sua integração aos espaços urbanos. Efetivamente, essa proposta é concebida em grande medida para permitir atrair famílias em situação de precariedade nas periferias de grandes cidades em estado muito urbanizado. Assim, a intenção é assegurar acesso facilitado a serviços públicos e infraestrutura das metrópoles por parte dos assentados, ao mesmo tempo em que favorece a constituição de circuitos curtos de proximidade, ampliando a interação entre produtor e consumidor. Ainda são centrais nessa concepção de assentamento o cooperativismo e, evidentemente, a agroecologia (Goldfarb, 2006).
O caso do assentamento Milton Santos, situado parte em Americana, SP, e parte em Cosmópolis, SP, é ilustrativo dos impactos da implantação de um projeto dessa natureza. O início de sua instalação, sob moldes da “Comuna da Terra”, ocorreu em fins de 2005. Com apoio de diversas organizações, muitas famílias engajadas no MST, em busca de melhores condições de vida e de segurança, ocuparam área susceptível de destinação para a reforma agrária. Com a intervenção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), houve a concretização do projeto. Então, o assentamento foi enquadrado na modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS).
Situado em região periurbana marcada por vastos canaviais, o assentamento pode ser visto como um oásis de diversidade de atividades agrícolas e para-agrícolas em um deserto de monocultura. O mosaico de sua paisagem contribui com a melhora da qualidade de vida em relação ao que as famílias assentadas conheciam anteriormente, o que é uma visão compartilhada no local. A defesa dessa iniciativa periurbana de reforma agrária é frequentemente relacionada à intenção de promover um desenvolvimento territorial sustentável inclusivo, fundado em atividades agroalimentares nas proximidades de aglomerações urbanas (Moruzzi Marques et al., 2014, 2017).
Assim, os assentados, que inicialmente podiam ser vistos como oportunistas e usurpadores, passam a ser reconhecidos especialmente pelo fornecimento de alimentos de qualidade à população urbana, sobretudo àquela em situação de insegurança alimentar. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi muito importante para alicerçar a produção de alimentos pelas famílias assentadas, tendo sido por muito tempo o principal dispositivo para a comercialização dos produtos locais (Moruzzi Marques, 2022). Mesmo que muitos assentados trabalhem em áreas centrais da cidade para obter renda, o desejo da maior parte dos entrevistados em nossas pesquisas é de poder consolidar uma pluralidade de atividades no próprio assentamento para assegurar o sustento da família.
Como salientado, o assentamento propiciou melhora na qualidade de vida das famílias, graças notadamente ao acesso a uma alimentação mais saudável e à edificação de moradia própria. Essas conquistas oferecem uma forte sensação de segurança, como também é destacado por interlocutores locais.
As dificuldades crescentes de acesso ao PAA, em razão de cortes orçamentários, reforçam uma iniciativa das mais importantes visando conferir maior visibilidade à escolha pela produção agroecológica no assentamento. Trata-se da constituição, desde 2014, de Organizações de Controle Social (OCS), permitindo o reconhecimento orgânico dos produtos dos assentados (Moruzzi Marques et al., 2017). Essas OCS situam-se na base fundacional de uma cooperativa local, a Cooperflora, que desenvolve principalmente iniciativas inovadoras de economia solidária, especialmente a distribuição de cestas de produtos alimentares orgânicos junto a grupos de consumo solidário nos arredores (Pinto & Moruzzi Marques, 2019).
Em contexto similar de iniciativa vinculada ao MST, o assentamento Mário Lago, localizado em Ribeirão Preto, SP, também apresenta resultados interessantes como proposta de modelo “Comuna da Terra”, especialmente em termos de emprego de alternativas agroecológicas para “desenvolvimento sustentável” do território. Foi por meio da mobilização de críticas e argumentações de ordem ecológica que ocorreu a desapropriação da então Fazenda da Barra sob a justificativa de “defesa do meio ambiente”.
Assim como em Americana e Cosmópolis, a agricultura moderna, produtivista e industrial também predomina na paisagem rural de Ribeirão Preto, produzindo a imagem de um grande “deserto verde”. Entre 1962 e 2000, o município apresentou uma perda de 70,09% da vegetação natural, sendo o agronegócio sucroalcooleiro o principal responsável desse desmatamento (Henriques, 2003). O avanço da cana-de-açúcar ocorreu principalmente na Zona Leste do município, onde se encontram áreas de afloramento do Aquífero Guarani (Ibidem). Fruto desse processo de expansão dos canaviais, a então Fazenda da Barra, situada nas margens do Rio Pardo (Zona Leste), foi repetidamente autuada entre 1990 e 2000 por crimes ambientais. Esse histórico de infrações foi então utilizado, em 2003, como prova do não cumprimento da função social da propriedade rural, como previsto na Constituição de 1988, especialmente no que diz respeito ao seu pilar de requisitos ambientais (Alves & Ferreira, 2024).
Como outras experiências de “Comuna da Terra”, o assentamento Mário Lago é categorizado como PDS pelo Incra, com vistas a proporcionar qualidade socioambiental. A partir de 2009, foram realizadas diversas iniciativas voltadas para restauração das Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva legal (RL) por meio de técnicas de manejo agroflorestal. Ao desfraldar a bandeira agroecológica como uma de suas principais causas, o MST em Ribeirão Preto se tornou um protagonista importante nos debates políticos regionais sobre sustentabilidade, especialmente no que diz respeito à alimentação saudável e à proteção dos recursos hídricos (Alves & Ferreira, 2024; Alves & Fest, 2023). Assim, a proposta agroecológica em áreas periurbanas se revelou não apenas uma estratégia argumentativa legitimadora de um modelo de produção alternativo, mas também criou novas possibilidades para o engajamento político de atores urbanos em prol da reforma agrária (Alves & Ferreira, 2024).
Essas características permitem concordar com a interpretação de Yamila Goldfarb (2006) segundo a qual as iniciativas de “Comuna da Terra” se caracterizam por processos contemporâneos de recampesinação. Essa noção também é empregada por Jan Douwe van der Ploeg (2008, 2016) em sua análise de resistências de muitos setores da população com atividades agrícolas a partir de mecanismos que ofereçam mais visibilidade e valorização para produções sustentáveis, favorecendo o engajamento de consumidores urbanos em favor de uma causa camponesa. Aliás, essa recampesinação, que apresenta paralelos com o neorruralismo (Retière & Moruzzi Marques, 2019), ocorre no Brasil graças fundamentalmente às ações dos movimentos que reivindicam a democratização do acesso à terra. Como sugere Angela Damasceno Ferreira (2002), esse movimento de retorno ao campo existe no Brasil em razão muito especialmente do MST, que fornece perspectivas de transformar o rural em “território do futuro”, oferece respostas pertinentes para a superação das crises contemporâneas. A recampesinação, tornando o rural um “território do futuro”, seria uma encarnação da utopia camponesa de Chayanov, representando geração de ocupações que possam estar associados a outros sentidos de qualidade de vida, com alimentação, moradia e trabalho, saudáveis e criativos, fornecendo muita satisfação pessoal em ambiente radicalmente justo e democrático.
5. Conclusões
A obra de Chayanov situa-se no primeiro plano para estudos das unidades de produção familiar, tendo sido capaz de influenciar análises de diferentes disciplinas científicas voltadas para a reflexão sobre o rural e a agricultura. Seu reconhecimento nos dias de hoje é incontestável. Assim, o conhecimento aprofundado de seu trabalho, apesar de bem situado no tempo e no espaço (Sacco dos Anjos, 2003), constitui um exercício intelectual susceptível de iluminar elementos pertinentes para a concepção de ações promissoras para um desenvolvimento ancorado na perspectiva de um futuro inclusivo e ecológico.
No caso de sua utopia camponesa, trata-se de uma perspectiva otimista, na medida em que concebe uma alternativa democrática para o estabelecimento do socialismo soviético, mesmo que sua obra futurista contenha indícios de distopia, típica de nosso tempo, como indica Norbert Elias. A estrutura de seu modelo socioeconômico se contrapõe ao desenvolvimento industrial observável no campo e na cidade, fundado em razão instrumental que transforma a maior parte dos seres humanos em peças para o funcionamento da máquina produtiva. Ou seja, Chayanov apresenta com sua visão utópica um projeto civilizacional no qual a vida no campo possa oferecer múltiplas oportunidades de satisfação humana, favorecendo, com essa ótica, justificativas para conservação dos bens naturais. Em outros termos, apresenta uma racionalidade ambiental (Leff, 2012) como horizonte para orientar as escolhas humanas com vistas à edificação de um mundo justo e democrático.
Enfim, sua utopia camponesa, fundada em seus sólidos conhecimentos sobre a realidade rural de seu tempo, tem potencial para alimentar projetos contemporâneos de transformação social, com foco na ruralidade e na atividade agrícola. Portanto, a reflexão sobre agroecologia, circuitos curtos alimentares, multifuncionalidade da agricultura e soberania alimentar tem, no pensamento utópico de mundo justo chayanoviano, uma peça literária das mais estimulantes. Nessa utopia, a sociedade camponesa do futuro seria a melhor configuração para a constituição do socialismo, com a institucionalização de uma democracia de alta intensidade, com efervescente participação social, graças a um pujante cooperativismo de base.
Agradecimentos
Agradecimento ao apoio recebido do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O presente trabalho foi também realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), código de financiamento 001.
-
1
A propósito, van der Ploeg (2016) sugere que a genialidade de Chayanov não deixa de ser produto de circunstâncias históricas de transição social.
-
2
É importante ressaltar que, apesar das semelhanças com sentimentos morais contemporâneos, ao menos em alguns aspectos, a perspectiva de justiça eternizada em Utopia deve ser estudada tendo em conta seu muito limitado “potencial de realização”. Ou seja, Elias (2014) recomenda muita atenção aos processos históricos do específico contexto sociopolítico no qual a obra em questão foi produzida.
-
3
Por outro lado, é importante também ter em conta a reação de forças conservadoras que, quase simultaneamente, produziram novas formas de diferenciação e qualificação do humano moderno em relação aos outros seres vivos. Mesmo Darwin (2002) em A origem do homem e a seleção sexual, uma década após a publicação de A origem das espécies, buscou esclarecer “possíveis equívocos” com relação à teoria da seleção natural aplicada à espécie humana. Nessa última obra, Darwin reavalia sua teoria para propor uma singularidade do Homo sapiens diante da seleção natural, sendo considerado um de seus textos mais controversos.
-
4
Como apontam Patrícia Schneider Severo e Flávio Sacco dos Anjos (Schneider Severo & Sacco dos Anjos, 2022), na obra de Chayanov, essa lógica familiar não impede que, em determinadas etapas do ciclo produtivo, haja recrutamento de mão de obra externa para assegurar a provisão das necessidades do grupo doméstico.
-
5
Nossa tradução de: “The energy developed by a worker on a family farm is stimulated by the family consumer demands, and as they increase, the rate of self-exploitation of peasant labor is forced up. On the other hand, energy expenditure is inhibited by the drudgery of the labor itself. The harder the labor is, compared with its pay, the lower the level of well-being at which the peasant family ceases to work, although frequently to achieve even this reduced level it has to make great exertions. In other words, we can state positively that the degree of self-exploitation of labor is established by some relationship between the measure of demand satisfaction and the measure of the burden of labor” (Chayanov, 1966, p. 81).
-
6
Nossa tradução da última parte do seguinte parágrafo: “Nuestra tarea es el análisis de la organización de la actividad económica de la familia campesina, una familia que no contrata fuerza de trabajo exterior, que tiene una cierta extensión de tierra disponible, sus propios medios de producción y que a veces se ve obligada a emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios rurales no agrícolas” (Chayanov, 1974, p. 44).
-
7
Contemporâneos de Chayanov, Mokiti Okada (1882-1955), Rudolf Steiner (1861-1925) e Albert Howard (1873-1947) podem ser também considerados pioneiros da agroecologia (Blanc & Moruzzi Marques, 2022), cada qual desenvolvendo seus modelos de agricultura ecológica, de toda evidência, de maneira bastante independente.
-
8
Esta perspectiva, em seu formato mais radical, é representada pelas medidas de Josef Stalin visando eliminar a agricultura camponesa por considerá-la obstáculo ao avanço socialista. Assim, liderou ações autoritárias no sentido da “coletivização forçada”.
-
Como citar: Moruzzi Marques, P. E., & Alves, J. C. Q. (2025). A utopia camponesa de Chayanov e perspectivas contemporâneas de uma sociedade mais justa e ecológica. Revista de Economia e Sociologia Rural, 63, e289198. https://doi.org/10.1590/1806-9479.2025.289198pt
-
Suporte financeiro:
PQ-CNPq e PrInt/USP-Capes.
-
Aprovação do conselho de ética:
Não se aplica.
-
Disponibilidade de dados:
Os dados da pesquisa não estão disponíveis.
-
JEL Classification: Z1, Z19.
Referências
-
Abramovay, R. (1998). O admirável mundo novo de Alexander Chayanov. Estudos Avançados, 12(32), 69-74. http://doi.org/10.1590/S0103-40141998000100006
» http://doi.org/10.1590/S0103-40141998000100006 - Alberti, V. (2013). Manual de história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV.
- Altieri, M. A. (1987). Agroecology: the scientific basis of alternative agriculture Boulder: Westview.
- Alves, J. C. Q., & Ferreira, L. C. (2024). Climate emergency and transformation of rural areas: eruption of ecological critiques and justifications in social conflicts in the São Paulo countryside. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 63, 23-47.
- Alves, J. C. Q., & Fest, G. A. L. (2023). Metamorfose do campo: um estudo de caso sobre três assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no estado de São Paulo. In L. C. Ferreira, & F. B. Seleguim (Eds.), A emergência climática: governança multinível e multiatores no contexto brasileiro. Curitiba: Editora CRV.
- Bertaux, D. (1997). Les récits de vie. Paris: Nathan.
-
Blanc, J., & Moruzzi Marques, P. E. (2022). A Agricultura Natural de Mokiti Okada: uma experimentação moral e política como fonte de inovação de ordem ecológica. Estudos Sociedade e Agricultura, 30(1), e2230104. http://doi.org/10.36920/esa-v30n1-4
» http://doi.org/10.36920/esa-v30n1-4 - Boltanski, L., & Thévenot, L. (2020). A justificação: sobre as economias da grandeza. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
-
Bore, I. (2014). Thomas More et l’utilisation du paradoxe comme discours de la méthode. Revue Littératures, Histoire des Idées, Images, Sociétés du Monde Anglophone, 12(5), 1-15. http://doi.org/10.4000/lisa.6273
» http://doi.org/10.4000/lisa.6273 -
Borsatto, R. S., & Simões do Carmo, M. S. (2013). A construção do discurso agroecológico no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Revista de Economia e Sociologia Rural, 51(4), 645-660. http://doi.org/10.1590/S0103-20032013000400002
» http://doi.org/10.1590/S0103-20032013000400002 - Chayanov, A. V. (1966). The theory of peasant economy. Homewood: The American Economic Association.
- Chayanov, A. V. (1974). La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- d’Angelo, B. (2021). Viagem de meu irmão Alexis na terra da utopia camponesa (1920): Aleksander Tchaiánov e as raízes da utopia na literatura russa do século XX. Revista Alere, 24(2), 91-112.
- Darwin, C. (2002). A origem do homem e a seleção sexual. São Paulo: Hemus.
- Darwin, C. (2014). A origem das espécies. São Paulo: Martin Claret.
- Deluermoz, Q. (2014). Les utopies d’Elias: la longue durée et le possible. In N. Elias (Ed.), L’utopie Paris: La Découverte.
- Elias, N. (1994). O processo civilizador: formação do estado e civilização (Vol. 2). São Paulo: Jorge Zahar.
- Elias, N. (1995). O processo civilizador: uma história dos costumes (Vol. 1). São Paulo: Jorge Zahar.
- Elias, N. (2014). L’utopie. Paris: La Découverte.
- Ferreira, Â. D. D. (2002). Processos e sentidos sociais do rural na contemporaneidade: indagações sobre algumas especificidades brasileiras. Estudos Sociedade e Agricultura, 10(1), 28-46.
-
Gliessman, S. R. (2014). Agroecology: the ecology of sustainable food systems Atlanta: CRC Press. http://doi.org/10.1201/b17881
» http://doi.org/10.1201/b17881 -
Goldfarb, Y. (2006). Do campo à cidade, da cidade ao campo: o projeto comunas da terra e a questão dos sujeitos da reforma agrária. Agrária, 5(5), 109-138. http://doi.org/10.11606/issn.1808-1150.v0i5p109-138
» http://doi.org/10.11606/issn.1808-1150.v0i5p109-138 -
Grisa, C., & Schneider, S. (2014). Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, 52(Supl. 1), 125-146. http://doi.org/10.1590/S0103-20032014000600007
» http://doi.org/10.1590/S0103-20032014000600007 - Guzmán, E. S. (1990). Redescubriendo a Chayanov: hacia un neopopulismo ecológico. Agricultura y Sociedad, 55, 201-237.
- Guzmán, E. S. (2001). Uma estratégia de sustentabilidade a partir da agroecologia. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, 2(1), 35-45.
-
Henriques, O. K. (2003). Caracterização da vegetação natural em Ribeirão Preto/SP: bases para conservação (Tese de doutorado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. http://doi.org/10.5380/dma.v63i0.88012
» http://doi.org/10.5380/dma.v63i0.88012 - Joly, M. (2012). Devenir Norbert Elias. Paris: Fayard.
- Kremniov, Y. (2023). Le voyage de mon frère Alexis au pays de l’utopie paysanne. La Tour d’Aigues: L’Aube.
- Leff, E. (2012). Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder (9ª ed.). Petrópolis: Vozes.
- Lestringant, F. (2006). O impacto das descobertas geográficas na concepção política e social da utopia. Morus Utopia e Renascimento, 3(3), 155-173.
-
More, T. (1997). A utopia. Porto Alegre: L&PM Pocket. http://doi.org/10.7326/0003-4819-127-11-199712010-00005
» http://doi.org/10.7326/0003-4819-127-11-199712010-00005 -
Moruzzi Marques, P. E. (2014). Reconhecimento de excelência nas Ciências Sociais: a trajetória de Norbert Elias em foco. Revista de Estudios Sociales, 19(36), 269-274. Recuperado em 7 de agosto de 2024, de https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/6686
» https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/6686 - Moruzzi Marques, P. E. (2022). Referências emergentes de sustentabilidade para a ação pública agroalimentar: um estudo do Programa de Aquisição de Alimentos no estado de São Paulo. In R. A. L. Camargo, R. S. Borsatto, & V. F. Souza Esquerdo (Eds.), Agricultura familiar e políticas públicas no estado de São Paulo. São Carlos: EdUFSCar.
-
Moruzzi Marques, P. E., & Dória, N. G. (2021). A integração da noção de soberania na concepção predominante de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas, 41(2), 246-261. http://doi.org/10.37370/raizes.2021.v41.719
» http://doi.org/10.37370/raizes.2021.v41.719 -
Moruzzi Marques, P. E., De Gaspari, L. C., & Almeida, B. (2017). Organização de Controle Social (OCS) e engajamento agroecológico das famílias do assentamento Milton Santos no estado de São Paulo. Estudos Sociedade e Agricultura, 25(3), 545-560. http://doi.org/10.36920/esa-v25n3-4
» http://doi.org/10.36920/esa-v25n3-4 -
Moruzzi Marques, P. E., Le Bel, P.-M., Leão, V. O. P. S., & Curan, R. M. (2021). Justiça ecológica como bússola para ações em favor da agricultura urbana e periurbana. Revista de Economia e Sociologia Rural, 59(4), e239176. http://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.239176
» http://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.239176 - Moruzzi Marques, P. E., Lucas, A., & Gaspari, L. C. (2014). Desenvolvimento territorial em questão: estudo sobre assentamento periurbano no estado de São Paulo. Revista Retratos de Assentamentos, 17(1), 161-178.
- Muller, P. (2003). Les politiques publiques. Paris: PUF.
- Niqueux, M. (2023). Postface dans laquelle le lecteur curieux trouvera quelques points de repère sur l’utopie de Kremniov, son époque et son véritable auteur. In Y. Kremniov (Ed.), Le voyage de mon frère Alexis au pays de l’utopie paysanne. La Tour d’Aigues: L’Aube.
-
Pecqueur, B. (2006). O desenvolvimento territorial: uma nova abordagem dos processos de desenvolvimento para as economias do Sul. Raízes, 24(1-2), 10-22. http://doi.org/10.37370/raizes.2005.v24.243
» http://doi.org/10.37370/raizes.2005.v24.243 -
Pinto, S. M., & Moruzzi Marques, P. E. (2019). Redução do apoio público aos assentamentos: análise de uma resposta fundada em consumo solidário no assentamento Milton Santos. Retratos de Assentamentos, 22(2), 131-146. http://doi.org/10.25059/2527-2594/retratosdeassentamentos/2019.v22i2.373
» http://doi.org/10.25059/2527-2594/retratosdeassentamentos/2019.v22i2.373 - Racault, J.-M. (2005). La question des langues dans L’Utopie de Thomas More. Travaux & Documents, (23), hal-02162041.
-
Retière, M., & Moruzzi Marques, P. E. (2019). A justiça ecológica em processos de reconfiguração do rural: estudo de casos de neorrurais no estado de São Paulo. Revista de Economia e Sociologia Rural, 57(3), 490-503. http://doi.org/10.1590/1806-9479.2019.184109
» http://doi.org/10.1590/1806-9479.2019.184109 - Sacco dos Anjos, F. (2003). Agricultura familiar, pluriatividade e desenvolvimento rural no Sul do Brasil. Pelotas: Egufpel.
- Schneider Severo, P., & Sacco dos Anjos, F. (2022). Clandestinos, invisibles y esenciales: zafreros rurales en el Brasil meridional. Revista Mexicana de Sociologia, 84(3), 539-566.
- Tchernichevski, N. (2020). O que fazer? São Paulo: Expressão Popular.
- van der Ploeg, J. D. (2008). Camponeses e impérios alimentares, lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: Editora da UFRGS.
- van der Ploeg, J. D. (2016). Camponeses e a arte da agricultura. Porto Alegre: Editora da UFRGS; São Paulo: Editora da UNESP.
- Viard, J. (2023). Préface. In Y. Kremniov (Ed.), Le voyage de mon frère Alexis au pays de l’utopie paysanne. La Tour d’Aigues: L’Aube.
- Wanderley, M. N. B. (2009). O mundo rural como espaço de vida (Série Estudos Rurais). Porto Alegre: UFRGS.
- Wells, H. G. (2019). A ilha do dr. Moreau. Porto Alegre: L&PM.
Os dados da pesquisa não estão disponíveis.
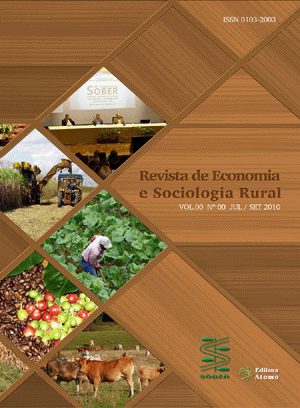
 A utopia camponesa de Chayanov e perspectivas contemporâneas de uma sociedade mais justa e ecológica
A utopia camponesa de Chayanov e perspectivas contemporâneas de uma sociedade mais justa e ecológica
