Resumo
O presente ensaio tem como objetivo revisitar o conceito de gênero a partir da crítica feminista lésbica ao feminismo hegemônico da chamada segunda onda, que desconsiderou a heterossexualidade como um problema, o que reflete precisamente a sua força e seu caráter compulsório. Considerá-la significa revisitar o conceito de gênero em estreita relação com o caráter político de ser hétero. Diante dessa desconsideração do elemento da heterossexualidade para pensar o gênero “mulher” e o apagamento da existência lésbica, as feministas lésbicas da década de 80 obrigam o feminismo de sua época a se rever a partir da seguinte pergunta: para se tornar mulher é preciso se tornar hétera? A resposta afirmativa a essa pergunta traz dois elementos inovadores e incontornáveis pelo feminismo lésbico: (i) a determinação do gênero “mulher” pela heterossexualidade compulsória, e (ii) a existência lésbica como resistência a ser valorizada enquanto uma estratégia de libertação de todas as mulheres. Para tanto, pretendo expor o argumento central de que a heterossexualidade é compulsória na medida em que existe não apenas como uma mera prática sexual, mas enquanto uma instituição social, política e econômica, segundo Adrienne Rich, como um regime político que institui um modo hegemônico de pensar, segundo Monique Wittig, como um sistema sexo/gênero para Gayle Rubin, e como um padrão normatizante que determina o binarismo de gênero, segundo Judith Butler. Por fim, fica a pergunta sobre a possibilidade de superação da opressão de gênero: ou bem apostamos numa sociedade sem gênero, como o fez Wittig e Rubin, ou com múltiplos gêneros, como propõe Butler.
Palavras-chave: Feminismo lésbico; Gênero; Heterossexualidade.
Abstract
The aim of this essay is to revisit the concept of gender based on the lesbian feminist critique of the hegemonic feminism of the so-called second wave, which disregarded heterosexuality as a problem, reflecting precisely its strength and compulsory nature. Considering it means revisiting the concept of gender in close relation to the political character of a straight way of being. Faced with this disregard for the element of heterosexuality in thinking about the “female” gender and the erasing of lesbian existence, lesbian feminists of the 1980’s forced the feminism of their time to review itself based on the following question: is it necessary to become straight to became a woman? The affirmative answer to this question brings two innovative and unavoidable elements for lesbian feminism: (i) the determination of the “female” gender by compulsory heterosexuality, and (ii) lesbian existence as resistance to be valued as a strategy for the liberation of all women. To this end, I intend to put forward the central argument that heterosexuality is compulsory insofar as it exists not only as a mere sexual practice, but as a social, political and economic institution, according to Adrienne Rich, as a political regime that establishes a hegemonic way of thinking, according to Monique Wittig, as a sex/gender system for Gayle Rubin, and as a normative standard that determines gender binarism, according to Judith Butler. Finally, the question remains about the possibility of overcoming gender oppression: either we bet on a genderless society, as Wittig and Rubin have done, or a society with multiple genders, as Butler proposes.
Keywords Lesbian feminism; Gender; Heterosexuality.
Introdução: o poder da crítica do feminismo lésbico
Esse texto é inspirado por mulheres lésbicas, feministas, como Adrienne Rich, Monique Wittig, Guy Rubin e Judith Butler, em diálogo com as interpretações de Yuderkys Miñoso, Jules Falquet e Teresa de Lauretis, e trata da centralidade da heterossexualidade na determinação do binarismo de gênero e da consequente submissão feminina ao domínio masculino. Um assunto que não apenas toca nossas vidas profundamente porque os termos “gênero”, “mulher”, “heteronormatividade”, “feminismo” e “lésbica” habitam nossa existência ordinária e permeiam nossas relações sociais, de modo a merecerem atenção privilegiada se se quer ousar viver com mais liberdade e menos opressão nesta estranha ordem social a que estamos submetidas. Preciso dizer que, desde o início, uso o plural no feminino com um propósito claro: causar certo estranhamento ao modo dominante da nossa linguagem entranhada pelo regime binário a serviço da heteronormatividade.
O propósito deste texto é mostrar que a heterossexualidade possui um caráter compulsório, opressivo sobretudo para as mulheres, e é o fator determinante na constituição do gênero “mulher” e na manutenção do poder masculino. Para tanto, o argumento central é o de que heterossexualidade deve ser compreendida como uma instituição social, política e econômica, segundo Adrienne Rich, como um regime político que institui um modo hegemônico de pensar, segundo Monique Wittig, como um sistema sexo/gênero para Gayle Rubin e como um padrão normatizante que determina o binarismo de gênero, segundo Judith Butler. Inicialmente, focaremos no texto Heterossexualidade compulsória e existência lésbica, escrito em 1978 por Adrienne Rich e publicado em 1980, e no texto O pensamento hétero, lido por Monique Wittig na convenção da Modern Language Association, em 1978, e publicado em 1980. Curiosamente, ambas as filósofas escreveram e publicaram no mesmo período, o que poderia ser uma mera coincidência. Também é curioso que ambas tratem de temas correlatos e com tantas questões afins, o que não parece ser uma mera coincidência. Ambas trataram de uma temática fulcral para o feminismo lésbico, a heterossexualidade compulsória, tema que, sem dúvida, marca de modo incontornável a prática e a teoria feministas dos anos 80 ou da chamada terceira onda do feminismo. Como bem resumiu Jules Falquet:
Para ambas, a heterossexualidade, longe de ser uma inclinação sexual natural nos seres humanos, é imposta às mulheres pela força, quer dizer, ao mesmo tempo pela violência física e material, inclusive econômica, e por um sólido controle ideológico, simbólico e político, o qual faz intervir um conjunto de dispositivos que vão desde a pornografia até a psicanálise (2012, p. 20).
Ademais, ambas criticam o feminismo feito até então, que excluía a temática da sexualidade, apagava a existência lésbica e desconsiderava o poder da heterossexualidade na manutenção da supremacia masculina e opressão das mulheres. Wittig, feminista lésbica francesa radicada nos Estados Unidos, denominava de “heterofeminismos” os feminismos franceses da década de 1980 que apostavam num sujeito político como “a mulher essencial”, ou seja, seriam teorias feministas que partem de uma visão heterocentrada, ou, em suas palavras, do “pensamento hétero”. Com tal conceito, como veremos, Wittig (2022) irá questionar não apenas o pensamento e as práticas políticas feministas, mas a própria linguagem e o modo de pensar, a produção de conhecimento e a organização social, política, econômica do mundo ocidental. Ela acusa, sem pudores, o Mouvement de Libération des Femmes (MLF), bem como o feminismo hegemônico desta época de marginalizar as lésbicas e de endossar o poder heteropatriarcal. Como leitora de Adrienne Rich, ela enfatiza que a heterossexualidade (i) não é nem natural nem absolutamente compulsória, mas social, (ii) que não é meramente uma prática sexual, mas, sobretudo, uma ideologia heterossexualizante, um modo de pensar, falar e sentir que heterossexualiza e oprime as mulheres, e, por fim, (iii) que este modo de pensar mantém o poder heteropatriarcal sob a roupagem de uma naturalização das diferença dos sexos.
Como veremos, homens e mulheres não são naturalmente dados, são constructos sociais sustentados pela heterossexualidade, o que Judith Butler (2016), inspirada por Wittig, formulará como sendo uma determinação teleológica da heterossexualidade sobre o binarismo de gênero e de sexo, ou seja, só existe o binarismo de gênero - homens e mulheres - e uma leitura generificada dos corpos - masculino e feminino - tendo em vista o direcionamento heterossexual do desejo para que, assim, a heterossexualidade se efetive. Em poucas palavras, as categorias binárias são forjadas em um sistema de heterossexualidade compulsória que configura materialmente os corpos ao generificar os sexos, i.e., ao produzirem os corpos a partir de uma leitura binária sobre a aparência física dos órgãos genitais. Butler mostra com clareza que o binarismo que configura nossos corpos, sexos e gêneros assim o faz em função da determinação heterossexual, ou seja, é para que o desejo heteronormativo se realize que o binarismo precisa ser mantido, o que pode ser resumido na seguinte questão colocada em sua obra Problemas de Gênero: “A instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada exige e regula o gênero como uma relação binária em que o termo masculino diferencia-se do termo feminino, realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do desejo heterossexual” (2016, p. 41). Ora, se a manutenção da heterossexualidade enquanto uma normatividade hegemônica, uma instituição social e um regime político é o ato de apropriação pelos homens do corpo e da vida das mulheres, cabe às feministas compreenderem que ela é estruturante na constituição do gênero e que a resistência a abordá-la nas teorias até então produzidas revelam, como pontuou Miñoso, que tal termo é “o coração da operação de poder por meio da qual a estrutura do domínio patriarcal foi construída e mantida” (2022, p. 88), o que nos leva a crer que seria mais preciso chamar o sistema patriarcal de cisheteropatriarcal.
Não se nasce hétera, torna-se
Antes, porém, de nos aprofundarmos em Wittig e Butler, vejamos o que Adrienne Rich compreende por heterossexualidade compulsória. Rich foi uma feminista, branca, lésbica, estadunidense que teve três filhos e foi casada com um homem por dezessete anos antes de se tornar lésbica. Digo isso apenas para ressaltar que ela soube, na própria pele, o que significava viver a heterossexualidade, romper com tal modo de vida para passar a viver uma existência lésbica. Antes de mais nada, é preciso ressaltar que a formulação mais antiga de heterossexualidade enquanto instituição política se encontra no jornal lésbico-feminista The Furies, fundado em 1971 e no texto de Charlotte Bunch, Learning from Lesbian Separatism, de 1976. No entanto, segundo Yuderkys Miñoso (2022), o termo foi originalmente proposto pelo coletivo Purple September Staff por meio do artigo The normative status of heterosexuality, de 1975. A discussão, portanto, trazida por Rich se encontra num contexto mais amplo do movimento feminista lésbico da década de 70.
Para Rich, resumidamente, a heterossexualidade possui um caráter compulsório, embora tal compulsoriedade não possa ser concebida como determinismo absoluto, do contrário, não haveria lésbicas. O caráter compulsório se explica pelo fato de a heterossexualidade ser “algo imposto, administrado, organizado, propagandeado e mantido por força” (2010, p. 35), portanto, por ser uma imposição social e não um dado da natureza. Isso significa que não podemos pressupor um desejo inato das mulheres dirigidos aos homens, nem que tal desejo seja fruto de uma preferência ou escolha livre e autônoma. Podemos antes vislumbrar que haveria uma imposição de um modo hegemônico heterossexual de desejar. Trata-se, em poucas palavras, de um fenômeno que preserva a aparência de imutabilidade como estratégia política para que ninguém pense que não se nasce hétera, torna-se.
Ademais, a heterossexualidade não poderia ser compreendida se a reduzíssemos a uma prática sexual com o sexo oposto, o que seria apenas uma descrição denotativa, sem revelar o que parece ser mais profundo nas implicações de nossas relações com o corpo, a sexualidade, o gênero, o prazer sexual e os comportamentos de modo geral. Isso significa que a heterossexualidade deva ser compreendida como uma instituição política opressora que constitui, define e controla as mulheres por meio da divisão sexual do trabalho e da exploração econômica do trabalho reprodutivo, sobretudo no que se refere à maternidade vivida num ambiente familiar nuclear, monogâmico e heteropatriarcal. Ser mulher é ser compulsoriamente heterossexual, ou seja, é ter de ser feminina o suficiente para reproduzir e cuidar da casa, dos filhos e do marido, sem sequer ser remunerada por essas funções.
Como havia dito, do mesmo modo que não se nasce mulher, tampouco se nasce hétera, mas se torna e sob muita indução e coerção, tanto física como mental. Cabe ressaltar que esse tornar-se não é algo tão voluntário assim, mas se faz, como mostrou Butler (2016, p. 23 e ss.) em diálogo com Beauvoir, de modo mais involuntário e por repetições habituais do que por escolha livre e deliberada. De todo modo, se nos tornamos héteras, isso significa que podemos deixar de ser, nos tornando lésbicas e ser lésbica é um ato de resistência diante da hegemonia heterossexual. Agora, a pergunta mais profunda é a seguinte: e se para se tornar mulher for preciso se tornar hétera? Nessa esteira de raciocínio, Wittig radicaliza ao dizer que lésbica não é mulher, deixando o feminismo de sua época, conivente que era com o sistema heterossexual opressor, em polvorosa. Em poucas palavras, para ser mulher é preciso ser heterossexual, portanto a lésbica não seria mulher. A mulher, enquanto categoria política dentro de um regime político da heterossexualidade compulsória, só poderia ser definida como um corpo capaz de reproduzir e que deseja o sexo oposto para efetivar a reprodução. A radicalidade de Wittig foi semeada pela investigação de Rich, como veremos.
Rich inicia seu texto Heterossexualidade compulsória e existência lésbica (2010) mostrando que um dos sintomas da heterossexualidade compulsória é o apagamento da existência lésbica na maior parte da literatura acadêmica feminista, e isso ocorreu por que os escritos feministas não se puseram a examinar a heterocentricidade. As discussões sobre a superação da desigualdade entre os sexos com a maior participação dos homens no cuidado com os filhos “são desenroladas sem referência qualquer à heterossexualidade compulsória como um fenômeno, sem dizer como uma ideologia” (p. 23). Ora, o maior cuidado paterno não altera o poder masculino na sociedade. Este é o ponto crucial que Rich enfatiza: o poder dos homens não apenas produz desigualdade entre os sexos, mas reforça a heterossexualidade que, por sua vez, alimenta seu poder. Ademais, pode-se dizer que a desconsideração da heterossexualidade como um problema para as feministas reflete precisamente a sua força e seu caráter compulsório. Considerá-la significa, como veremos, revisitar o conceito de gênero em estreita relação com o caráter político de um modo de ser hétero. Assim, podemos dizer que o feminismo lésbico traz dois elementos inovadores e incontornáveis para a crítica feminista: (i) a determinação do gênero mulher pela heterossexualidade compulsória, e (ii) a existência lésbica como resistência a ser valorizada enquanto uma estratégia de libertação de todas as mulheres. Isso significa que todas as mulheres héteras são oprimidas e deveriam se tornar lésbica? Sim e não. Do ponto de vista político, sim: é preciso deixar de ser mulher e se tornar lésbica. Do ponto de vista da escolha por se relacionar sexualmente com homens, não necessariamente. Talvez, mesmo com grande dificuldade, seja possível ser politicamente lésbica e ter relações sexuais com homens, uma vez que ser lésbica é mais um ato político e existencial do que sexual: trata-se de uma mudança radical no pensamento e na linguagem.
Para que essa inferência faça sentido, é preciso, antes, compreender a heterossexualidade para além da mera prática sexual, mas como uma instituição política que controla os corpos das mulheres por meio de práticas médicas, religiosas, estatais, matrimoniais e midiáticas. A força coercitiva da heterossexualidade se faz evidente nos discursos das instituições que, ao estabelecerem-na como sendo supostamente “inata” como padrão, relegam todos os outros tipos de sexualidades como sendo dissidentes, desviantes, antinaturais, patológicas, abjetas, odiosas e invisíveis1.
Os primeiros argumento de Rich vão na direção de demonstrar que a heterossexualidade, embora tenha uma força impositiva cultural, não é natural nem teleologicamente determinante, a saber: (i) não há determinismo natural heterossexual, pois o amor das mulheres se direciona para outras mulheres; (ii) não há determinismo teleológico de preservação da espécie, ou seja, a sobrevivência da espécie não depende de haver relações heterossexuais, já que é possível reproduzir e também manter relações homoafetivas, sobretudo com as possibilidades atuais de reprodução assistida; (iii) se fosse naturalmente determinante, não haveria tantos dispositivos de controle da sexualidade das mulheres necessários a fim de “reforçar a subserviência e a total lealdade erótico-emocional das mulheres frente aos homens” (2010, p. 22).
O ponto crucial para Rich é provar para as feministas que não é mais possível ou que seria um erro de estratégia em nossa luta ignorar que o poder dos homens encontra alicerce na heterossexualização das mulheres. Para tanto, Rich retoma e explica oito características do poder masculino em sociedades arcaicas e contemporâneas elencados por Kathlee Gough, em seu ensaio The Origin of Family, a saber: (i) negar a própria sexualidade das mulheres; (ii) forçar as mulheres à sexualidade masculina; (iii) comandar ou explorar o trabalho reprodutivo não remunerado das mulheres por meio das instituições do casamento e da maternidade; (iv) controlar ou roubar suas crianças, sobretudo por meio do direito paterno; (v) confinar as mulheres fisicamente e privá-las de seus movimentos; (vi) usá-las como objetos em transações masculinas; (vii) restringir sua criatividade; (viii) retirá-las de amplas áreas de conhecimento e de realizações culturais da sociedade. Resumidamente, diz Rich, “esses são alguns dos métodos pelos quais o poder masculino é manifestado e mantido”, ou seja, são mecanismos institucionais e domésticos que exercem a brutalidade física sobre os corpos das mulheres e o controle de sua consciência. Podemos resumir os mecanismos de coerção e de submissão física como sendo
condições forçadas sob as quais as mulheres ficam assujeitadas aos homens: prostituição, estupro conjugal, incesto pai-filha e irmão-irmã, espancamento de esposas, pornografia, preço da noiva, venda de filhas, purdah, a mutilação genital (p. 30).
Como diz a filósofa em seguida: “as mulheres têm sido convencidas de que o casamento e a orientação sexual voltada aos homens são vistos como inevitáveis componentes de suas vidas - mesmo se opressivos e não satisfatórios” (2010, p. 26). Em poucas palavras, retomo aqui a formulação precisa de Wittig: “elas foram convencidas de que querem o que são forçadas a fazer” (2022, p. 80). Ou seja, o caráter compulsório da heterossexualidade se faz pela força física, como o uso do cinto de castidade e o casamento infantil, e pelo controle da consciência, como o apagamento da existência lésbica e a idealização do amor romântico e do casamento heterossexual. Dito isso, segue a inferência de que todos os mecanismos do tornar-se mulher se faz pelo viés heteronormativo, pois não se torna mulher sem mais ou para ninguém, torna-se mulher, nessa sociedade cisheteropatriarcal, para o homem.
A pornografia, criticada por Rich e Wittig, é um elemento de controle da consciência na medida em que normaliza um padrão heterossexual do par homem/mulher como sendo sado/maso, ativo/passivo, dominante/dominada, autoritário/submissa. Ora, na vida sexual, tornar-se mulher para o homem é tornar-se submissa e estar à disposição para servir o seu prazer. Com diz Rich:
A pornografia não cria simplesmente uma atmosfera na qual sexo e violência seriam intercambiáveis. Ela amplia o conjunto de comportamento considerado aceitável para os homens em seus intercursos heterossexuais - comportamento que retira das mulheres reiteradamente sua autonomia, sua dignidade e seu potencial sexual, inclusive o potencial de amar e ser amada por mulheres com mutualidade e integridade (2010, p. 27).
Do mesmo modo, na vida do trabalho, tornar-se mulher para o homem é tolerar o assédio e ser heterossexualmente complacente e agradável. Economicamente em desvantagem, porque as mulheres têm menos chance de arrumar emprego e quando arrumam sempre ganham menos, elas “toleram o assédio sexual para se manter em seus empregos e aprendem a se comportar de uma maneira heterossexual complacente e agradável” (2010, p. 28). Mesmo a lésbica deve se comportar como mulher para conquistar e manter seu emprego, afinal: “Seu emprego depende de que ela finja ser não apenas heterossexual, mas também uma mulher heterossexual em termos de seu vestuário, ao desempenhar um papel feminino, atencioso, de uma mulher ‘de verdade’” (p. 28). Em suma, assim como na pornografia e na literatura romântica, no trabalho “as mulheres vêm sendo educadas a perceber a si mesmas como presas sexuais” (p. 28).
Ademais, parece ser óbvio, mas não custa repetir, que quanto mais vulnerável (desempregadas e com salários menores), maior a possibilidade de dominação masculina. Agora, não é óbvio, e Rich soube nos fazer ver, que quanto mais heterossexualizada, mais vulnerável e quanto mais vulnerável, mais passível de ser heterossexualizada. Concretamente falando: quanto mais a mulher ocupar a posição de submissa e desprotegida, mais ela terá que agradar ou, ao menos, não desagradar ao homem.
Diante da evidente heterossexualização da mulher, cabe perguntar pela suposta causa. Ela estaria, segundo Rich, no que a sociedade afirma como sendo “a mística da supremacia vitoriosa da pulsão sexual masculina” (2010, p. 32), que pressupõe que a pulsão sexual masculina é incontrolável e que deve ser saciada, ou seja, conforme essa mística, supõe-se que a pulsão sexual escaparia ao controle do homem, e, por isso, ele não poderia ser responsabilizado, já que se impõe de modo inexorável na sua realização: com a força de uma lei da física, sem exceções. Caberia, portanto, à mulher aceitar e ceder. Em suma, a heterossexualidade compulsória se traduz por uma normalização e naturalização da violência sexual.
Por fim, a gravidade desse fenômeno da heterossexualidade como instituição social, política e econômica (ao que eu acrescentaria existencial) de controle das mulheres, que mantém o poderio dos homens em detrimento do poder das mulheres, não poderia ser desconsiderado pelo feminismo que parecia até então focar na desigualdade de gênero. Como diz Rich: “A suposição de que “a maioria das mulheres são heterossexuais de modo inato” coloca-se como um obstáculo teórico e político para o feminismo” (p. 35). Pressupor o caráter inato da heterossexualidade nega o seu caráter compulsório. E se não é inato, é preciso, de certo, questionar o quão livre são as mulheres para escolherem serem héteras.
Resistindo à Heterossexualidade Compulsória
Como toda feminista, uma vez feito o diagnóstico da opressão, Rich se pergunta pelas estratégias de resistência. Em primeiro lugar, devemos conhecer tudo sobre a opressão de gênero para conseguir nomear a experiência opressiva vivida e, assim, poder lutar por um mundo que a evite. Em segundo lugar, a própria existência lésbica é um ato de resistência, pois ela “inclui tanto a ruptura de um tabu quanto a rejeição de um modo compulsório de vida. É também um ataque direto e indireto ao direito masculino de ter acesso às mulheres” (2010, p. 36). Por outro lado, o apagamento da existência lésbica é a prova inequívoca de que ser mulher é ser em relação com e a serviço dos homens. Nas suas palavras: “A destruição de registros, memória e cartas documentando as realidades da existência lésbica deve ser tomada seriamente como um meio de manter a heterossexualidade compulsória para as mulheres” (2010, p. 36).
Para designar as mulheres que se relacionam amorosamente com outras mulheres, Rich prefere o termo existência lésbica do que lesbianismo, dado o aspecto patológico desse último, e o termo continuum lésbico para designar uma experiência que percorre a vida das mulheres como um todo, mesmo daquelas que se relacionam amorosamente com homens. E se há em todas as mulheres um continuum lésbico, desde o ato de mamar ou dar de mamar até as parcerias de trabalho com outras mulheres e os cuidados mútuos, então mesmo aquelas que não se identificam como lésbicas podem se apoiar nessa experiência e resistir, em alguma medida, à heterossexualidade. Fato inspirador salientado por Rich e também por Wittig é que o que se denominou de sexualidade polimorfa, ou simplesmente um erotismo espalhado pelo corpo, presente na experiência sexual lésbica, que provoca o alargamento do imaginário erótico para além da restrição hétera à supremacia do gozo genital fálico.
Se a existência lésbica é um ato de resistência, então o seu apagamento enfraquece todas as mulheres. Em resumo: a experiência lésbica não deve ser entendida como uma mera relação sexual diferente da hétero, mas como algo muito mais poderoso e temível: a resistência à heterossexualidade enquanto instituição, dispositivo de poder, regime político. A sociedade nos faz crer que a heterossexualidade ou bem é inata, portanto imutável e a lésbica seria um desvio patológico, ou que é compulsória em termos absolutos, portanto, imutável, e a lésbica, na verdade, não existe. Embora a heterossexualidade nos seja ensinada como algo inevitável e imperioso, é possível não ser hétera e a lésbica é a prova viva de que, embora seus mecanismos sejam coercitivos, sua aparência de natural ou inevitável é antes uma estratégia de poder do que uma realidade de fato: uma mentira necessária para supremacia masculina.
Em suma, a existência lésbica mostra (i) que a heterossexualidade não é compulsória em termos absolutos, mas antes se apoia na mentira de ser absolutamente natural e necessariamente compulsória, (ii) que a tentativa de eliminá-la é a prova de que a heterossexualidade insiste em sustentar a mentira de ser inata ou absolutamente compulsória, (iii) e que o seu apagamento enfraquece todas as mulheres, sobretudo aquelas que se dizem héteras, pois todas as mulheres sofrem heterossexualização constante, e a mulher hétera naturaliza sua sexualidade com homens e a vive como se não tivesse outra escolha, portanto, acreditando no caráter absolutamente compulsório da heterossexualidade. Do que a filósofa conclui:
Essa mentira coloca um sem-número de mulheres aprisionadas psicologicamente, tentando ajustar a mente, o espírito e a sexualidade dentro de um roteiro prescrito, uma vez que elas não podem olhar para além do parâmetro do que é aceitável (2010, p. 41).
Para concluir seu texto, Rich nos deixa uma pérola: o que amedronta a sociedade não é a relação sexual com outra mulher, mas os laços entre as mulheres que fortalecem uma coletividade capaz de resistir à heterossexualidade e possibilitar outros modos de existir, viver e sentir prazer não mais a serviço ou sob a tutela de um homem. O que causa horror aos homens não é tanto a independência econômica, mas a emocional. Os homens morrem de medo de mulheres fortes e livres. E se as admiram, assim o fazem não sem temê-las, porque, no fundo, o que eles temem é perder o poder fálico e uma sociedade voltada para a saciação de seu ego e prazeres. Por fim, como toda relação hétero é opressiva, não cabe perguntar se há diferença de graus de opressão em cada caso particular, quando se concebe a heterossexualidade como uma instituição para além de experiências individuais mais ou menos opressivas. O mesmo diria Wittig sobre a possibilidade de uma mulher hétera ser livre: não faz sentido dizer que ela é livre, mesmo que ela viva uma relação menos opressiva do que a maioria das mulheres. Obviamente que esse é um ponto controverso e Butler (2016, pp. 193-222) sinalizou, em sua crítica a Wittig, que não basta se tornar lésbica para deixar de reproduzir algo que é estrutural: a heterossexualidade em termos normativos, ao que ela denominou heteronormatividade. O ponto é que Wittig é radical ao dizer que as lésbicas não viveriam mais sob a coerção de um contrato heterossexual, pois que fundariam uma nova sociedade com outro contrato, dissolvendo assim os binarismos e as divisões próprias do pensamento hétero.
O pensamento é compulsoriamente hétero
Para além da determinação de gênero, a heterossexualidade incide sobre nosso modo de pensar, portanto, nossa linguagem e nossa existência, o que faz com que a viabilidade de resistência tenha que ser, segundo Wittig, a mais radical possível, a saber: fundar uma nova sociedade sem gêneros. Wittig, em seu ensaio “Do contrato social” (1989), afirma que quando Rich disse que a heterossexualidade é compulsória, “ela deu um grande passo na compreensão do tipo de contrato social com o qual estamos lidando (...), um contrato social que nos reduz, por obrigação, a seres sexuais que só têm significado por suas atividades reprodutivas”. As mulheres, para resistirem ao contrato heterossexual, precisarão fugir de sua classe e consumarem novo contrato em outras associações voluntárias. As lésbicas e as esposas desertoras são como servas fugidas, o que só pode ser entendido se esclarecermos que, para Wittig, as mulheres são uma classe social similar à dos servos na Idade Média e que elas “só podem se desvencilhar da ordem heterossexual fugindo uma por uma” (2022, p. 70). Para a filósofa, viver em sociedade é viver na heterossexualidade, e as mulheres “foram convencidas de que querem o que são forçadas a fazer e de que fazem parte do contrato da sociedade que as exclui. Porque, ainda que elas, quero dizer, que nós não consentíssemos, não temos como pensar fora das categorias mentais da heterossexualidade. A heterossexualidade está desde sempre em todas as categorias mentais” (2022, p. 80). Por fim, nesse ensaio, Wittig termina citando uma reformulação de seu texto “A categoria sexo” e que vale a pena termos em mente antes de nos debruçarmos sobre o texto “O pensamento hétero” (2022, p. 81-2):
A perenidade dos sexos e a perenidade dos escravos e senhores provêm da mesma crença, e, assim como não existe escravo sem senhor, não existe mulher sem homem [...]. A categoria sexo é a categoria política que funda a sociedade enquanto heterossexual. Como tal, ela não diz respeito ao ser, mas a relações (pois homens e mulheres são resultados de relações), embora sempre se confundam os dois aspectos quando são discutidos. A categoria sexo é aquela que determina que é “natural” a relação que está na base da sociedade (heterossexual) e por meio da qual metade da população, as mulheres, é “heterossexualizada” [...] Sua principal categoria, a categoria do sexo, funciona especificamente, assim, como “negro”, por meio de uma operação de redução, tomando a parte pelo todo, uma parte (cor, sexo) pela qual um grupo inteiro de humanos tem de passar como uma peneira.
Brevemente, no ensaio “A categoria do sexo” (1982), Wittig mostra que as mulheres não são uma categoria de sexo, mas uma categoria política que reduz a mulher ao seu corpo e seu corpo ao seu sexo, de modo que, ao ser assim reduzida, ela é heterossexualizada e serve, por seu turno, como fundação da sociedade heterossexual. Como diz Butler, certamente inspirada por Wittig, o homem é um corpo com sexo, enquanto a mulher é o sexo. Já no ensaio “Do contrato social”, Wittig argumenta que a heterossexualidade é um contrato firmado entre os homens e aceito, por obrigação, pelas mulheres, o que deflagra seu caráter compulsório. Isso implica, como destacou Teresa Lauretis, que
a presunção de que a heterossexualidade seja não apenas um dentre os mecanismos de dominação masculino, mas que esteja intimamente implicada em cada um deles: trata-se de uma estrutura sustentadora do pacto social e fundamento das normas culturais (2000, p. 129).
Com o ensaio “O pensamento hétero”, a heterossexualidade passa de instituição para um regime político que governa nosso modo de pensar. O texto, embora curto, é extremamente potente. Podemos dividi-lo em cinco movimentos argumentativos: (1) a crítica à redução da linguagem à linguística, (2) a crítica à psicanálise lacaniana, (3) os discursos opressivos próprios à heterossexualidade, (4) o pensamento straight e (5) a resistência.
Na crítica à redução da linguagem à linguística, Wittig nos mostra que a leitura estruturalista da linguagem retira o seu caráter de jogo político, consequentemente, a materialidade da opressão vivida se perde e os oprimidos são jogados num vácuo a-histórico. Segue-se, do mesmo modo, a crítica à psicanálise lacaniana em sua leitura do Inconsciente como uma estrutura que pode ser codificada e controlada. Nas suas palavras carregadas de ironia:
Aprendemos que o Inconsciente tem o extremo bom gosto de se estruturar a partir de metáforas, como o nome-do-pai, o complexo de Édipo, a castração, o assassinato-ou-morte-do-pai, a troca de mulheres, etc. No entanto, se o Inconsciente é fácil de controlar, não o é por qualquer pessoa (2022, p. 57).
A denúncia é a de que o analisado delega ao analista o poder de se conhecer, já que apenas o analista seria capaz de decifrar o seu Inconsciente, fazendo com que o sujeito assuma que não é capaz de se conhecer e que necessita de outro para tanto. Que poder ele coloca nas mãos do analista! E que lugar vulnerável ele se coloca nessa relação!
Não pretendo, neste texto, esmiuçar a crítica de Wittig à psicanálise, mas apenas destacar que ela se inspira no famoso primeiro volume da História da Sexualidade: a vontade de saber, de 1976, de Michel Foucault, bem como no marcante texto de Gayle Rubin, O Tráfego de mulheres, de 1975. Resumidamente, Wittig mostra os graves desdobramentos dessa técnica de confissão moderna: (i) os psicanalistas encontram na experiência analítica e no discurso do analisado o que já sabiam, realizando uma projeção no mundo de um conhecimento teórico já estabelecido, ou seja, o caso clínico só serve para confirmar a teoria. Como diz Wittig ironicamente: “não há dúvida de que Lacan tenha encontrado no Inconsciente as estruturas que ele disse ter encontrado - afinal, ele mesmo as havia colocado ali antes” (grifo meu) (2022, p.58); (ii) há opressão ou manipulação na relação analisado/analista, similarmente à relação bruxa/inquisidor, na medida em que o analisado diz o que se quer que ele diga, ou seja, há um constrangimento em seu discurso pelo direcionamento do sentido previamente estabelecido pelo analista. O contrato psicanalítico é um contrato forçado que explora política, ideológica e economicamente o analisado e, pior, “constrange um ser humano a expor sua angústia a um opressor que é diretamente responsável por ela” (2022, p. 58). A psicanálise, segundo Wittig, seria heterossexualizante, o que fica evidente pelo seu caráter opressivo, sobretudo em relação às lésbicas, feministas, e homens gays. O ponto é que os discursos tais quais o psicanalítico oprimem a todos, mas particularmente a esses grupos na medida em que operam com categorias mentais heterossexuais e procuram enquadrar os discursos de quem não é hétero em tais categoria, produzindo uma violência. A psicanálise provoca uma redução do simbólico aos termos heterossexuais e, para se defenderem, os psicanalistas, soberbamente, denominam de primário tudo o que os coloca em questão. Nas suas palavras: “esses discursos de heterossexualidade nos oprimem uma vez que nos impedem de falar a não ser que falemos nos termos deles [...]. Esses discursos nos negam todas as possibilidades de criar nossas próprias categorias” (2022, p. 59).
É preciso compreender que, para Wittig, ao contrário do que pensa a semiologia, o discurso possui uma relação direta e estreita com a realidade, ou melhor, ele é real e é uma realidade que se exerce sobre nós, que produz efeitos materiais em nossos corpos e mentes. Não podemos considerar irrelevante a violência material que se exerce sobre os oprimidos por discursos, mesmo os mais abstratos e tidos como científico e “apolítico”. Nenhum discurso é apolítico para Wittig. Segundo ela, tudo o que significa tem uma dimensão política e retirar o caráter político da linguagem, como pretendeu o estruturalismo, é opressor. A pornografia seria exemplar dessa relação do discurso e os efeitos opressivos no corpo: “o discurso pornográfico é uma das estratégias de violência exercidas sobre nós: ele humilha, degrada, é um crime contra nossa ‘humanidade’” (2022, p. 60). Retomando Marx, Wittig nos diz que o discurso é uma forma de dominação e acrescenta, mais do que forma, um exercício de dominação com efeitos práticos evidentes: limita a possibilidade de outras existências se exprimirem por outros termos e gramáticas, além de silenciar quem questiona.
Depois de ter analisado os discursos dominantes de base estruturalista, como a psicanálise, a antropologia e a semiótica, bem como ter demonstrado que eles operam sob a chave conceitual heterossexual e que possuem efeitos práticos materiais opressivos, Wittig define o que ela denominou de pensamento hétero, nome do ensaio e do livro publicado em inglês The Straight Mind e, em francês, La pensée straight. A palavra hétero, em português, não dá conta da complexidade do termo straight, que significa tanto hétero como reto, estreito, correto, padrão, fazendo uma remissão ao fato de tal pensamento ser hegemônico e operar como fator normatizante. Curiosa e possivelmente irônica é a semelhança que ela faz com o título do livro de Lévi-Strauss , “Pensamento Selvagem”, na medida em que todas as característica brutais, selvagens, primitivas, não civilizadas atribuídas ao pensamento selvagem deveriam ser, em verdade, atribuída ao pensamento hegemônico de uma sociedade que se autoproclama superior e civilizada, a francesa, mas que comete as maiores atrocidades e violências em nome desse tipo de pensamento e com vistas à supremacia branca masculina. Ademais, a remissão ao pensamento selvagem se faz também pelo fato de o pensamento hétero usar os conceitos e categorias filosóficas e políticas já questionadas nos movimentos de libertação de lésbicas, feministas e gays, como se fossem inquestionáveis e, portanto, primitivos. Nas suas palavras: tais categorias dizem respeito a “mulher”, “homem”, “sexo”, “diferença”, “história”, “cultura”, “real” “funcionam como conceitos primitivos de um conglomerado de todo tipo de disciplinas, teorias e ideias atuais, ao qual chamarei de pensamento hétero” (2022, p. 61). A relação heterossexual, mesmo depois de se demonstrar o seu caráter cultural, ainda continua sendo afirmada como natural ou como possuindo uma característica própria ao universo da natureza: a inevitabilidade. Para além da heterossexualidade como uma relação sexual, a denúncia se firma contra a matriz heterossexual do modo de produzir ciência, ela “desenvolve uma interpretação totalizante da história, da realidade social, da cultura, da linguagem e de todos os fenômenos subjetivos ao mesmo tempo” (2022, p. 62).
Em resumo, o pensamento hétero possui as seguintes características: (i) caráter irrefutável, (ii) tendência à universalização e interpretação totalizante, (iii) efeito opressor, na medida em que tende a transformar seus conceitos em leis universais de viés normativo e imperativo, (iv) sentido absoluto atribuído a seus conceitos, quando, na verdade, são apenas categorias fundadas na heterossexualidade, (v) produtor das diferenças e divisões binárias entre os sexos como dogma político e filosófico, (vi) por fim, é um tipo de pensamento que se funda na necessidade de haver um outro-diferente, ou seja, o outro é apresentado como diferente para que seja dominado e controlado, como as lésbicas e gays em relação aos héteros, as mulheres em relação aos homens, os negros em relação aos brancos. Nas suas palavras: “construir a diferença e controlá-la é um ato de poder, já que é um ato essencialmente normativo” (2022, p. 63). E, na medida em que tal pensamento rejeita a possibilidade de o outro se constituir por ele mesmo, numa outra ordem simbólica e numa outra linguagem, podemos dizer que ele fornece, com suas categorias, a inteligibilidade que possibilita a existência em termos binários e hierárquicos. Tudo o mais que escapa a tal pensamento não teria lugar de existência ou seria violentado na sua tentativa de existir por outras categorias, outros símbolos, outra linguagem que não essa hegemônica e heteronormativa. A psicanálise é exemplar enquanto um tipo de pensamento hétero, já que faz uso de uma retórica sedutora e “se reveste de mitos, recorre ao mistério, opera acumulando metáforas, e sua função é poetizar o caráter obrigatório do ‘serás-hétero-ou-não-serás’” (2022, p. 63).
Por fim, Wittig, como militante que era e não apenas teórica do feminismo, nos fornece possibilidades de resistir. Se “tanto ‘mulher’ quanto ‘homem’ são categorias políticas e econômicas, não categorias eternas” (2022, p. 48), é preciso, diz ela, eliminar as categorias políticas “homem” e “mulher”, pois que sua manutenção corrobora com a heterossexualidade. Se os homens desapareceram, “as ‘mulheres’ como classe também desaparecerão, pois não há escravo sem senhor” (2022, p.49). Não se trata, tampouco, de apenas lutar por mudanças econômicas radicais, mas também mudar nossa linguagem e nosso pensamento, que atuam diretamente sobre a nossa subjetividade e sua relação com a sociedade. É necessário, enfim, abandonar o mito fundador das sociedades como sendo o da troca de mulheres e o inconsciente estruturalmente opressor, e fundar uma nova sociedade não mais com base no contrato heterossexual. Segundo Wittig, o termo “mulher” carregada um essencialismo que serve apenas “para nos confundir, para ocultar a realidade das ‘mulheres’” (2022, p. 49). Como mulher é uma categoria política heterossexualizada em benefício do homem, é premente, em uma palavra, deixar de ser mulher:
O que é uma mulher? Pânico, alarme geral de defesa ativa. Francamente, esse é um problema que as lésbicas não têm, graças a uma mudança de perspectiva, e seria incorreto dizer que as lésbicas se associam, fazem amor, vivem com mulheres, pois “a mulher” só tem significado nos sistemas heterossexuais de pensamento e nos sistemas econômicos heterossexuais. Lésbicas não são mulheres (2022, p. 64).
À guisa de conclusão: por uma sociedade sem gêneros ou com muitos gêneros?
Se Wittig propôs como resistência às opressões de gênero impostas pelo regime de pensamento hétero a eliminação do gênero, ela o fez inspirada pelo marxismo, como mostrou Gayle Rubin, em seu famoso ensaio Tráfico de mulheres (1975). Ora, para Marx,
o movimento operário iria fazer mais do que livrar os trabalhadores de sua própria exploração. Ele também tinha o potencial para mudar a sociedade, para libertar a humanidade, para criar uma sociedade sem classes. Talvez o movimento feminista tenha a tarefa de levar adiante o mesmo tipo de mudança social em um sistema do qual Marx tinha apenas uma percepção imperfeita. Algo próximo disso está implícito em Wittig - a ditadura das guérillères amazonas é um método temporário para se alcançar uma sociedade sem gêneros (2017, p. 54).
Dessa citação, podemos destacar três elementos: em primeiro lugar, Rubin critica a incapacidade do marxismo de explicar a opressão das mulheres, mostrando antes os limites de tal teoria do que a descartando como uma ferramenta essencial para pensar e propor modos de resistir às diversas opressões de nossa sociedade; em segundo lugar, a antropóloga segue a solução de eliminação dos gêneros proposta por Wittig de modo implícito na obra que a mesma teve acesso - Les Guérillières, de 1973 -, pois ainda não teria sido escrito seus ensaios da década de 1980, particularmente o ensaio “Do contrato social”, no qual tal proposta é explicitada.
O ponto é que Marx explica a utilidade das mulheres para o capitalismo e não a origem da opressão das mulheres nem as possibilidades de luta contra tal opressão. O marxismo explica muito bem que o capitalismo faz uso das mulheres para reprodução da força de trabalho e produção de um trabalho adicional, o trabalho doméstico não remunerado, que acresce valor à mais-valia2, ou seja, é por meio da reprodução da força de trabalho - maternidade e trabalho doméstico - “que as mulheres são articuladas no nexo da mais-valia, que é condição sine qua non do capitalismo” (2017, p. 14). Todavia, Marx não explica a origem da opressão sexual, e é por isso que Rubin recorre à teoria do parentesco de Lévi-Strauss e ao complexo de Édipo da psicanálise freudiana e lacaniana. A opressão das mulheres, segundo Rubin, está para além das sociedades capitalistas e se explica pelo que ela denominou de sistema sexo/gênero, isto é, um sistema que transforma a sexualidade biológica em atividades humanas a serem satisfeitas de modo que a opressão seria um produto das relações sociais e não algo inevitável da ordem da biologia (2017, p. 11). O ponto crucial na criação de um sistema heterossexual é que ele oprime em termos sociais, como bem descreveu Lévi-Strauss com o conceito de troca de mulheres para explicar o tabu do incesto enquanto mito fundador da sociedade, e em termos psicológicos, com a transmissão do poder masculino por meio da mulher para o filho homem. Se, do ponto de vista social, a transmissão do falo se faz pela troca de mulheres entre famílias, do ponto de vista psicológico, a mulher castrada desde sempre não teria outra função senão a transmissão do falo por meio da reprodução. Em poucas palavras, o complexo de Édipo nada mais é do que um dispositivo de heterossexualização. Se a menina não tem o falo, então ela não tem o objeto simbólico que poderia ser trocado por uma mulher, o que significa que a sua mãe não poderia ser seu objeto de amor ou outra mulher. Despossuída de falo, ela estaria destinada a um homem seguido uma determinação edipiana. Ou seja, o complexo de Édipo heterossexualiza a menina fazendo com que ela aprenda a ser inferior ao homem, a ter inveja do pênis/falo e a ser masoquista: amar o seu inimigo, o pai. “Ter” o falo provisoriamente para mulher é ter relação sexual com homem e parir um filho homem, ou seja, ela o “tem” enquanto mulher ou mãe de um homem. Enquanto o menino aprende a temer a castração, a menina aprende a desejar a castração, o que significa ser objeto de amor de seu pai. Em poucas palavras: para Rubin, o problema da psicanálise freud/lacaniana e da antropologia lévi-straussiana está em se reduzir ao papel de analítica e se eximir de ser crítica e propositiva diante das opressões. Assim: “Lévi-Strauss e Freud elucidam aspectos das estruturas profundas da opressão sexual [...]. A heterossexualidade compulsória é produto do parentesco. A fase edípica institui o desejo heterossexual” (2017, p. 49). Isso significa que “nós não apenas sofremos opressão como mulher, nós somos oprimidas por termos de ser mulheres - ou homens, conforme o caso” (2017, p. 55). O problema é que ambas as teorias racionalizam a opressão, mas não defendem novas disposições de enfrentamento. É preciso, como propôs a filósofa, “se empenhar em defender uma revolução no sistema de parentesco” (2017, p. 50). Em poucas palavras, o feminismo deveria lutar não apenas por eliminar as opressões das mulheres, mas
as sexualidades compulsórias e os papéis sociais. O sonho que me parece mais cativante é o de uma sociedade andrógina e sem gênero (mas não sem sexo), na qual a anatomia sexual de uma pessoa seja irrelevante para quem ela é, para o que ela faz, e para com quem ela faz amor (2017, p. 55)
Enquanto Wittig e Rubin apostam em uma sociedade sem gêneros, mas com diversas sexualidades, Butler recusa essa aposta ingênua no ideal de humanidade sem marcas, como se a sexualidade não fosse ela também determinada pelo gênero. Ao criticar Wittig, Butler rechaça “a suposição de que, para superar o gênero, só um distanciamento radical dos contextos heterossexuais - isto é, o tornar-se lésbica ou gay - pode produzir a queda do regime heterossexual” (2016, p. 175), e propõe que os gêneros, se subversivos, são “categorias ressignificáveis e expansíveis que resistem tanto ao binário como às restrições gramaticais substantivadoras que pesam sobre eles” (2016, p. 164). Enfim, para a filósofa estadunidense, não se trata de combater a heterossexualidade, mas de ir “contra seu caráter compulsório” (2016, p. 182). O ponto é que, para Wittig, a heterossexualidade enquanto regime político não poderia ser senão compulsória. Todavia, o que Butler propõe me parece mais factível tendo em vista o fato de nossa sociedade ser estruturalmente heterossexual, a saber: evidenciar que as identidades de gênero são constructos sociais e não dados da natureza, bem como defender a proliferação radical de gêneros tendo como base uma política pela não fixidez das identidades. Tal proliferação, certamente, enfraqueceria o binarismo e, consequentemente, a própria heteronormatividade.
-
1
Sobre essa hierarquia sexual, vale a pena verificar o diagrama elaborado por Gayle Rubin fez em seu texto de 1982, “Pensando o sexo: notas para uma teoria radical da política da sexualidade” (2017, p. 86), procurando traçar uma linha imaginária entre o sexo bom, bastante limitado e que pode ser qualificado como sendo puro, seguro, saudável, maduro, legal ou politicamente correto, e o sexo mau, uma multiplicidade de práticas sexuais que pode ser classificadas como demoníacas, perigosas, psicopatológicas, infantis ou politicamente condenáveis.
-
2
Como explica Rubin: “Se o valor total das coisas que o trabalhador ou trabalhadora fabricaram exceder o valor de seu salário, o objetivo do capitalismo terá sido atingido. O capitalista recupera o custo do salário, mais um acréscimo - a mais-valia” (2017, p. 13).
-
Como citar:
AGGIO, Juliana. Revisitando o conceito de gênero pelo viés da heteronormatividade: a marca incontornável do feminismo lésbico. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba: PUCPRESS, v. 36, e202431354, 2024. DOI: http://doi.org/10.1590/2965-1557.036.e202431354.
Referências
- BUTLER, J. Problemas de gênero: Feminismo e subversão de identidade, ed. Coleção Brasileira, Rio de Janeiro, 2016.
- BUTLER, J. Variações sobre Sexo e Gênero: Beauvoir, Wittig e Foucault. In: CORNELL, Drucilla; BENHABIB Seyla (Coords.). Feminismo como crítica da modernidade. Rio de Janeiro: Ed. Rosa dos Tempos, 1987. p. 139-154.
- FALQUET, Jules. Romper o tabu da heterossexualidade: contribuições da lesbianidade como movimento social e teoria política. Cadernos de Crítica Feminista, ano VI, N. 5 - dezembro, 2012.
- FOUCAULT, M. História da sexualidade: a vontade de saber Vol. 1. Rio de Janeiro: Graal, 2011.
- LAURETIS, T. Diferencias: etapas de um camino a través del feminismos. Cuadernos inacabados: n. 35. Madrid. Horas y horas, 2002 [1996].
- LORDE, A.: “Usos do erótico: o erótico como poder”. In: Irmã Outsider Trad. Stephanie Borges. Autêntica, 2019
- MIÑOSO, Y.: “Heterossexualidade compulsória”. In: Escritos de uma lésbica escura Trad. Caroline Marim e Susana de Castro. Rio de Janeiro: Ape’Ku, 2022.
- WITTIG, M. Pensamento Hétero Trad. Maíra Galvão. Autêntica, 2022.
-
RICH, Adrienne. Heterossexualidade compulsória e existência lésbica. Bagoas: estudos gays, gêneros e sexualidades Natal: v. 4, n. 5, jan./jun. 2010, p. 17-44. Recuperado de:https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/2309
» https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/2309 - RUBIN, G.: “Tráfego de mulheres” (1975) e “Pensando o sexo” (1982). In Políticas do sexo Trad.: Jamille Pinheiro Dias. São Paulo: Ubu, 2017.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
02 Dez 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
10 Mar 2024 -
Aceito
18 Out 2024
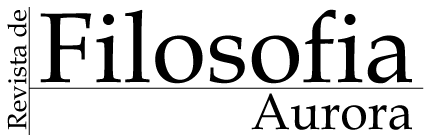
 Revisitando o conceito de gênero pelo viés da heteronormatividade: a marca incontornável do feminismo lésbico
Revisitando o conceito de gênero pelo viés da heteronormatividade: a marca incontornável do feminismo lésbico