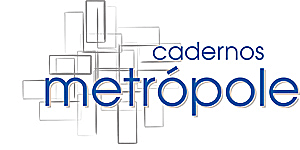Resumo
São recorrentes as incompatibilidades derivadas da implantação de infraestruturas sobre dinâmicas territoriais consolidadas. Partindo desse axioma, o objetivo deste artigo é investigar como o planejamento de infraestruturas incorre nessas incompatibilidades. Metodologicamente, o estudo apoia-se nas escolas teóricas que relacionam infraestrutura e cidade; e utiliza análises de novas infraestruturas ou de intervenções em infraestruturas existentes. O texto se desenvolve por breve revisão dos padrões históricos infraestruturais; pelo entendimento das prioridades nas suas concepções; e pelo estudo dos seus ciclos operacionais. Desse quadro, foi possível formular o argumento de que, no Brasil, a infraestrutura é concebida para (re)estruturar setores e, quando implantada, (des)estrutura lugares. Esse argumento motivou a investigação de novos marcos conceituais que permitiram advogar por infraestruturas que sejam concebidas por evidências territoriais.
infraestrutura urbana; infraestrutura regional; ordenamento territorial; urbanização; planejamento
Abstract
Incompatibilities arising from the implementation of infrastructures over consolidated territorial dynamics are recurrent. Based on this axiom, the objective is to investigate the involvement of infrastructure planning in such incompatibilities. Methodologically, the analysis is based on theoretical schools that relate infrastructure and the city and uses studies on new infrastructures or interventions in existing infrastructures. The text provides a brief review of historical infrastructural patterns, addresses priorities in their conceptions, and studies their operational cycles. From this framework, it was possible to formulate the argument that, in Brazil, infrastructure is designed to (re)structure sectors, and when implemented, it (de)structures places. This argument motivated the investigation of new conceptual frameworks that allowed us to advocate that the design of infrastructures should be based on territorial evidence.
urban infrastructure; regional infrastructure; territorial planning; urbanization; planning
Introdução
A natureza da infraestrutura é a de equipar a terra para possibilitar permanência e circulação de pessoas, ideias e capital. Frequentemente, os argumentos em sua defesa estão embasados no desejo de desenvolvimento e bem-estar social, no combate às desigualdades e na redução de vulnerabilidades. Contudo, sua provisão incorre em efeitos contraditórios como a exploração e escassez dos recursos naturais, a dominação ideológica por construção de símbolos e valores culturais e a apropriação concentrada de renda e de lucro que acentua desigualdades. Fatores que demonstram como a concepção, o gerenciamento e o uso das infraestruturas reverberam em permanentes incompatibilidades entre as dinâmicas territoriais existentes e as novas funcionalidades sobrepostas.
Introdutoriamente, pode-se reconhecer alguns pressupostos. A infraestrutura é condição geral da produção porque atua na realização e na distribuição de riqueza (Lefebvre, 1999LEFEBVRE, H. (1999). A revolução urbana. Belo Horizonte, Ed. UFMG. Publicado originalmente em 1970., pp. 137-161), na concentração e dispersão de produtos (Lojkine, 1981LOJKINE, J. (1981). O estado capitalista e a questão urbana. São Paulo, Martins Fontes., pp. 137-158) e se constitui como capital fixo (Folin, 1977FOLIN, M. (1977). La ciudad del capial y otros escritos. México-DF, Ediciones G. Gili., pp. 28-110) para propagar ganhos. E pode ser considerada uma peça técnica e social que se relaciona a ambiguidades políticas (Ballent, 2022BALLENT, A. (2022). Los diques de la dirección de irrigación del ministerio obras publicas en el Noroeste Argentino (NOA), 1900-1943. In: III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE HISTORIA URBANA, pp. 3-15., pp. 3-15) decorrentes da circulação de ideias, conhecimentos e tecnologias (Carse, 2017CARSE, A. (2017). "Keyword: Infrastructure. How a humble French engineering term shaped the modern world". In: HARVEY, P.; JENSEN, C. B.; MORITA, A. (eds.). Infrastructures and social complexity: a companion. Abingdon, Oxon; Nova York, Routledge, pp. 27-39., pp. 27-39) que consolidam culturas e modos de vida urbanos. Pois, mesmo quando implantada em ambiente rural, é condizente com as demandas das cidades; e mesmo concebida numa dimensão regional, interfere ou contribui para a transformação da dimensão urbana.
A infraestrutura, portanto, tem uma abrangência ampla e multifacetada do seu campo de influência. E diante de uma miríade de motivações divergentes, não é novidade que a sua instalação provoque embates em diferentes níveis. Esses embates são reações adversas à incompatibilidade que a provisão infraestrutural provoca junto às dinâmicas preestabelecidas nos locais sobre os quais ela é implantada. Porque, em geral, as infraestruturas são concebidas para responderem aos setores econômicos, logísticos, de transporte, financeiros, etc. E quando operacionalizadas, decorrem de uma compartimentação escalar e assim conferem novas dinâmicas funcionais, formais, topológicas, tecnológicas e simbólicas sobre esses lugares.
O que se pretende, neste artigo, é investigar as origens e motivações dessa incongruência e, para circunstanciar o tema, propõe-se uma análise cronologicamente longitudinal, porque a partir de abrangência de longo prazo é possível compreender os impactos da infraestrutura num ciclo operacional; e multidimensional, para observar, simultaneamente, aspectos urbanos e regionais (Geels, 2019GEELS, F. W. (2019). Socio-technical transitions to sustainability: a review of criticisms and elaborations of the Multi-Level Perspective. Current Opinion in Environmental Sustainability, [s. l.], v. 39, pp. 187-201. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.06.009. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877343519300375?via%3Dihub. Acesso em: 8 jul 2023.
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.06...
). Com essa finalidade, o artigo propõe um estudo teórico-conceitual e, por isso, os exemplos recentes de provisão de novas infraestruturas ou de intervenções sobre infraestruturas existentes são incorporados a partir de análises acadêmicas e para demonstrar os rebatimentos empíricos. E estão circunscritos às décadas de 1990 e 2010 dada a intensa provisão e modernização de infraestruturas no país, nesse período, e a profusão de análises sobre seus impactos.
Metodologicamente, a discussão apoia-se nas teorias que observam a relação da infraestrutura com as cidades sob os ângulos histórico, social, econômico e tecnológico. E esse aspecto está apresentado na primeira seção do artigo ao problematizar essa relação. O desenvolvimento do texto segue em três seções: breve revisão bibliográfica que apresenta o trânsito de ideias e práticas de infraestrutura nas cidades brasileiras marcado por técnicas e saberes divergentes que se sobrepõem no tempo e no espaço; análise de planos e programas na esfera nacional que consolidaram um modo de conceber a infraestrutura por uma dicotomia setorial-escalar; e uma proposta de entendimento das infraestruturas por ciclos operacionais a partir dos quais é possível mapear a reincidência de incompatibilidades.
Na sequência, a discussão proposta permite formular o argumento central de que, no Brasil, a infraestrutura é concebida para estruturar e reestruturar setores e, quando implantada, desestrutura lugares. Esse argumento leva à investigação de novos marcos conceituais de infraestrutura buscando compreendê-la como fator social. Condição que permite, como conclusão, advogar pela infraestrutura como oportunidade ao cidadão, portanto, fator social cujo planejamento não deve desprezar o diálogo com as evidências territoriais.
Problematizando a infraestrutura na cidade
Numa introdutória problematização teórica da relação entre as infraestruturas (urbana e regional) e as cidades, é possível constatar que as infraestruturas propagam novos sistemas técnicos com morfologias e tecnologias atualizadas formando topologias infraestruturais (Vallejo e Torner, 2003VALLEJO M. H.; TORNER, F. M. (eds.) (2003 [2002]). La ingeniería en la evolución de la urbanística. Barcelona, UPC, Departamento de Infraestructuras del Transporte y Territorio (ITT), Universidad Politécnica de Cataluña.) que se sobrepõem ao tecido urbano existente e conformam um urbanismo de redes (Dupuy, 1991DUPUY, G. (1991). Urbanisme de Reseaux, théories et méthodes. Paris, A. Colin.). Confrontam-se com os sistemas – antigos e novos – de longa abrangência (denominadas pela literatura internacional de large techinical system, ou LTS) que dão origem aos corredores (Whebell, 1969WHEBELL, C. F. J. (1969). A Theory of Urban Systems. Annals of Association of American Geographers, v. 59, n. 1. Taylor & Francis, pp. 1-27., pp. 1-27) e eixos de desenvolvimento (Pottier, 1963POTTIER, P. (1963). Axes de communication et développement économique. Révue économique, v. 14, n. 1, pp. 58-132. DOI: https://doi.org/10.2307/3499503. Acesso em: 15 fev 2021.
https://doi.org/10.2307/3499503...
, pp. 58-132), redefinindo as condições de gestão e de produção do espaço. Dos sistemas de infraestrutura regional, articulam-se relações locais integradas às dinâmicas globais (Turner, 2018TURNER, C. (2018). Regional infrastructure systems. The political economy of regional infrastructure. Glos, Massachusetts, Edward Elgar Publishing.) rompendo uma hierarquia nacional interna e constituindo espaços específicos por regulações próprias para a infraestrutura funcionar de maneira integrada.
No outro extremo, as infraestruturas urbanas (ou do cotidiano, as infrastructural lives) também operam como estratégia de disputas de classe (Graham e McFarlane, 2015GRAHAM, S.; MCFARLANE, C. (eds.) (2015). Infrastructural lives. Urban infrastructure in context. Oxon, Nova York, Routledge.) e confirmam que a infraestrutura como promotora de bem-estar da sociedade deve ser relativizada pelas suas questões técnicas e sociais (Rutherford, 2020RUTHERFORD, J. (2020). Redeploying urban infrastructure. The politics of urban socio-technical futures. Suíça, Palgrave Macmillan.) sempre imbricadas, mas nem sempre convergentes. As ideias de cidades rompidas (disrupted cities) e do urbanismo estilhaçado (splitering urbanism) (respectivamente de Graham, 2010GRAHAM, S. (ed.) (2010). Disrupted cities. When infrastructure fails. Durham University, Routledge.; Graham e Marvin, 2001GRAHAM, S.; MARVIN, S. (2001). Splintering urbanism. Networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition. Londres/Nova York, Routledge.) buscam descrever os resultados da relação entre as cidades e as operacionalidades infraestruturais incluindo, nesse contexto, as suas falhas. E essas visões interessam porque apresentam um panorama contemporâneo desses conflitos em escala mundial. Mas, para o caso brasileiro, é importante aprofundar nas suas particularidades, pois embora tenha paralelos com os exemplos da literatura internacional, a infraestrutura nacional guarda especificidades que precisam ser discutidas para além de seus propósitos finalísticos.
O avanço da prática da infraestrutura, no Brasil, fez com que ela deixasse de ser exclusivamente construção para também tornar-se interpretação. E é pela interpretação histórica do avanço das infraestruturas que se pretende sintetizar algumas das suas particularidades. Portanto, partimos do pressuposto que não há um marco seminal das infraestruturas, mas que ela se transforma e avança no tempo e no espaço configurando o processo de urbanização.
Como resposta a demandas, as infraestruturas que hoje operam com maior intensidade no território nacional são derivadas, em boa medida, das grandes transformações dos meados do século XIX que buscavam modernizar as cidades para possibilitar a atividade industrial. E correspondem a influências geopolíticas europeias irradiadas da França, da Inglaterra e da Alemanha por suas tecnologias e soluções morfológicas; e norte-americanas derivadas do Estado de Bem-Estar Social e – mais recentemente – associadas à logística e ao desenvolvimento econômico global neoliberal.
Da Europa, a infraestrutura – considerada como equipamento, obras e maquinários fixos ou móveis – proporcionou facilidades para a vida moderna (Béguin, 1991BÉGUIN, F. (1991). As maquinarias inglesas do conforto. Espaço e Debates, n. 34, pp. 39-68., pp. 39-68). As infraestruturas correspondiam às diferentes escalas e complexidades de atividades da sociedade que se encontrava saturada por problemas de higiene, congestionamentos, poluição, falta de habitação e que careciam de melhoramentos cuja crença prometia estabelecer uma ordem pública (Bresciani, 1999BRESCIANI, M. S. (1999). A palavra Melhoramentos Urbanos. Projeto estético e experiência afetiva. São Paulo 1650-1950. In: I SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO LES MOTS DE LA VILLE, v.1. Anais. Porto Alegre, [s.n], pp. 1-31., pp. 1-31). A infraestrutura estava vinculada à habitabilidade, à salubridade e à produção econômica essencialmente urbanas, de ações pontuais ligadas a planos articulados.
As melhorias e os embelezamentos das cidades (Sakaguchi, 2005SAKAGUCHI, M. A. (2005). O espaço das infra-estruturas: da cidade bela à cidade eficiente. Tese de doutorado. São Paulo, Universidade de São Paulo.) passaram a integrar redes e sistemas, colaborando na difusão, não apenas da materialidade dos seus benefícios (fornecimento de água potável, afastamento de resíduos, geração de energia elétrica, implantação de transporte, construção de moradia, etc.), mas também por instituições, tecnologias, doutrinas, princípios, ideias, conhecimentos e ideologias. Assim, as grandes reformas urbanas de centros europeus influenciaram a urbanização brasileira pela modernidade do transporte sobre trilhos (bonde e trem), pela produção e distribuição de energia elétrica, pelo sistema radial-concêntrico de vias, pelas grelhas viárias modernas, pelo zoning e por um arcabouço institucional e de mercado que garantia a recepção desse repertório infraestrutural.
Ao fim da primeira metade do século XX, a infraestrutura passou a ser o meio de controlar, universalizar e estandardizar o bem-estar social pelo Estado. A hegemonia político-econômica norte-americana se consolidou no período pós-guerra e representou o auge da provisão de infraestrutura vinculada aos projetos de dominação territorial, estratégias supranacionais e de desenvolvimento internacional. A infraestrutura – cada vez mais – passou a ser tratada como ativo econômico e capital social de serviços e equipamentos emanados do Estado-nação. A racionalidade técnica, a padronização e a expansão de mercados internacionais de tecnologias e know how configuraram novas hegemonias de redes técnicas e de instituições para difundi-las baseadas, fundamentalmente, nos organismos multilaterais como a ONU (Organização das Nações Unidas), o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial.
A dimensão local e regional predominante no primeiro período avançou para a dimensão nacional e global, acompanhando a ascensão dos Estados modernos como peças fundamentais na provisão de infraestrutura. No período entreguerras, a perspectiva panamericana foi fundamental para difusão de investimentos para amalgamar a visão das Américas. E com o fim da Guerra Fria, os blocos subcontinentais (o North America Free Trade Agreement [Nafta] – e o Mercado Comum do Sul [Mercosul], por exemplo) motivaram esses investimentos orientados pela formação da European Union (EU) e vinculados aos paradigmas neoliberais (Rufino, Faustino e Wehba, 2021, pp. 9-33) e suas expressões no desenvolvimento urbano e regional, como a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (Iirsa). A cidade estava no centro da provisão infraestrutural que, por sua vez, foi orientada por paradigmas regionais (subcontinentais, subnacionais, etc.) materializando os anseios internacionais.
Circulação de ideias e práticas na provisão da infraestrutura nacional
Dessa trajetória intercontinental, é possível identificar três períodos na configuração da infraestrutura no Brasil a partir do século XX. Esses períodos confirmam uma convergência no tempo e no espaço de ideias e práticas, mas comprovam as divergências quanto aos seus interesses e finalidades. Essas divergências são sintetizadas pela transição de valores funcionais atribuídos à estruturação do território que passaram da busca por proximidade para a de acessibilidade; e da acessibilidade para a de conectividade.
A esses períodos, vinculam-se predomínios tecnológicos com diferentes soluções topológicas que reforçam e, em alguns momentos, dão identidades às dinâmicas locais, regionais e nacionais, sintetizando o seu desenvolvimento. Nos períodos, alternam-se as hegemonias, mas não se extinguem as infraestruturas precursoras influenciando a implantação das novas infraestruturas. E as condições ambientais também influenciam suas disposições. As facilidades de implantação, os caminhos consolidados, as barreiras naturais e os recursos ambientais direcionam formas e meios de explorá-los ou superá-los.
O primeiro período é caraterizado por infraestruturas vinculadas à sociedade agrícola e propagadas a partir do final do século XIX com forte protagonismo do capital privado. Constituíram importantes complexos ferroviários (Matos, 1974MATOS, O. N. (1974). Café e ferrovias. São Paulo-SP, Alfa Omega.) no século XX que colaboraram no surgimento de novas cidades ou no desenvolvimento daquelas já existentes. Uma elite técnica e aristocrática que detinha propriedades e se modernizou no exterior colaborou na expansão desses conhecimentos e ativos econômicos com investimentos em transporte ferroviário (D’Alessandro e Bernardini, 2022, pp. 53-70). Essa inovação estava acompanhada de mudanças nas áreas urbanizadas pela implantação de linhas de bonde, distribuição de água e redes de energia elétrica que possibilitaram a construção da identidade de uma vida urbana inspirada na belle-époque. Propagaram-se reformas, nas áreas centrais, marcadas pela constituição dos espaços públicos, pavimentação, abertura de avenidas, alargamentos e mudança na estrutura de seu crescimento (Pereira, 1996PEREIRA, M. S. (1996). "Pensando a metrópole moderna: os planos de Agache e Le Corbusier para o Rio de Janeiro". In: RIBEIRO, L. C. Q.; PECHMAN, R. Cidade, povo, nação. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, pp. 363-376., pp. 363-365).
Essas infraestruturas foram, predominantemente, lineares e baseadas na premissa da circulação acompanhando a doutrina de Saint-Simon, conforme relembra Offner (2001)OFFNER, J. M. (2001). "Are there such things as small networks?". In: COUTARD, O. (ed.). The Governance of large technical systems. Londres; Nova York, Routledge Studies in Business Organizations and Networks, pp. 217-238. Publicado originalmente em 1999., que constituíram sistemas de energia, transporte e saneamento e colaboraram na formação de núcleos urbanizados. Estações (elétricas, ferroviárias, portuárias) tornaram-se importantes articuladores desses sistemas e suas implantações redefiniram os limites das cidades por um crescimento relativamente coeso, areolar e baseado na localização e nas possibilidades de deslocamentos (Villaça, 2001VILLAÇA, F. (2001). Espaço Intra-Urbano no Brasil. São Paulo, Studio Nobel/Fapesp/Lincoln Institut. Publicado originalmente em 1998., p. 23) em que a proximidade em relação às oportunidades, aos serviços, às instituições, etc. tornou-se um atrativo e fator de valorização da terra.
A proeminência de uma sociedade industrial, estimulada pelo Estado nacional pós 1930, preconizou a universalidade de benefícios sociais abrindo o segundo período das infraestruturas no Brasil. Áreas pobres e regiões desiguais passaram a ser combatidas por soluções sistêmicas de planejamento. Nesse período, predominaram abordagens regionais, usos múltiplos dos recursos hídricos (Chiquito e Trevisan, 2022CHIQUITO, E. de A.; TREVISAN, R. (2022). Planejamento regional, infraestrutura e urbanização: o Complexo Urubupungá na Bacia do Paraná. In: III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE HISTORIA URBANA, pp. 33-52., pp. 33-52), planos de viação com modais integrados por terra, água e ar e planos e programas rodoviários e aeroviários mais capilarizados e setorizados (Brasil, s.d.). Os equipamentos de serviços também se difundiram em redes de educação, saúde, esportes, lazer a partir de uma produção em massa (como a de habitação pelo Banco Nacional de Habitação – o BNH –, a partir do governo civil-militar). E, assim, ajudaram a constituir uma hierarquia urbana que reforçava as interpretações de lugares centrais (Christaller, 1966CHRISTALLER, W. (1966). Central Places in Southern Germany. Nova Jersey, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. Publicado originalmente em 1933.) como locais de domínio regional pela concentração de equipamentos que atraía serviços e comércios.
A instrumentalização do conceito de polos (Perroux, 1966PERROUX, F. (1966). Notas sobre la noción de pólos de Crecimiento. Consideraciones em torno a la noción de Pólo de Crecimiento. In: MECOR-SUDENE - ASSESSORIA TÉCNICA, DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS; SEMINÁRIO SOBRE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO. Separata de Cuadernos Venezelanos de Planificación, vol. II, n. 3-4. Recife, Mecor-Sudene, pp. 3-8., pp. 3-8) que se acentuou por essas localizações reforçou os desequilíbrios regionais ao passo em que o privilégio da proximidade passou a ser substituído pelo da acessibilidade. Morar longe das oportunidades deixou de ser um empecilho desde que os lugares estivessem integrados pelos sistemas de transporte ou atendidos pelas redes de serviços. A mancha urbanizada expandiu-se, intensamente, ao absorver o êxodo rural e constituiu tecidos conurbados e contínuos, atribuindo identidade às metrópoles. Condição que favoreceu a incorporação extemporânea do modelo centro-periferia da Escola de Chicago (Eufrasio, 2013EUFRASIO, M. A. (2013). Estrutura urbana e ecologia humana: a Escola Sociológica de Chicago (1915-1940). São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Sociologia da FFLCH-USP/Editora 34. Publicado originalmente em 1999.) para explicar a estrutura urbana das metrópoles brasileiras por um centro rico e por uma periferia pobre, cuja distinção era – generalizadamente – dada pela localização de classes sociais atraídas e/ou selecionadas pela concentração de infraestrutura e pelos custos da terra decorrentes dessa concentração.
Sucessivas crises mundiais (econômicas, ambientais e fiscais), a partir do último quarto do século XX, proporcionaram mudanças de paradigmas e a ascensão das políticas neoliberais internacionais (Dardot e Laval, 2016DARDOT, P.; LAVAL, C. (2016). A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo, Boitempo.). Iniciou-se, assim, o terceiro período com grandes infraestruturas que passaram a ser providas desvinculadas de um projeto nacional, mas acompanhando o interesse privado do investimento em lugares que representassem menores riscos aos retornos econômicos crescentes. As infraestruturas tornaram-se mais difusas, desconstituindo a centralidade política e a dominação territorial do poder estatal.
A escassez de recurso público e a atribuição da responsabilidade ao mercado (ou até ao próprio beneficiário) de investir e operar as infraestruturas têm resultado numa seletividade locacional ampliando as desigualdades regionais. É como ocorre, por exemplo, com a gestão privada de infraestruturas verdes nos espaços públicos, com o tratamento de resíduos ou captação de água em condomínios, com o controle da internet e com as fontes alternativas de geração de energia. Estão, frequentemente, mais voltadas ao desenvolvimento endógeno (Costa, 2010COSTA, E. J. M. da (2010). Arranjos produtivos locais, políticas públicas e desenvolvimento regional. Brasília-DF, Ministério da Integração Nacional, Governo do Estado do Pará., pp. 90-91) e à qualificação de territórios já equipados ou com potencial de benefícios e exclusividades a determinadas classes sociais.
Nesse sentido, as conexões tornaram-se elementos de maior importância e o território tem sido estruturado de forma nodal com infraestruturas complementares (anelares, multimodais, de comunicação, de conexão). Os lugares de maior conectividade passaram a ser os lugares mais privilegiados e com potencial de desenvolvimento, muito embora essa conectividade não necessariamente seja física ou seja coincidente com o lugar da implantação da infraestrutura.
A imagem de um pulverizado mosaico urbanizado, sem distinção entre urbano e rural, que caracteriza a cidade-região (Scott et al., 2001SCOTT, A. J. et al. (2001). Cidades-Regiões Globais. Espaço e Debates, n. 41, pp. 11-25., pp. 11-25), ganhou força nas tentativas mais contemporâneas de explicação desse período caracterizado por enclaves e dispersão urbana baseados na metropolização e segregação. Assim, as infraestruturas têm sido implantadas a partir de uma sucessão de ideários e práticas divergentes entre si, amalgamando diferentes temporalidades sobrepostas na formação e transformação das cidades brasileiras.
As concepções da infraestrutura nacional na esfera federal
No arco histórico das últimas três décadas, é possível afirmar que a infraestrutura tem sido formulada a partir de um discurso estatal conservador baseado nos “pontos de estrangulamentos” ou “gargalos” considerados obstáculos para a produção econômica brasileira. Esse discurso reproduz os argumentos lançados pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, do final da década de 1940, a partir dos quais a modernização do país deveria ocorrer por meio de grandes investimentos em infraestrutura para superar a precariedade e os entraves para o desenvolvimento.
Os Planos Plurianuais (PPAs) federais desde 1991 (especialmente o PPA 1991-1995, o PPA 2004-2007 e o PPA 2012-2015) e as análises relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (Campos Neto et al., 2009), respectivamente, reiteram e comprovam a permanência desse argumento, mesmo diante de uma substancial mudança nos padrões de produção do espaço e de urbanização das últimas sete décadas. Essa permanência oferece condições para uma continuidade do modelo de infraestrutura que foi predominante no século XX e ainda é praticado no século XXI ao passo em que inibe concepções ousadas que superem esses próprios modelos. Aparentemente, essa continuidade apoia-se numa – cada vez mais acentuada – dicotomia setorial-escalar que agrupa, de um lado, a infraestrutura econômica e regional (transporte, logística, comunicações, energia); e de outro, a infraestrutura social e urbana (saneamento, mobilidade, habitação, saúde, educação, lazer, esportes).
Infraestrutura econômica não é sinônimo de infraestrutura regional, assim como a social não é sinônimo da urbana porque são conceitos cunhados em diferentes períodos e com diferentes trajetórias, não existindo um consenso sobre suas definições (Costa, 2010COSTA, E. J. M. da (2010). Arranjos produtivos locais, políticas públicas e desenvolvimento regional. Brasília-DF, Ministério da Integração Nacional, Governo do Estado do Pará., pp. 19-43). Mas essa dicotomia tem sido perpetuada pelos dogmas técnicos e políticos da gestão pública (cujo marco fundamental foi o Plano Decenal de 1967) que passou a distinguir os investimentos pelos setores (econômico e social) e pelas escalas (regional e urbana) e assim se naturalizou nas últimas décadas como campos divergentes de concepção, embora complementares e interdependentes na prática.
Para o primeiro caso, do agrupamento entre as infraestruturas econômicas e regionais, as infraestruturas são justificadas pela busca do desenvolvimento e concebidas regionalmente para que o combate às desigualdades possa ativar setores produtivos. E assim são também denominadas de produtivas (lei n. 8.173, 1991), formam corredores técnicos e logísticos, bem como territórios competitivos para a produção (lei n. 9.276, 1996; lei n. 9.989, 2000; Cardoso, 2001CARDOSO, F. H. (2001). Mensagem ao Congresso Nacional: abertura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura. Brasília, Presidência da República, Secretaria de Comunicação de Governo.; Cardoso, 2008CARDOSO, F. H. (2008). Avança, Brasil: proposta de governo. Rio de Janeiro, Centro Edelstein de Pesquisas Sociais.). Por isso, ocorrem como grande prioridade de investimentos federais para ativar cadeias produtivas e explorar recursos naturais em contextos de mercados globais (lei n. 10.933, 2004; Brasil, 2006BRASIL (2006). MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS. Monitoramento em números. Programa e ações do Plano Plurianual 2004-2007: ano base 2005. Brasília, MP. Disponível em: https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/103. Acesso em: 1º jul 2023.
https://bibliotecadigital.economia.gov.b...
).
Sob a insígnia da integração, proporcionam geração e distribuição de energia, conformam articulações de transporte e logística (nacionais e sul-americanas; terrestres e bioceânicas), políticas de comunicação, bem como intensificação de parcerias do Sul Global por meio de subsídios, mercados de equipamentos e de empresas, além de empréstimos por instituições nacionais e multilaterais. Mas, também, geram grandes impactos socioambientais, afetam comunidades de povos originários e alteram dinâmicas locais por lógicas do mercado internacional (Pimentel, Costa e Ravena, 2023).
Para o segundo caso, do agrupamento entre as infraestruturas sociais e urbanas, as infraestruturas estão circunscritas nas áreas urbanizadas e se conformam como ativos para a inclusão social. São concebidas para aumentar qualidade de vida e oportunidades, diminuir riscos e vulnerabilidades de grupos sociais e promover economias de aglomeração. Constituem-se por equipamentos essenciais de saúde, educação, cultura, assistência social, previdência social, trabalho, segurança pública e instituições financeiras públicas (Matijascic, Guerra e Silva, 2010, pp. 47-92) implantados isoladamente ou em rede, formando os serviços públicos ou coletivos.
Essas infraestruturas (sociais e urbanas) são também definidas como os elementos básicos para a constituição do solo urbano por equipamentos, redes e soluções de circulação, água, esgoto, drenagem, iluminação pública e energia elétrica (lei n. 6.766, 1979). E, na prática, pelos programas e políticas públicas federais mais recentes (Brasil, 2010BRASIL (2010). 10º Balanço do PAC. Brasília-DF, [s.n.].; Brasil, 2014BRASIL (2014). 10º Balanço do PAC. Basília-DF, [s.n.]. Disponível em: https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/365. Acesso em: 24 jun 2023.
https://bibliotecadigital.economia.gov.b...
; Brasil, 2018BRASIL (2018). 7º Balanço do PAC. Brasília-DF, [s.n.].), ampliaram o entendimento em relação às regulações e incorporaram a habitação, os sistemas de saneamento ambiental (incluindo resíduos sólidos), as soluções de combate aos riscos geológicos/geotécnicos, as praças, os parques e o patrimônio como sinônimos de infraestrutura.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) sintetizou esses padrões porque apresentou, na sua concepção, a divisão entre: infraestrutura de logística, de energia e social-urbana com carteiras de grandes investimentos. Portanto, concebidas, regulamentadas e geridas por essa dicotomia setorial-escalar. Esse quadro confirma e demonstra como o levante de provisões infraestruturais dos anos 1990 aos 2010 atingiu o auge de uma estrutura técnico-burocrática que foi constituída ao longo do século XX e – com raras exceções – reforçou o setorialismo das decisões sem uma integração escalar no território. E o PAC foi o triunfo desse período, mas também a prova da exaustão de um modelo pouco inovador e apoiado em paradigmas da cidade industrial do século XIX, base das trajetórias recentes da infraestrutura.
Por esse contexto de planos e investimentos, as infraestruturas tornaram-se um complexo de tecnologias, peças, aparelhos, serviços e lugares que são concebidos por agrupamentos de função setorial e escalar. E, assim, repercutem por fortes impactos recíprocos, pelas interdependências entre si que nem sempre são previstas, mas decorrem da sua relação com os recursos naturais, com as pessoas e com o desenvolvimento. Fatos que comprovam que o problema central não é a concepção setorial-escalar, mas a falta de uma perspectiva social e territorial de sua integração.
Os benefícios da infraestrutura regional e econômica raramente ocorrem em lugares onde está implantada, contudo, impactam diretamente no seu entorno. Modernização e ampliação de portos e aeroportos, por exemplo, trazem eficiência no transporte e na logística, mas ocasionam aumento de tráfego terrestre nas suas áreas de influência. Analogamente, a implantação de infraestrutura urbana que tende a resolver demandas locais e geograficamente próximas, frequentemente sobrecarrega infraestruturas regionais, impactando no sistema nacional desses serviços. Expansão de linhas de transporte metropolitano de massa ou construções de grandes conjuntos habitacionais periféricos interferem nas demandas de rodovias, de produção de energia e de uso de mananciais (represas, reservatórios e açudes) para abastecimento, ou seja, com impactos nas infraestruturas regionais.
Para toda operação de uma infraestrutura regional, há uma infraestrutura urbana na ponta da cadeia do funcionamento. E para toda expansão de infraestrutura urbana, há uma sobrecarga da infraestrutura regional. Com mais frequência e intensidade, as infraestruturas de diferentes funções ou escalas são mais interdependentes ou, reafirmando, cada vez mais o funcionamento de uma determinada infraestrutura depende de outras infraestruturas. Contudo, a volatilidade da agenda política, que leva a uma pragmática gestão finalística dessas infraestruturas, tem atendido a demandas urgentes e necessárias, mas também tem ocasionado conflitos territoriais porque o potencial de influência recíproca entre as infraestruturas tem sido pouco relativizado.
Ciclos de operação da infraestrutura no Brasil
Levando-se em conta o desempenho da infraestrutura no território, é possível observá-la por alguns padrões que se sucedem e que podem ser considerados como etapas da vida útil da infraestrutura por conformarem ciclos operacionais. Caracterizar essas etapas e esses ciclos possibilita reconhecer como eles sujeitam a reincidência de conflitos e, no limite, identificar e combater os riscos aos quais os usuários estão submetidos pela eminência de incompatibilidades, de falhas ou de colapso da infraestrutura.
No Brasil, é possível identificar quatro principais etapas que marcam o ciclo operacional da infraestrutura e sintetizam sua formação, ascensão, depreciação e renovação. São elas: a etapa da Infraestrutura Pioneira, da Infraestrutura Paradigmática, da Infraestrutura Obsoleta e da Infraestrutura Adaptada. Essa interpretação está orientada por referenciais teóricos e históricos e pode ser comprovada por evidências derivadas de exemplos que relacionaram infraestruturas regionais e urbanas. Assim, antes de detalhar cada ciclo e suas evidências, é importante destacar as bases teóricas e históricas que serviram de referência.
Segundo Offner (1993)OFFNER, J. M. (1993). Le développement des réseaux techniques. Flux, n. 13/14. Paris., a formação da infraestrutura é marcada pela inovação tecnológica e pelo equilíbrio entre oferta e demanda; pelo desenvolvimento que ocorre da adequação ao corpo social que conduz à sua popularização; pela transformação do seu uso pela compatibilidade funcional e compartilhamento da estrutura; e pelo amadurecimento decorrente da estabilidade que é acompanhada pela decadência e seu processo de substituição.
Johnson e Turner (2017JOHNSON, D.; TURNER, C. (2017). Global infrastructure networks. Cheltenham, Edward Elgar., pp. 7 e 8), analogamente, identificam as principais fragilidades na vida útil da infraestrutura: sua obsolescência quando deixa de ser relevante para as necessidades; seu envelhecimento quando degrada pela ação do tempo; suas complexidades catastróficas quando provocam falhas derivadas das complexidades de suas operações; as falhas nas institucionalidades quando há problemas nas regulações, no direcionamento de soluções, etc.; e pelas falhas nodais, quando há problemas nas conectividades e na sustentabilidade dos sistemas.
Velázquez (2021)VELÁZQUEZ, M. A. (2021). "La heterogeneidad de la infraestructura ferroviaria latino-americana y sus prácticas de mantenimiento". In: SINGH, D. S. Z.; PIGLIA, M.; GRUSCHETSKY, V. (orgs.). Pensar las infraestructuras en Latinoamérica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dhan Sebastián Zunino Singh, pp. 47-64., considerando o caso das linhas ferroviárias latino americanas, enumerou: o período de introdução de novas tecnologias; o fomento público para proporcionar meios e mão de obra especializadas; os predomínios ideológicos nacionalistas e transnacionais; o aprimoramento de conexões e redes das linhas; o desmantelamento das políticas públicas e privilégios locacionais de investimentos para atividades produtivas; a substituição do modal de passageiros por rodovias e aeroportos; e o ressurgimento de políticas públicas de mobilidade urbana vinculadas às novas demandas ambientais, como o privilégio por transportes com baixa emissão de carbono e tecnologia limpa (ibid., pp. 47-64).
E por fim, considerando o mesmo modal, mas inserido no meio urbano brasileiro, Maia e Santos y Ganges (2022MAIA, D. S.; SANTOS Y GANGES, L. (2022). Historia urbano-ferroviaria en algunas ciudades medianas brasileñas: diversas situaciones-tipo del efecto urbanístico de la estación en su crecimiento y estrutura urbana. In: III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE HISTORIA URBANA, pp. 3-16. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877343519300375?via%3Dihub. Acesso em: 8 jul 2023.
https://www.sciencedirect.com/science/ar...
, pp. 3-16) apresentam um sintético, mas completo repertório das influências da infraestrutura. Primeiramente, destacam as contradições do desenvolvimento do transporte ferroviário: por ser uma referência de modernidade quando do seu surgimento e, com o avanço da indústria automobilística, ter se transformado em barreira urbanística; pela prestação de serviços gerais (de transporte de passageiros e cargas) e, posteriormente, a especialização da logística; e pelos avanços tecnológicos, mas que vieram acompanhados de sua decadência. E, conclusivamente, apontam etapas que, no meio urbano, interferiram na riqueza das cidades; na formação de redes; no tecido urbano e no meio natural; na atração de investimentos; e no papel desempenhado pela cidade que sedia a infraestrutura.
Estimulada por essas leituras, a proposta das quatro etapas busca caracterizar um ciclo de operacionalização de infraestruturas no Brasil e identificar algumas das causas das incompatibilidades territoriais, pois ao identificar esses ciclos, é possível identificar como a reprodução de padrões incorre na reprodução de conflitos. Por isso, evitou-se a avaliação de um setor específico (por exemplo, o de transporte) ou de uma única escala (por exemplo, a urbana) e as etapas são ilustradas por provisões, eventos e intervenções ocorridas, predominantemente, entre os anos 1990 e 2010, dada a intensidade de implantação de novas infraestruturas e de intervenção em infraestruturas existentes. Sem desconsiderar casos historicamente conhecidos, foram utilizados estudos recentes, pois a escolha por múltiplos casos colabora no entendimento dos conflitos num largo espectro temporal e em diferentes níveis operacionais da infraestrutura, conforme as etapas abaixo:
a) Infraestrutura Pioneira: é a etapa em que a infraestrutura decorre da demanda existente, mas ainda incipiente; implantada com o início de um novo ciclo econômico, de uma nova cadeia produtiva, de avanços tecnológicos ou de novas formas de vida urbana. É marcada pela inovação, mas também pela experimentação e, portanto, pela diversidade na sua disseminação com diferentes soluções para uma mesma função. Respondem a novos valores culturais cujo propósito, em geral, é o de cumprir, estritamente, as funções para as quais foi concebida.
Requerem outras novas infraestruturas para seu funcionamento e expansão e por isso atraem serviços complementares ou mudam funções urbanas. Como ocorreu, por exemplo, com a expansão de ramais ferroviários que, ao consolidarem cidades como centros regionais, demandaram a implantação de avenidas e redes de saneamento (Minaré, 2023MINARÉ, M. F. (2023). Infraestrutura e planejamento no processo de urbanização de Uberaba-MG. Dissertação de mestrado. São Carlos-SP, Universidade de São Paulo.) para garantir condições adequadas à concentração de serviços e atividades produtivas. Contudo, nem sempre essa cadeia de impactos é inteiramente benéfica, pois incorrem em conflitos com as situações preexistentes. A construção do Parque Olímpico (no Rio de Janeiro, finalizado em 2016) requereu novas obras viárias para seu acesso e essas obras implicaram na remoção de aproximadamente 550 famílias da Vila Autódromo (Sánchez, Oliveira e Monteiro, 2016), resultando em reassentamentos marcados por danos sociais.
b) Infraestrutura Paradigmática: é a etapa da consolidação de um padrão hegemônico de infraestrutura por um programa bem delimitado de exigências e prospecções. Deriva de soluções aprimoradas, consolidadas e que se tornaram hegemônicas a partir do processo seletivo que ocorre durante a Infraestrutura Pioneira. Nessa etapa, a infraestrutura é concebida e implantada para ser modelo reproduzível em larga escala e, por isso, detém um forte caráter político e ideológico. Sua implantação, em geral, reforça padrões de tecidos urbanos já existentes, busca resolver problemas de larga escala, oculta os conflitos com a finalidade de não fragilizar sua propagação e está vinculada a estilos de vida e cadeias produtivas muito bem consolidados.
Sua implantação responde a objetivos que não se limitam às suas exclusivas funções como, por exemplo, a provisão de habitação para acelerar o crescimento econômico por meio do setor da construção civil. Em geral, essa etapa é marcada por disputas nacionais e internacionais de mercados e monopólios de tecnologias, bem como por impactos que ocorrem em rede ou de forma sistêmica nas cidades, como a expansão de linhas de metrô.
Os conflitos dessa etapa ficam bem evidentes pelos investimentos vinculados ao desenvolvimento nacional macroeconômico. A construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, com obras iniciadas em 2011 no Pará, tem repercutido junto às comunidades ribeirinhas (Fleury, 2013FLEURY, L. C. (2013). Conflito ambiental e cosmopolíticas na Amazônia brasileira: a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte em perspectiva. Tese de doutorado. Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.) diante da reprodução de um modelo de geração de energia em larga escala, com tecnologias historicamente consolidadas, mas com pouca aderência socioambiental que causa impactos irreversíveis. No âmbito urbano, a recente duplicação da rodovia BR-262 (derivada das obras do PAC, entre 2009 e 2016) tem intensificado a integração do mercado consumidor nacional e internacional na constituição do corredor Leste-Oeste da América do Sul, mas também tem gerado conflitos interurbanos, segregação de bairros e distritos, concorrências intermunicipais e tráfego regional no tecido urbano (Lima, 2023LIMA, M. G. (2023). Rodovia e cidade: a Rodovia BR-262 em Minas Gerais e seus aspectos urbano- -regionais. Dissertação de mestrado. São Carlos-SP, Universidade de São Paulo.).
c) Infraestrutura Obsoleta: é a etapa em que o sistema, a rede ou uma parte deles tem sua função substituída por uma infraestrutura pioneira ou paradigmática; não retém novos investimentos; ou não se adequa às novas demandas e tecnologias, deixando de responder com eficiência e segurança às suas funções originais. Ou, com investimentos triviais não atende às mudanças exógenas à infraestrutura, como a sobrecarga do sistema, as mudanças do entorno, a incorporação de novas tecnologias ou a incidência de eventos climáticos extremos. Nessa etapa, ocorre o desmantelamento e a decadência da infraestrutura com subutilização dos ativos territoriais, sua depreciação ou precarização, seus usos predatórios, seu abandono, seu envelhecimento, suas falhas e seu colapso. É o período em que a infraestrutura se torna pouco segura e passa a ser um resíduo territorial, ônus social na sua área de influência, causa de degradação socioambiental e de risco à vida.
Barragens operando em capacidade máxima e/ou sem manutenção exemplificam esse quadro que representa a etapa mais comprometedora da infraestrutura em relação à cidade e ao meio ambiente, como ocorreu com o colapso da barragem de rejeitos de minérios em Brumadinho-MG (2019), provocando 270 mortes além de danos sociais e ambientais nas bacias do Rio Paraopebas e do Rio São Francisco (Duarte et al., 2020DUARTE, S. F. et al. (2020). Impacto do rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro da Mina do Feijão, em Brumadinho, quanto ao uso e à cobertura do solo e à qualidade das águas superficiais do Rio Paraopeba. Revista UFMG, v. 27, n. 2, pp. 356-381.). Ou, por novas operações logísticas que ocorrem em tradicionais ramais ferroviários cujos trajetos percorrem centros urbanos e que os expõem à poluição sonora; à frequente interrupção do tráfego local; ao risco de acidentes; e ao colapso das centenárias estruturas de contenções não dimensionadas para a velocidade e para o peso das atuais composições (Tavares, 2022TAVARES, J. C. (org.) (2022). Projetos de urbanização no Estado de São Paulo: universidade, sociedade e as cidades. São Carlos, IAU/USP., pp. 53-85).
d) Infraestrutura Adaptada: é a etapa em que a infraestrutura passa por renovações adequando-se às novas demandas, buscando minimizar as obsolescências ou passando por recuperação, restauro, reforma, revitalização, refuncionalização e/ou tombamento. As adaptações buscam minimizar os impactos de seu envelhecimento, ineficácia, riscos ou inoperabilidade. Ocorrem por pressões sociais, transformações do entorno, atualização da cadeia produtiva e tecnológica ou dos rumos das políticas públicas nacionais. É a etapa demandada mais frequentemente por danos causados na etapa da Infraestrutura Obsoleta.
Proporcionam reconhecimento do valor material e imaterial das infraestruturas, das paisagens urbanas, do patrimônio arquitetônico e da necessidade de rever paradigmas em função das mudanças exógenas que causam a obsolescência. E podem se configurar como refuncionalização de equipamentos públicos (orlas ferroviárias, edifícios administrativos, etc.) antes mesmo de atingirem a etapa da precariedade com a finalidade de responderem a demandas específicas.
Mas, também, ocorrem por finalidades mais pragmáticas, como a tentativa de superar históricos e complexos conflitos, como aqueles derivados da construção do elevado João Goulart (antigo elevado Costa e Silva, o Minhocão) que foi inaugurado em 1971, na capital paulista, para atender ao setor de transporte. Sua implantação no centro da cidade gerou danos (Schenk, 1997SCHENK, L. B. M. (1997). Elevado Costa e Silva, processo de mudança de lugar. Dissertação de mestrado. São Paulo, Universidade de São Paulo.; Artigas, Melo e Castro, 2008) nas propriedades e na qualidade de vida de moradores e usuários da sua área de influência pelo desconforto, insegurança e risco à saúde. Outro caso recorrente é a modernização de aeroportos que também tem repercutido, negativamente, no entorno desses equipamentos porque as ampliações de terminais e pistas geram mais tráfego e, ao atraírem maior demanda, incidem sobre o tecido urbano consolidado atraindo novos interesses, forçando alterações de usos e ocupação do solo (Scatena, 2022SCATENA, T. P. (2022). Aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto: formação e conflitos em infraestrutura. Dissertação de mestrado. São Carlos, Universidade de São Paulo.) e requerendo remoções de classes sociais vulneráveis.
No Brasil, a sempre inacabada implantação da infraestrutura e a volatilidade institucional têm contribuído para esses ciclos porque alternam responsabilidades, opções políticas, porte de investimentos, referenciais tecnológicos e, principalmente, prioridades e escolhas locacionais. O tratamento de infraestrutura como pauta de governo e não como política de Estado compromete as continuidades das ações, acelera a transição dessas etapas e potencializa a recorrência desses conflitos. A cada ciclo, esses conflitos repetem-se ou se renovam, ampliando as complexidades das possíveis soluções.
Marcos conceituais em perspectiva
Então, como superar os impasses de padrões de provisão infraestrutural, no Brasil, marcados por esses embates? Hegemonicamente, as infraestruturas são propagadas pelo Estado por meio de planos, programas, projetos, obras, regulações; e são apropriadas pelo mercado por meio de concessões, serviços ou pela captura da mais valia. Essa lógica conduz a um predomínio finalístico da infraestrutura que leva a sobreposições de instalações e serviços nem sempre compatíveis entre si.
Observando os resultados desse processo e colocando, em foco, suas contradições e conflitos, é plausível afirmar que, no Brasil, as infraestruturas servem à estruturação e reestruturação de setores pela estruturação e desestruturação dos lugares onde são implantadas porque incorrem na alteração das dinâmicas do território sem necessariamente atendê-las. Os propósitos finalísticos e a compartimentação escalar acentuam esses efeitos que se concretizam em cada uma das etapas do ciclo operacional da infraestrutura. E para avançar a esse embate, é necessário compreender a infraestrutura como um fenômeno mais complexo e para além de suas próprias e exclusivas funções, tendo como abordagem novos marcos conceituais que colaborem no entendimento da infraestrutura como fator social.
Atualmente, o significado da palavra infraestrutura relaciona-se a partes subordinadas de muitos projetos e que são derivadas de sistemas responsáveis pelo movimento de recursos materiais, de energia, de resíduos, de pessoas e de poder. Essa complexidade carrega consigo a função de garantir segurança, informação, saúde, finanças, trânsito político e consciência ambiental. Seu significado pode ser sintetizado como uma ideia em formulação (event in thought) como passos racionalmente programados que articulam conhecimentos específicos e expectativas sociais aplicados ao cotidiano das pessoas.
Frequentemente, seus significados são incorporados por (e incorporam) discursos econômicos, de desenvolvimento, de governança e de tecnologia. E é a pretensa universalidade global baseada em padrões técnicos quem garante sua inserção nos transportes, comunicação e logística como meio de aplicar soluções homogêneas a condições adversas (Carse, 2017CARSE, A. (2017). "Keyword: Infrastructure. How a humble French engineering term shaped the modern world". In: HARVEY, P.; JENSEN, C. B.; MORITA, A. (eds.). Infrastructures and social complexity: a companion. Abingdon, Oxon; Nova York, Routledge, pp. 27-39., p. 28). A definição de infraestrutura passa, portanto, pelo seu entendimento como complexos sistemas de uma pluralidade de partes integradas que são a base de um projeto sempre mais abrangente que a sua concepção.
Como fator social, segundo Harvey, Jensen e Morita (2017, pp. 2-22), a infraestrutura retém aspecto simbólico por provocar mudanças ou intensificar relações de poder, ser suporte para conectividade e reconfigurar o cotidiano de quem as habita ou habita o seu redor. Pode ser interpretada pela melhora que ocasiona na expectativa de vida, nas relações comerciais, na reconfiguração dos corpos, nas sociedades e no conhecimento desde que funcione adequadamente. E a despeito da compreensão mais ortodoxa da sua invisibilidade, também pode ser definida como conjuntos materiais dispostos que geram efeitos e estruturam as relações sociais. Mas o que se observa é que não se pode atestar sua evolução como sinônimo de melhoria. As interações tornam-se cada vez mais difíceis e, a partir de determinado nível de complexidade, indefinidas.
Entender as infraestruturas, sua reprodução e as tecnologias que permitem sua ampla difusão, significa entender sobre quais padrões as pessoas vivem, quais as formas que submetem as relações sociais às ideologias políticas ou critérios setoriais que decidiram por determinadas soluções. Portanto, não é apenas um caráter tecnicista, construtivo ou ideológico, mas de relações sociais e, a rigor, da materialidade que estrutura uma parte dessas relações imateriais. Se, por um lado, eventos políticos, econômicos e sociais decidem por determinadas infraestruturas, por outro, essas infraestruturas provocam o redesenho territorial e das relações sociais, formando conexões ou obstáculos, facilidades ou impedimentos para seu desenvolvimento. A contradição é inata à infraestrutura, pois toda provisão articula e conecta, mas também forma barreiras e interrompe fluxos.
Compreender a infraestrutura como um fator social significa, ainda, avançar ao seu entendimento como serviço ou equipamento. Nesse sentido, a escala da infraestrutura não depende das dimensões, mas do raio de sua influência. E, topologicamente, precisa ser observada pelas suas complementaridades e dualidades: infraestruturas lineares não são grandes, mas são extensivas, capilarizam-se; infraestruturas radiais-concêntricas integram espacialmente, mas constituem centralidades e dependências; infraestruturas em sistemas abertos contam com mais opções de funcionamento, mas são mais vulneráveis a fatores externos; infraestruturas em rede rompem hierarquias, mas requerem simultaneidades para sua efetividade. E mesmo na imaterialidade das energias e comunicações, a infraestrutura é material e se concretiza pelos equipamentos que sustentam esses fluxos imateriais.
Com essa perspectiva social e a partir do convívio nas cidades, faz sentido o entendimento de Easterling (2014)EASTERLING, K. (2014). Extrastatecraft: the power of infrastructure space. Londres, Maple Press. no qual a infraestrutura se tornou um conjunto de normativas que moldam e dominam o cotidiano das pessoas formando o espaço infraestrutural. E que essas normativas ocorrem em escala global, configurando as formas de vida por condicionarem ações e tomadas de decisão, mesmo que não estejam em forma de lei. Denominado de extrastatecraft, são determinações consolidadas por diferentes agentes e governos que ocorrem fora da burocracia tradicional. Como um enclave exurbano ou extra estatal orientado por padrões internacionais que estandardizam relações, trocas, fluxos e domínios.
No que se convencionou denominar de infraestrutura urbana, mesmo no âmbito internacional e, especialmente, latino-americano (Jirón e Imilán, 2021JIRÓN, P.; IMILÁN, W. (2021). "Infraestructuras temporales o las precarias formas de construir ciudad en América Latina". In: SINGH, D. S. Z.; PIGLIA, M.; GRUSCHETSKY, V. (orgs.). Pensar las infraestructuras em Latinoamérica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dhan Sebastián Zunino Singh, pp. 245-260., pp. 246-247), considera-a pelos serviços, instalações básicas e estruturas organizacionais fundamentais para o funcionamento adequado das cidades, comunidades e sistemas em geral, como para a atividade econômica de negócios, para coesão econômica e social, integração espacial, melhora de acessibilidade e redução de pobreza. Assim, são consideradas como utilidades públicas (sistemas de comunicação, linhas telefônicas e torres de celular, linhas de água e eletricidade, sistema de esgoto, saneamento, coleta de lixo e lixeiras, sistemas e dutos de gás); obras públicas (ruas, pontes, represas, reservatórios); transporte (linhas de trem, sistemas de transporte de massa, torres de controle aéreo); instituições públicas (colégios, hospitais, clínicas, centros de saúde, correios, prisões, bombeiros); parques, áreas de recreio e espaços públicos.
Interpretar a infraestrutura como fator social é, portanto, compreender como relações técnicas colaboram na afirmação de poderes e desigualdades. Ballent (2021BALLENT, A. (2021). “Del desierto al vergel. Los diques de la Dirección General de Irrigación del MOP (Argentina, 1900-1930)”. In: SINGH, D. S. Z.; PIGLIA, M.; GRUSCHETSKY, V. (orgs.). Pensar las infraestructuras em Latinoamérica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dhan Sebastián Zunino Singh, pp. 167-186., pp. 169-171) já demonstrou como as grandes obras são precedidas de pequenas obras, decisões eminentemente urbanas, atos políticos e representações sociais de vários níveis (nacional, provincial, local). E Gruschetsky (2021, pp. 155-160) confirmou como o mercado imobiliário aproveita-se dos investimentos públicos, sobretudo em rodovias, para expandir seus negócios e ampliar a demanda por terra urbanizada.
O que justifica que a infraestrutura possa ser observada como artefato (Singh, Piglia e Gruschetsky, 2021, p. 9) que transforma o território pela escala urbana, regional e global e, na forma de rede, conecta e desconecta conduzindo e regulando fluxos (de informações, pessoas, dinheiro, recursos); mobilizando forças sociais, políticas e materiais. E se, muitas vezes, as infraestruturas materializam o Estado no território (por meio de planejamento, construção, gestão, obras e serviços), na América Latina ainda prevalecem os interesses de autonomia frente aos desequilíbrios territoriais.
Por isso, a infraestrutura como política pública apresenta-se como símbolo da modernidade, mas, também, das limitações e tensões do Estado e entre o Estado, o mercado e a sociedade civil. A presença estatal ou da iniciativa privada tem sido tendência global, por isso a infraestrutura é, acima de tudo, resultado de circulações internacionais de saberes, especialistas, capitais e tecnologias (ibid., pp. 9, 17 e 18). Portanto, símbolo da modernização, mas também da dependência porque é um dos meios de domínios globais.
Conclusões
Diante desse quadro, pode-se afirmar que há três fatores que colaboram, com específica influência, para os conflitos gerados nos lugares onde incide a provisão infraestrutural: a sobreposição de infraestruturas cujas temporalidades e funcionalidades são divergentes; a conservadora dicotomia setorial-escalar que influencia sua concepção; e a hegemonia dos ciclos operacionais que reproduzem padrões de conflitos. O alto grau de interdependência e a contradição inata à topologia das infraestruturas reforçam as incompatibilidades comprovando o argumento central.
Conceitualmente, infraestrutura pode ser compreendida como sistemas tecnológicos baseados em conhecimento, trabalho e natureza. E como instituição ou organização, é a base sobre a qual materializam ou desmaterializam teorias e ideologias que formam a sociedade. Desse modo, é regime, gestão, discurso, construção e governança. Proporciona suportes para relações e sustenta – assim como se sustenta por – assimetrias e conflitos do desenvolvimento. Dialoga com os valores e símbolos da sociedade e, em certa medida, transforma-se neles, emergindo como superestruturas. Depende de conhecimentos específicos, mas também atua num panorama das decisões generalizadas como instrumento para crescimento econômico, para domínios políticos, reprodução do capital, construção de comunidades, cidades, regiões e territórios. Confunde-se com a história da tecnologia, do progresso e da modernidade, mas também sintetiza suas injustiças e contradições, reafirmando-as no ordenamento do território. Permanece, portanto, como condição essencial na urbanização.
E essa forma de urbanização baseada nas altas tecnologias, na velocidade, na comunicação, na ampliação de consumo e na transformação das cidades também tem levado a disputas mais acirradas pelo ar, pela água e, principalmente, pela terra. As mudanças climáticas, a insegurança hídrica e a desigualdade ao acesso à propriedade contrastam com os avanços de equipamentos autônomos, serviços por aplicativos, monitoramento permanente do cotidiano, cidades inteligentes, infraestruturas verdes e mercado de carbono baseado em novas tecnologias.
Na América Latina e, especialmente no Brasil, infraestrutura é sinônimo de políticas públicas e da presença do Estado, ainda que indiretamente por regulações e fiscalizações. Mas, também, campo inesgotável da disputa por maior lucro, por poder e dominação que oscila à medida dos ciclos econômicos e hegemonias culturais. E, independentemente de sua motivação ou impacto, é, frequentemente, entendida como sinônimo ou fator de melhoria e, por isso, sempre justificável ainda que seus resultados sejam contraditórios. A infraestrutura, quando provisionada sobre o território, constitui terra equipada como síntese da sociedade porque interfere na estrutura fundiária e tem alta capacidade de intensificar desigualdades e segregação.
Evidências que advogam pela compreensão da infraestrutura como fator social para assimilá-la como equipamento, como processo, como serviço, como dispositivo, como facilitadora, como ativo fixo, como indutora, como símbolo, como espaço, como contradição e como conflito. Porque, no Brasil, infraestrutura é oportunidade. Não necessariamente mais infraestrutura representa mais oportunidade. Mas sem infraestrutura não há oportunidade e quando concebida pelas evidências territoriais pode ser praticada como um fator social no combate às desigualdades, às vulnerabilidades e às segregações.
Nota de agradecimento
Processo 2022/01583-9. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp Processo 308936/2020-5. CNPq, Modalidade PQ, Nível 2 Rede CIAMClima. Processo 409032/2021-2. CNPq Modalidade Universal CPQ-IAU/USP – Comissão de Pesquisa
Referências
- ARTIGAS, R.; MELLO, J.; CASTRO, A. (2008). Caminhos do elevado. Memória e projetos São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Sempla.
- BALLENT, A. (2021). “Del desierto al vergel. Los diques de la Dirección General de Irrigación del MOP (Argentina, 1900-1930)”. In: SINGH, D. S. Z.; PIGLIA, M.; GRUSCHETSKY, V. (orgs.). Pensar las infraestructuras em Latinoamérica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dhan Sebastián Zunino Singh, pp. 167-186.
- BALLENT, A. (2022). Los diques de la dirección de irrigación del ministerio obras publicas en el Noroeste Argentino (NOA), 1900-1943. In: III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE HISTORIA URBANA, pp. 3-15.
- BÉGUIN, F. (1991). As maquinarias inglesas do conforto. Espaço e Debates, n. 34, pp. 39-68.
- BRASIL (1979). Lei n. 6.766, 19 de dezembro. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências [e suas modificações]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm Acesso em: 1º jul 2023.
» https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm - BRASIL (1991). Lei n. 8.173, 30 de janeiro. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quinquênio 1991/1995 - Anexo I - Diretrizes e objetivo gerais, pp. 78-91. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8173.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.173%2C%20DE%2030%20DE%20JANEIRO%20DE%201991.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Plano%20Plurianual,Art Acesso em: 1º jul 2023.
» https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8173.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.173%2C%20DE%2030%20DE%20JANEIRO%20DE%201991.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Plano%20Plurianual,Art - BRASIL (1996). Lei n. 9.276, 9 de maio. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 1996/1999 e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9276.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Plano%20Plurianual,cumprimento%20ao%20disposto%20no%20art Acesso em: 1º jul 2023.
» https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9276.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Plano%20Plurianual,cumprimento%20ao%20disposto%20no%20art - BRASIL (2000). Lei n. 9.989, 21 de julho. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2000/2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9989 Disponível em: htm#:~:text=LEI%20No%209.989%2C%20DE%2021%20DE%20JULHO%20DE%202000.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Plano%20Plurianual,cumprimento%20ao%20disposto%20no%20art. Acesso em: 1º jul 2023.
» https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9989 - BRASIL (2004). Lei n. 10.933, 11 de agosto. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2004/2007 Anexo I – Orientação Estratégica do Governo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L10.933.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2010.933%2C%20DE%2011%20DE%20AGOSTO%20DE%202004.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Plano%20Plurianual%20para%20o%20per%C3%ADodo%202004%2F2007.&text=Art.,%2C%20%C2%A7%201%C2%BA%20%2C%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o Acesso em: 1º jul 2023.
» https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L10.933.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2010.933%2C%20DE%2011%20DE%20AGOSTO%20DE%202004.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Plano%20Plurianual%20para%20o%20per%C3%ADodo%202004%2F2007.&text=Art.,%2C%20%C2%A7%201%C2%BA%20%2C%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o - BRASIL (2006). MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS. Monitoramento em números. Programa e ações do Plano Plurianual 2004-2007: ano base 2005. Brasília, MP. Disponível em: https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/103 Acesso em: 1º jul 2023.
» https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/103 - BRASIL (2010). 10º Balanço do PAC. Brasília-DF, [s.n.].
- BRASIL (2011). MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS. Plano plurianual 2012-2015: projeto de lei. Brasília, MP.
- BRASIL (2014). 10º Balanço do PAC. Basília-DF, [s.n.]. Disponível em: https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/365 Acesso em: 24 jun 2023.
» https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/365 - BRASIL (2018). 7º Balanço do PAC. Brasília-DF, [s.n.].
- BRASIL [s.d.]. MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Breve histórico sobre a evolução do planejamento nacional de transportes. [S.l.], DNIT.
- BRESCIANI, M. S. (1999). A palavra Melhoramentos Urbanos. Projeto estético e experiência afetiva. São Paulo 1650-1950. In: I SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO LES MOTS DE LA VILLE, v.1. Anais Porto Alegre, [s.n], pp. 1-31.
- CAMPOS NETO, C. A. da S. et al. (2009). Gargalos e demanda da infraestrutura portuária e os investimentos do PAC: mapeamento Ipea de obras ferroviárias. Brasília-DF, Ipea.
- CARDOSO, F. H. (2001). Mensagem ao Congresso Nacional: abertura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura Brasília, Presidência da República, Secretaria de Comunicação de Governo.
- CARDOSO, F. H. (2008). Avança, Brasil: proposta de governo Rio de Janeiro, Centro Edelstein de Pesquisas Sociais.
- CARSE, A. (2017). "Keyword: Infrastructure. How a humble French engineering term shaped the modern world". In: HARVEY, P.; JENSEN, C. B.; MORITA, A. (eds.). Infrastructures and social complexity: a companion Abingdon, Oxon; Nova York, Routledge, pp. 27-39.
- CHIQUITO, E. de A.; TREVISAN, R. (2022). Planejamento regional, infraestrutura e urbanização: o Complexo Urubupungá na Bacia do Paraná. In: III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE HISTORIA URBANA, pp. 33-52.
- CHRISTALLER, W. (1966). Central Places in Southern Germany Nova Jersey, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. Publicado originalmente em 1933.
- COSTA, E. J. M. da (2010). Arranjos produtivos locais, políticas públicas e desenvolvimento regional Brasília-DF, Ministério da Integração Nacional, Governo do Estado do Pará.
- D'ALESSANDRO, R. J.; BERNARDINI, S. P. (2022). Institucionalidades e práticas empresariais nas fronteiras do desenvolvimento territorial a partir das redes de energia elétrica no início do século XX em São Paulo. In: III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE HISTORIA URBANA, pp. 53-70.
- DARDOT, P.; LAVAL, C. (2016). A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal São Paulo, Boitempo.
- DUARTE, S. F. et al. (2020). Impacto do rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro da Mina do Feijão, em Brumadinho, quanto ao uso e à cobertura do solo e à qualidade das águas superficiais do Rio Paraopeba. Revista UFMG, v. 27, n. 2, pp. 356-381.
- DUPUY, G. (1991). Urbanisme de Reseaux, théories et méthodes Paris, A. Colin.
- EASTERLING, K. (2014). Extrastatecraft: the power of infrastructure space. Londres, Maple Press.
- EUFRASIO, M. A. (2013). Estrutura urbana e ecologia humana: a Escola Sociológica de Chicago (1915-1940). São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Sociologia da FFLCH-USP/Editora 34. Publicado originalmente em 1999.
- FLEURY, L. C. (2013). Conflito ambiental e cosmopolíticas na Amazônia brasileira: a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte em perspectiva. Tese de doutorado. Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- FOLIN, M. (1977). La ciudad del capial y otros escritos México-DF, Ediciones G. Gili.
- GEELS, F. W. (2019). Socio-technical transitions to sustainability: a review of criticisms and elaborations of the Multi-Level Perspective. Current Opinion in Environmental Sustainability, [s. l.], v. 39, pp. 187-201. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.06.009 Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877343519300375?via%3Dihub Acesso em: 8 jul 2023.
» https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.06.009» https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877343519300375?via%3Dihub - GRAHAM, S. (ed.) (2010). Disrupted cities. When infrastructure fails. Durham University, Routledge.
- GRAHAM, S.; MARVIN, S. (2001). Splintering urbanism. Networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition Londres/Nova York, Routledge.
- GRAHAM, S.; MCFARLANE, C. (eds.) (2015). Infrastructural lives. Urban infrastructure in context. Oxon, Nova York, Routledge.
- HARVEY, P.; JENSEN, C. B.; MORITA, A. (2017). "Introduction. Infrastructural complications". In: HARVEY, P.; JENSEN, C. B.; MORITA, A. (eds.). Infrastructures and social complexity: a companion Abingdon, Oxon; Nova York, Routledge, pp. 2-22.
- JIRÓN, P.; IMILÁN, W. (2021). "Infraestructuras temporales o las precarias formas de construir ciudad en América Latina". In: SINGH, D. S. Z.; PIGLIA, M.; GRUSCHETSKY, V. (orgs.). Pensar las infraestructuras em Latinoamérica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dhan Sebastián Zunino Singh, pp. 245-260.
- JOHNSON, D.; TURNER, C. (2017). Global infrastructure networks Cheltenham, Edward Elgar.
- LEFEBVRE, H. (1999). A revolução urbana Belo Horizonte, Ed. UFMG. Publicado originalmente em 1970.
- LIMA, M. G. (2023). Rodovia e cidade: a Rodovia BR-262 em Minas Gerais e seus aspectos urbano- -regionais. Dissertação de mestrado. São Carlos-SP, Universidade de São Paulo.
- LOJKINE, J. (1981). O estado capitalista e a questão urbana São Paulo, Martins Fontes.
- MAIA, D. S.; SANTOS Y GANGES, L. (2022). Historia urbano-ferroviaria en algunas ciudades medianas brasileñas: diversas situaciones-tipo del efecto urbanístico de la estación en su crecimiento y estrutura urbana. In: III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE HISTORIA URBANA, pp. 3-16. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877343519300375?via%3Dihub Acesso em: 8 jul 2023.
» https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877343519300375?via%3Dihub - MATIJASCIC, M.; GUERRA, A. L.; SILVA, R. A. (2010). "A presença física do Estado brasileiro no território". In: IPEA; MORAIS, M. P.; COSTA, M. A. (orgs./eds.). Infraestrutura social e urbana no Brasil: subsídios para uma agenda de pesquisa e formulação de políticas públicas, v. 6, n 2. Brasília-DF, Ipea, pp. 47-92.
- MATOS, O. N. (1974). Café e ferrovias São Paulo-SP, Alfa Omega.
- MINARÉ, M. F. (2023). Infraestrutura e planejamento no processo de urbanização de Uberaba-MG. Dissertação de mestrado. São Carlos-SP, Universidade de São Paulo.
- MORAIS, M. P.; COSTA, M. A. (2010). "Introdução". In: IPEA; MORAIS, M. P.; COSTA, M. A. (orgs./eds.). Infraestrutura Social e Urbana no Brasil: subsídios para uma agenda de pesquisa e formulação de políticas públicas, v. 6, n. 2. Brasília-DF, Ipea, pp. 19-43.
- OFFNER, J. M. (1993). Le développement des réseaux techniques. Flux, n. 13/14. Paris.
- OFFNER, J. M. (2001). "Are there such things as small networks?". In: COUTARD, O. (ed.). The Governance of large technical systems Londres; Nova York, Routledge Studies in Business Organizations and Networks, pp. 217-238. Publicado originalmente em 1999.
- PEREIRA, M. S. (1996). "Pensando a metrópole moderna: os planos de Agache e Le Corbusier para o Rio de Janeiro". In: RIBEIRO, L. C. Q.; PECHMAN, R. Cidade, povo, nação. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, pp. 363-376.
- PERROUX, F. (1966). Notas sobre la noción de pólos de Crecimiento. Consideraciones em torno a la noción de Pólo de Crecimiento. In: MECOR-SUDENE - ASSESSORIA TÉCNICA, DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS; SEMINÁRIO SOBRE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO. Separata de Cuadernos Venezelanos de Planificación, vol. II, n. 3-4. Recife, Mecor-Sudene, pp. 3-8.
- PIMENTEL, C. A. C.; COSTA, D. M.; RAVENA, N. (2023). Hidrelétricas na Amazônia como estratégia de desenvolvimento (2003-2016): uma abordagem heterodoxa sobre infraestruturas. Naea, v. 1, n. 1, pp. 1-19.
- POTTIER, P. (1963). Axes de communication et développement économique. Révue économique, v. 14, n. 1, pp. 58-132. DOI: https://doi.org/10.2307/3499503 Acesso em: 15 fev 2021.
» https://doi.org/10.2307/3499503 - RUFINO, B.; FAUSTINO, R.; WEHBA, C. (2021). "Infraestrutura em disputa: da construção crítica de um objeto de pesquisa à compreensão das transformações no contexto da financeirização". In: RUFINO, B.; FAUSTINO, R.; WEHBA, C. (orgs.). Infraestrutura na reestruturação do capital e do espaço: análises em uma perspectiva crítica. Rio de Janeiro, Letra Capital, pp. 9-33.
- RUTHERFORD, J. (2020). Redeploying urban infrastructure. The politics of urban socio-technical futures. Suíça, Palgrave Macmillan.
- SAKAGUCHI, M. A. (2005). O espaço das infra-estruturas: da cidade bela à cidade eficiente Tese de doutorado. São Paulo, Universidade de São Paulo.
- SÁNCHEZ, F.; OLIVEIRA, F. L.; MONTEIRO, P. G. (2016). Vila Autódromo em disputa: sujeitos, instrumentos e estratégias para a reinvenção do espaço. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 18, n. 3, pp. 408-427. Disponível em: https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/5363/pdf_1 Acesso em: 8 jul 2023.
» https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/5363/pdf_1 - SCATENA, T. P. (2022). Aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto: formação e conflitos em infraestrutura. Dissertação de mestrado. São Carlos, Universidade de São Paulo.
- SCHENK, L. B. M. (1997). Elevado Costa e Silva, processo de mudança de lugar Dissertação de mestrado. São Paulo, Universidade de São Paulo.
- SCOTT, A. J. et al. (2001). Cidades-Regiões Globais. Espaço e Debates, n. 41, pp. 11-25.
- SINGH, D. S. Z.; PIGLIA, M.; GRUSCHETSKY, V. (2021). "Introducción". In: SINGH, D. S. Z.; PIGLIA, M.; GRUSCHETSKY, V. (orgs.). Pensar las infraestructuras em Latinoamérica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dhan Sebastián Zunino Singh, pp. 9-21.
- TAVARES, J. C. (org.) (2022). Projetos de urbanização no Estado de São Paulo: universidade, sociedade e as cidades São Carlos, IAU/USP.
- TURNER, C. (2018). Regional infrastructure systems. The political economy of regional infrastructure Glos, Massachusetts, Edward Elgar Publishing.
- VALLEJO M. H.; TORNER, F. M. (eds.) (2003 [2002]). La ingeniería en la evolución de la urbanística Barcelona, UPC, Departamento de Infraestructuras del Transporte y Territorio (ITT), Universidad Politécnica de Cataluña.
- VELÁZQUEZ, M. A. (2021). "La heterogeneidad de la infraestructura ferroviaria latino-americana y sus prácticas de mantenimiento". In: SINGH, D. S. Z.; PIGLIA, M.; GRUSCHETSKY, V. (orgs.). Pensar las infraestructuras en Latinoamérica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dhan Sebastián Zunino Singh, pp. 47-64.
- VILLAÇA, F. (2001). Espaço Intra-Urbano no Brasil São Paulo, Studio Nobel/Fapesp/Lincoln Institut. Publicado originalmente em 1998.
- WHEBELL, C. F. J. (1969). A Theory of Urban Systems. Annals of Association of American Geographers, v. 59, n. 1. Taylor & Francis, pp. 1-27.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Maio 2024 -
Data do Fascículo
May-Aug 2024
Histórico
-
Recebido
12 Jul 2023 -
Aceito
10 Set 2023