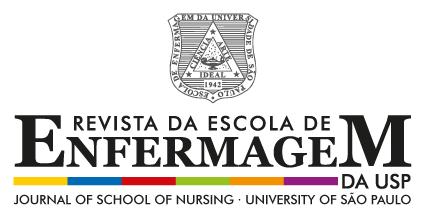Resumos
Objetivo
Conhecer as trajetórias que as mulheres percorrem desde a entrada até à saída de relações de violência exercida por parceiros íntimos (VPI), e identificar as fases do processo de transição.
Método
Utilizou-se um paradigma construtivista com recurso à grounded theory. Salvaguardaram-se as orientações éticas da OMS em matéria de investigação sobre violência doméstica. A análise centrou-se em narrativas de 28 mulheres sobreviventes de VPI, obtidas em entrevistas em profundidade.
Resultados
Referem que as trajetórias percorridas pelas mulheres foram atravessadas por questões de género, (auto)silenciamento, esperança e sofrimento, o que ultrapassou o fim da VPI.
Conclusão
O processo de transição é constituído por quatro fases: entrada - enamora-se e fica aprisionada; manutenção - auto-silencia-se, consente e permanece na relação; decisão de saída - enfrenta o problema e luta pelo resgate; (re)equilíbrio - (re)encontra-se com uma nova vida. Este (longo) processo foi atravessado por querer (e poder) autodeterminar-se.
Violência contra a mulher; Cônjuges; Saúde da mulher; Gênero e saúde; Cuidados de enfermagem
Objective
To understand the trajectories that women go through from entering into to leaving relationships involving intimate partner violence (IPV), and identify the stages of the transition process.
Method
We utilized a constructivist paradigm based on grounded theory. We ensured that the ethical guidelines of the World Health Organization for research on domestic violence were followed. The analysis focused on narratives of 28 women survivors of IPV, obtained from in-depth interviews.
Results
The results showed that the trajectories experienced by women were marked by gender issues, (self) silencing, hope and suffering, which continued after the end of the IPV.
Conclusion
The transition process consists of four stages: entry - falls in love and becomes trapped; maintenance - silences own self, consents and remains in the relationship; decides to leave - faces the problems and struggles to be rescued; (re) balance - (re) finds herself with a new life. This (long) process was developed by wanting (and being able to have) self-determination.
Violence against women; Spouses; Women’s health; Gender and health; Nursing care
Objetivo
Conhecer as trajetórias que as mulheres percorrem desde a entrada até à saída de relações de violência exercida por parceiros íntimos (VPI), e identificar as fases do processo de transição.
Método
Utilizou-se um paradigma construtivista com recurso à grounded theory. Salvaguardaram-se as orientações éticas da OMS em matéria de investigação sobre violência doméstica. A análise centrou-se em narrativas de 28 mulheres sobreviventes de VPI, obtidas em entrevistas em profundidade.
Resultados
Referem que as trajetórias percorridas pelas mulheres foram atravessadas por questões de género, (auto)silenciamento, esperança e sofrimento, o que ultrapassou o fim da VPI.
Conclusión
O processo de transição é constituído por quatro fases: entrada - enamora-se e fica aprisionada; manutenção - auto-silencia-se, consente e permanece na relação; decisão de saída - enfrenta o problema e luta pelo resgate; (re)equilíbrio - (re)encontra-se com uma nova vida. Este (longo) processo foi atravessado por querer (e poder) autodeterminar-se.
Violência contra a mulher; Cônjuges; Saúde da mulher; Gênero e saúde
Introdução
A violência afeta pelo menos uma em cada três mulheres e meninas em todo o mundo, sendo o abusador normalmente uma pessoa sua conhecida(101 Naciones Unidas. Asamblea General. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe del Secretario General (A/61/122/Add.1). Ginebra; 2006:). A violência contra as mulheres é todo o ato de violência baseado no género, do qual resulte, ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual e psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais atos e coacção ou privação arbitrária de liberdade, quer ocorra na vida pública ou privada(202 Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 48/104, del 20 de diciembre de 1993. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Ginebra: Naciones Unidas; 1993). O objetivo destas ações é a intimidação, a punição, a humilhação, a manutenção dos papéis estereotipados ligados ao gênero, ou recusar-lhe a dignidade humana, a autonomia sexual, a integridade física, mental e moral e abalar a sua segurança pessoal, a autoestima ou a sua personalidade, ou diminuir as suas capacidades físicas e/ou intelectuais.
As diferenças de poder, as normas culturais discriminatórias e as desigualdades económicas têm sido utilizadas para negar os direitos humanos das mulheres e perpetuar a violência, que se assume como um dos principais meios que permitem aos homens manter o seu controlo sobre a capacidade de ação e a sexualidade das mulheres(303 Naciones Unidas. Estudio del Secretario General. Poner fin a la violencia contra la mujer: de las palabras los hechos. Ginebra: Naciones Unidas; 2006). A violência persiste como uma violação generalizada dos direitos humanos das mulheres e um dos principais obstáculos para alcançar a igualdade de género. A maioria das sobreviventes / vítimas sofre em silêncio e não procura ajuda.
A violência exercida pelos parceiros íntimos (VPI) (ou violência nas relações de intimidade) é um tipo de violência que é normalmente exercida por um parceiro íntimo do sexo masculino e que causa um prejuízo ou sofrimento físico, psicológico ou sexual nas mulheres. Esta violência pode ser exercida pelo respectivo marido, companheiro, ex-marido, ex-companheiro ou outro homem que mantenha ou tenha mantido uma relação de intimidade com a mulher em causa(404 Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington; 2002).
A VPI é um fenómeno global: verifica-se em todas as sociedades humanas, sendo que em nenhum país ou cultura as mulheres estão livres deste tipo de violência. A ubiquidade deste tipo de violência - que desconhece fronteiras, perpassa culturas e abrange todas as classes sociais - radica no sistema patriarcal, na dominação sistémica das mulheres pelos homens. Tem encarcerado as mulheres nas suas relações (des)afectivas, onde tudo se vive portas adentro encoberto e protegido pela intimidade. As portas do (des)conhecimento têm vindo a abrir este domínio tradicionalmente fechado, oculto e ocultado, silencioso e silenciado(505 Johnson MP. A typology of domestic violence: intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence. Boston: Northeastern University Press; 2008).
O conceito global de violência no casal refere-se a uma série de fenómenos distintos que tem diferentes causas e apresenta diferentes trajetórias(606 World Health Organization. Family and Reproductive Health. Violence against women: a priority health issue. Geneva: WHO; 1997). Assim apresentam três tipos de violência que está organizada em torno de questões de poder e relações de controlo: (a) o terrorismo íntimo - envolve um padrão maior de controlo coercivo que integra a intimidação, o abuso emocional, o abuso económico, o isolamento, a minimização, a negação e a culpa, o uso das crianças e a afirmação do privilégio masculino, de modo a aterrorizar a sobrevivente / vítima. É o que com mais frequência produz lesões e efeitos na saúde a longo prazo; (b) a resistência violenta - envolve o uso de violência por parte da sobrevivente / vítima para resistir à situação ou como defesa face a uma situação de maior gravidade. O objetivo desta violência não é o controlo do parceiro ou da relação. Para algumas mulheres é uma reacção instintiva quando sofre um ataque e age quase sem pensar; (c) a violência situacional do casal - é o produto de conflitos ou tensões dentro da relação que leva um ou os dois elementos a reagir com violência. Pode ser um ato menor e isolado ou um problema recorrente e crónico em que um ou ambos os parceiros recorrem a atos de violência como forma de expressar a sua raiva extrema ou como forma de expressar a sua frustração(505 Johnson MP. A typology of domestic violence: intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence. Boston: Northeastern University Press; 2008).
A presente investigação focaliza-se na VPI exercida sobre as mulheres por parceiros íntimos, definindo-a como um conjunto de condutas de carácter abusivo perpetrado pelos homens sobre as mulheres de forma intencional, habitualmente de modo continuado, podendo envolver ações de violência física (e.g., maus tratos físicos e sexuais) e não física (e.g., formas de controlo, omissões).
No fim do século vinte, a VPI foi reconhecida como um dos maiores riscos para a saúde pública(606 World Health Organization. Family and Reproductive Health. Violence against women: a priority health issue. Geneva: WHO; 1997) revelando-se, nacional e internacionalmente como uma problemática que implica perdas para o bem-estar pessoal e a segurança da comunidade. A literatura apresenta elevada convergência sobre a natureza da VRI, bem como, da prevalência e do impacto na saúde das mulheres. Os resultados de um estudo transnacional(707 World Health Organization. WHO Multi-country study on women’s health and domestic violence against women. Geneva: WHO; 2005) apontam para um padrão de violência física continuado que oscilou entre 13% e os 61% e na maioria dos lugares estudados oscilava entre os 23% e os 49%; a taxa de prevalência da violência sexual oscilava entre 6% e 59%, sendo na maioria dos locais entre 10% e 50%; e 20% a 75% das mulheres haviam experimentado um ou mais atos de violência psicológica. As relações de subordinação e intimidação, vulgarmente silenciadas pelas desigualdades nas relações de género, conduzem ao auto-silenciamento, tornam-se invisíveis, prolongando-se por longos períodos de tempo, durante os quais, muitas vezes, a violência não é reconhecida pela própria sobrevivente.
Os resultados de diferentes investigações tem sido convergentes e revelam que partilhar a vida com um homem que exerce violência sobre a sua parceira podem ter uma repercussão profunda na saúde desta mulher, quer a curto, quer a médio, quer a longo prazo(404 Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington; 2002) e tem um impacto negativo (ou muito negativo) no desenvolvimento físico e mental e na saúde sexual e reprodutiva. Do mesmo modo que o consumo de tabaco e álcool, ser vítima/sobrevivente de violência pode considerar-se um fator de risco para uma diversidade elevada de doenças(404 Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington; 2002,808 Breiding MJ, Black MC, Ryan GW. Prevalence and risk factors of intimate partner violence in eighteen U.S. States/Territories, 2005. Am J Prev Med. 2008;34(2):112-8).
O International Council of Nurses (ICN)(909 International Council of Nurses. Dossier of promoting the fight against violence. Geneva: ICN; 2001) reconhece a relevância da VPI e reforça a ideia de que a tolerância da sociedade face a tais abusos tem sido um facto que contribui para a existência de tais comportamentos, pois em muitas sociedades o abuso das mulheres é entendido como um comportamento aceitável e justificado como parte normal e de rotina da vida conjugal.
Entendemos importante conhecer quais os contributos da enfermagem sobre o fenómeno e quais as intervenções a desenvolver pelos enfermeiros para ajudarem as mulheres sobreviventes de VPI a encontrar novos modos de viver e de ser pessoa, no sentido de reformularem a sua autoidentidade e a reconstruírem os seus projectos de vida sem VPI. Para isso é importante conhecer as trajetórias vividas por estas mulheres não só desde a entrada até à saída da relação – o que já tem sido estudado - mas em todo o processo de transição desde a entrada na relação até à reconstituição da vida sem VPI.
Sabendo que Meleis considera a transição como um conceito central e relevante na disciplina de Enfermagem que tem contribuído para a sua estabilidade(1010 Meleis AI. Theoretical nursing: development and progress. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007), procuramos então compreender os processos de transição enquanto experiências vividas pelas mulheres sobreviventes da VPI. Segundo um estudo(1111 Van Loon A, Kralik D. A self-help companion for the healing journey of survivors of child sexual abuse. Adelaide: Royal District Nursing Service Foundation Research Unit, Catherine House; 2005), transição é um processo de passagem durante o qual as pessoas redefinem o seu sentido do eu e passam a desenvolver uma nova acção individual em resposta a eventos de vida disruptivos. A transição requer da pessoa capacidades para incorporar novos conhecimentos, para alterar comportamentos e até para mudar a definição do seu self no contexto social(1010 Meleis AI. Theoretical nursing: development and progress. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007).
O foco central da enfermagem consiste em facilitar as transições na vida das pessoas, famílias e comunidades, procurando que as experiências vividas nesses processos sejam promotoras de saúde e de bem-estar(1010 Meleis AI. Theoretical nursing: development and progress. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007).
Método
Optámos pela grounded theory, pois esta metodologia permite-nos explorar os processos sociais nas interações humanas e assume-se como uma linha metodológica que tem as suas raízes no interaccionismo simbólico(1212 Streuberg HJ, Carpenter DR. Investigação qualitativa em enfermagem: avançando o imperativo humanista. 2ª ed. Loures: Lusociencia; 2002). Esta linha metodológica procura o conhecimento da percepção ou do significado que determinada situação ou objecto tem para o outro, ou seja, a maneira como as pessoas definem os acontecimentos e como agem em relação às suas crenças. Deste modo, torna-se útil em situações de natureza psicossocial permitindo obter detalhes acerca de fenómenos como sentimentos, processo de pensamento e emoções, que são difíceis de extrair ou compreender através de métodos de investigação mais convencionais(1212 Streuberg HJ, Carpenter DR. Investigação qualitativa em enfermagem: avançando o imperativo humanista. 2ª ed. Loures: Lusociencia; 2002-1313 Strauss A, Corbin J. Basic of qualitative research grounded theory: procedures and techniques. 2ª ed. London: Sage; 1990).
Procurávamos casos teoricamente úteis e isso conduziu-nos a selecionar participantes em função da informação que nos poderiam proporcionar relativamente ao objecto de estudo – transição para uma vida sem VPI. O acesso às participantes foi obtido formalmente através de dois gabinetes / núcleos de atendimento a vítimas de violência da zona centro de Portugal. Informalmente chegaram até nós outras mulheres sobreviventes à VPI, pelo método bola de neve, pois o conhecimento que as entrevistadas tinham de outras mulheres permitiu o acesso a novas participantes.
Uma vez que se trata de um estudo qualitativo não foi nosso objetivo incluir um elevado número de casos, mas antes selecionar os casos de acordo com as suas potencialidades, ou seja, reunirem condições de informação e de partilha que nos permitissem desenvolver insights na área em estudo. Assim, tomamos como princípio a diversificação de mulheres e optámos pelo critério de saturação teórica, terminando quando deixaram de surgir novos aspectos relacionados com a essência do fenómeno(1212 Streuberg HJ, Carpenter DR. Investigação qualitativa em enfermagem: avançando o imperativo humanista. 2ª ed. Loures: Lusociencia; 2002).
Sabendo que a VPI é transversal a todas as idades, estratos socioculturais e graus académicos, selecionamos uma amostragem teórica que nos permitiu integrar mulheres sobreviventes de VPI oriundas de contextos geográficos diferentes - mais rurais e mais urbanos - com uma vasta diversidade de idades, níveis de escolaridade, estratos socioculturais, profissões e estados civis. Integrámos mulheres com poucos e muitos anos de relações de intimidade e de anos de VPI e com nenhum ou vários filhos.
Toda a informação foi obtida em entrevistas individuais semiestruturadas em profundidade. Optámos por realizar entrevistas narrativas, pois pretendíamos conhecer as trajetórias das relações de intimidade onde tinha ocorrido VPI e por isso precisávamos que as participantes nos narrassem os seus percursos de vida desde a entrada até à saída da relação com violência, seguida da reestruturação que tiveram de fazer. A opção pela entrevista semiestruturada deve-se ao facto de os objetivos estarem clarificados e bem definidos. Elaborámos um guião para nos ajudar a ter presente o que procurávamos. Este foi sendo ajustado no decorrer do processo de colheita de informação - acrescentamos indicadores de aprofundamento, concretamente na fase de balanço - não sendo alterada a essência do documento inicial.
A recolha de informação ocorreu entre junho de 2008 e setembro de 2010. O acesso directo às participantes para a realização das entrevistas foi negociado com cada uma após conhecermos a sua disponibilidade para participar no estudo. As mulheres que estavam a ser acompanhadas nos gabinetes/núcleos de atendimento a vítimas foram previamente informadas pelas técnicas dos núcleos. Os primeiros contactos foram realizados por telefone e/ou por email. Marcámos as entrevistas presenciais no dia, hora e local que era mais favorável a cada uma.
Ainda que todo o processo de colheita e análise da informação tenha ocorrido em simultâneo, existiram períodos onde fizemos paragens para uma análise mais cuidada sobre os achados que íamos encontrando, de modo a repensarmos e redefinirmos os percursos seguintes. Esta fase integrou três períodos: 1º período - entrevistas narrativas presenciais a dezesseis (16) mulheres que tinham decidido sair da relação de violência para a qual (a maioria) tinham procurado ajuda; 2º período - entrevistas narrativas presenciais a quinze (15) mulheres que já tinham saído da relação de violência e se autodesignavam estar a viver uma nova fase das suas vidas; 3º período - entrevistas para validação da análise dos achados e colheita de mais informação sobre duas áreas que não tínhamos conseguido compreender com a análise da informação já recolhida. Estas entrevistas foram realizadas com as mulheres entrevistadas no segundo período. Participaram no estudo vinte e oito mulheres sobreviventes à VPI sendo que três participaram nos três períodos de colheita de dados.
Toda a colheita de informação foi realizada diretamente pela investigadora. No início foi sempre entregue um documento escrito com o convite para a participação, que referia a identificação da investigadora, os objetivos, a salvaguarda de aceitar voluntariamente participar e a liberdade de poder desistir em qualquer fase do processo, mesmo após o consentimento. Todas as entrevistas foram gravadas em suporte magnético - após autorização das participantes - e transcritas em suporte informático, sendo atribuído um nome fictício a cada participante.
Seguimos todas as orientações de análise de informação da grounded theory referentes à codificação aberta, codificação axial e codificação selectiva(1313 Strauss A, Corbin J. Basic of qualitative research grounded theory: procedures and techniques. 2ª ed. London: Sage; 1990). A ordenação e análise da informação foi-se sobrepondo à recolha da informação de uma forma sequenciada(1313 Strauss A, Corbin J. Basic of qualitative research grounded theory: procedures and techniques. 2ª ed. London: Sage; 1990). Terminamos a colheita de dados quando alcançamos o momento em que não encontrávamos mais categorias ou subcategorias nas entrevistas que estávamos a realizar e as propriedades e dimensões que continuavam a emergir não eram consideradas suficientemente relevantes para a caracterização das respectivas categorias ou subcategorias já definidas. Entendemos que tinha chegado a fase em que podíamos integrar e relacionar as diferentes categorias. Para organizarmos a inter-relação entre as diferentes categorias precisávamos encontrar a categoria central, ou seja, identificar a categoria principal da investigação. Construímos diagramas que nos serviram para rever a consistência interna e refinar o processo de transição. Elegemos então como categoria central Querer (e poder) autodeterminar-se.
No que se refere ao rigor na análise da informação a ênfase foi colocada na heterogeneidade e contextualização do conhecimento e não na generalização das interpretações e dos resultados. Procurámos fazê-lo com o máximo rigor e para isso usámos alguns critérios que fomos seguindo ao longo de todo o processo. No que se refere à ordenação e análise das informações seguimos as pistas de auditoria, ou seja, criamos suportes de informação que demonstrassem os procedimentos desenvolvidos e as opções tomadas, permitindo a possibilidade de outros investigadores poderem reconstruir o processo que nos conduziu às conclusões e dos quais apresentamos alguns exemplares ao longo do texto e em anexo. O segundo critério utilizado referiu-se à validade das interpretações. Para o conseguirmos desenvolvemos várias estratégias: validação feita pelas participantes sobre a análise que íamos desenvolvendo - após cada entrevista onde apresentávamos às participantes os resultados da análise das narrativas anteriores; validação dos quadros gerais sobre as trajetórias das mulheres sobreviventes de violência exercida por parceiros íntimos: fases e padrões, por todas as mulheres que participaram no segundo período de colheita de informação; interação da recolha e análise da informação, da leitura de literatura formal e informal e da discussão das interpretações com outras investigadoras. Destacamos a validação da metodologia de colheita e de análise com duas peritas internacionais no domínio da enfermagem e da VPI - classificadoras múltiplas - que permitiu validar as diferentes categorias que caracterizavam as trajetórias e o processo de transição, verificar a lógica interna de cada categoria e a sua relação, os conceitos, as propriedades e as dimensões de cada uma.
Participaram do estudo vinte e oito (28) mulheres, todas caucasianas e de nacionalidade portuguesa, residentes em diferentes distritos e a maioria (21) vivia em meio urbano. Os níveis de escolaridade destas mulheres distribuíam-se entre o 1º ciclo - onde se encontra o maior número (9) - e duas (2) em fase de conclusão do doutoramento. As suas idades oscilavam entre os 23 e os 62 anos e a média era de 42 anos. Relativamente à situação conjugal, a maioria das mulheres (11) encontrava-se a viver separada do agressor, mas em processo de divórcio. Dez (10) mulheres viviam só com os filhos e oito (8) viviam com os agressores e com os filhos, mantendo-se três (3) casadas e três (3) em processo de divórcio. É de referir que estas mulheres, independentemente da situação conjugal, já tinham decidido terminar / sair da relação, estando umas a preparar a saída enquanto outras continuavam a viver com o agressor porque não tinham outro local onde pudessem viver com os filhos. Vinte e três (23) mulheres tinham filhos, sendo que a maioria (9) tinha um filho e as restantes dividem-se em dois grupos: sete (7) tinham dois filhos e sete (7) têm três ou mais filhos. Relativamente ao número de abortos verificamos que em dezasseis (16) mulheres ocorreu pelo menos um (1) aborto e em duas (2) mulheres ocorreram quatro ou mais abortos. Quanto à religião vinte e quatro mulheres (24) assumiram-se como católicas ainda que quase metade (11) referisse que não era praticante. Dezenove (19) participantes, até à data, só tinham vivido numa relação de intimidade e as restantes (9) viveram duas relações de intimidade. Das nove (9) mulheres que viveram duas relações de intimidade, é de referir que todas viveram situações de violência na primeira relação e três (3) foram vítimas / sobreviventes em ambas as relações.
Não poderíamos deixar de salvaguardar os princípios éticos exigidos a todos os processos de investigação. Tendo presente a complexidade e a sensibilidade do problema em estudo e as implicações que as situações de violência provocam nas mulheres sobreviventes de VPI - aumentando a sua fragilidade e acentuando a sua vulnerabilidade - procurámos proteger os direitos humanos e salvaguardar o princípio da não maleficência em todas as decisões que tivemos que tomar. Tivemos presente que a colheita de informação através de entrevista podia aumentar a fragilidade das participantes, concretamente quando foram abordados certos assuntos ou acontecimentos como agressões que colocavam a sua vida em risco, rupturas de relação, afastamento da habitação e desmembramento da família.
Nestas situações procurámos respeitar a sua vontade, e sempre que o desejaram fizemos o encaminhamento para os recursos existentes na comunidade que nos pareciam mais adequados. No caso das mulheres que estavam a ser apoiadas por núcleos de atendimento, a orientação era feita em articulação com o respectivo núcleo. No que se refere à relação próxima e pessoal entre investigadora - participante a que as entrevistas muitas vezes conduziram e sabendo das susceptibilidades que as mulheres participantes poderiam apresentar, identificámos problemas que requeriam orientações ou intervenções terapêuticas, sociais, jurídicas e de segurança. Sabendo que a investigação em enfermagem procura conjugar os princípios de investigação rigorosa com a preocupação genuína com o bem-estar dos participantes procurámos assegurar o rigor na colheita de informação e posteriormente proporcionámos a orientação que considerámos mais adequada a cada mulher. Para ajudar em todo este processo, contámos com o apoio técnico dos núcleos locais de apoio a mulheres vítimas e, sempre que consideramos adequado, da delegação de Coimbra da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), para onde estas mulheres, respeitando a sua vontade, foram referenciadas, após solicitação e aceitação de pedido de colaboração para o efeito.
Em simultâneo, respeitámos o princípio da autonomia, procurando obter o consentimento informado de todas as participantes e respeitando as suas decisões. Para isso assegurámos que as participantes possuíam informação adequada e suficiente no que se refere à investigação; assegurámos que eram capazes de compreender essa informação e que detinham a capacidade de escolher livremente, podendo consentir ou declinar voluntariamente a sua participação. Quando estas condições estavam asseguradas solicitámos às mulheres que manifestassem e assumissem por escrito a sua vontade em participar no estudo, lendo e assinando em duplicado uma declaração em que a investigadora salvaguardava todos os direitos de autodeterminação, liberdade e identidade. Foi sempre uma das declarações a cada participante. Relativamente aos princípios de beneficência e justiça, foi sempre assegurada a confidencialidade de todas as participantes. Asseguramos que as divulgações dos resultados seriam feitas de modo a não serem identificadas e foram atribuídos pseudónimos.
Em síntese, foram cumpridas as recomendações do International Council of Nurses (ICN)(909 International Council of Nurses. Dossier of promoting the fight against violence. Geneva: ICN; 2001) e da Organização Mundial da Saúde - OMS(1414 Organización Mundial de la Salud. Dando prioridad a las mujeres: recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación sobre la violencia doméstica contra las mujeres. Ginebra: OMS; 2001) em matéria de ética e segurança na investigação ligada à violência doméstica: segurança das participantes; protecção da confidencialidade com vista à segurança das mulheres e da qualidade dos dados; implementação das ações necessárias com vista a reduzir os prejuízos causados aos participantes; assumir a obrigação ética de interpretação correcta dos dados e utilização dos resultados para desenvolvimento de políticas e implementação de medidas adequadas.
Resultados
Neste (longo) percurso de vida, podemos verificar que as entradas em relações com VPI foram muito subtis quase sempre não identificadas, enquanto as trajetórias se assumiram como processos complexos. Para a maioria das participantes foram muito difíceis de identificar e (re)conceptualizar, de assumir e de gerir.
As vinte e oito participantes viveram nas relações de intimidade diferentes tipos de violência expressas de formas diferentes: física, psicológica e sexual. Salienta-se que vinte e duas (22) participantes referiram que a violência se iniciou no namoro, ainda que na altura não identificassem esses sinais, concretamente porque a violência foi essencialmente psicológica - onde se destaca o controlo, o ciúme e as agressões verbais - e a violência sexual - expressa através de pressão para atividades e / ou comportamentos sexuais não desejados. Podemos verificar que nesta fase da relação - namoro - a violência física foi a menos frequente, só referida por tês (3) mulheres - e a quase totalidade referiram que foram alvo de violência psicológica.
Após o início de vida em comum a violência generalizou-se aos diferentes tipos - física, psicológica e sexual - e somente uma participante referiu nunca ter sido vítima de violência sexual, ou seja, vinte e sete (27) mulheres foram alvo dos três tipos de violência na(s) sua(s) relação/ões de intimidade. A mais frequente - dificilmente identificada enquanto tal - mas referida por quase todas como a mais difícil de suportar foi a violência psicológica, aquela que ninguém vê e que aparentemente não deixa marcas. Foi a que lhes provocou os momentos mais difíceis de esquecer. Mesmo sendo a mais devastadora, muitas participantes demoraram anos a reconhecê-la e a identificá-la como violência. O número de anos que as mulheres viveram VPI oscilou entre dois (2) e trinta e sete (37) anos. A média de número de anos de VPI vividos por estas vinte e oito participantes foi de dezesseis (16) anos.
O processo de transição destas vinte e oito mulheres desenvolveu-se em quatro fases: entrada, manutenção, decisão de saída e (re)equilíbrio. Este processo pode ser dividido em dois períodos distintos: o primeiro integra as fases de entrada e manutenção da VPI e o segundo inicia-se com a decisão de saída da relação e termina com o (re)equilíbrio conseguido com a reconstrução da sua identidade. Assume-se como marco disruptivo a tomada de decisão de abandonar a relação.
No primeiro período as mulheres viveram duas realidades conflituantes: uma integrava a idealização de relação de intimidade sustentada no amor romântico e no casamento. A outra realidade integrava a desilusão desta relação e a VPI. A primeira foi alimentada pelo desejo que os parceiros mudassem ou pela esperança de que elas fossem capazes de os mudar. Esta atitude fez com que não identificassem (fase da entrada) ou desvalorizassem a VPI (manutenção), ainda que esta fizesse parte e alterasse as suas vidas. Passar para a fase de manutenção implicou que identificassem a VPI mas não a quisessem assumir face aos outros, o que as fez auto-silenciarem-se. As suas vidas estavam centradas na gestão da VPI, fazendo com que activamente se submetessem à vontade dos seus parceiros e se fossem despersonalizando. Por vezes sentiam uma força interior que as fazia problematizar as suas situações de vida e questionar a continuidade da relação, pois sentiam que estavam a esgotar, sem êxito, as suas capacidades e estratégias de manutenção da relação.
No segundo período - decisão de saída e (re)equilíbrio - as mulheres começaram a direcionar-se para a saída ao colocarem outros rumos para as suas vidas, passando a reconceptualizar os significados e os acontecimentos relacionados com a sua relação com VPI. Em consequência de vários acontecimentos (frequentemente relacionados com os filhos e com a sua segurança) e concretamente por respeito a si mesmas - geralmente em solidão - assumiram que tinham de mudar de vida e decidiram sair da relação, começando um processo de separação emocional e físico, mantendo-se ou não a viver no mesmo domicílio com o parceiro. Começou a quarta e última fase - (re)equilíbrio - onde resistiram e lutaram pela sua independência, enquanto reconstruíram a sua identidade. O início da última fase - reajuste a uma (nova) vida - foi um período significativamente difícil, porque quase sempre se manteve a VPI (muitas vezes mais agravada) associada à monoparentalidade e à reconstrução de uma nova vida, com muito pouco suporte social. Mas as experiências de autonomia aumentaram a autoconfiança, ajudaram-nas a procurar a identidade que tinham perdido, a redefini-la e a concretizarem-se noutra vida com outros sentidos, ainda que muito difícil. Finalmente sentiram que podiam e que estavam a concretizar.
As quatro fases referidas são sequenciais, mas não são estanques, não são lineares, nem são exclusivas. O que aconteceu numa fase desencadeou e continuou na fase seguinte. Foi um processo demorado - oscilou entre quatro e trinta e nove anos desde a entrada ao (re)equilíbrio - e desenvolveu-se em espiral, mais ou menos apertada, em torno do querer (e poder) autodeterminar-se numa vida livre de VPI. O significado preponderante desta transição foi a conversão, traduzida por uma transformação, que conduziu a uma reconstrução de significados e de identidade no feminino.
O processo de transição foi atravessado e dificultado por questões de género que sustentaram desigualdades e comprometeram o processo de desenvolvimento humano - desde a entrada até ao (re)equilíbrio - obtido com a reconstrução do sentido do eu. Foi um percurso habitualmente longo, vivido com muitas ambivalências e muito sofrimento, que requereu muita força, muita coragem, muita autodeterminação, não só para sobreviver ao longo do processo e para tomar a decisão de saída, mas para a concretizar, para resistir e (re)começar uma fase inicialmente marcada por mais violência(s), com menos segurança e com mais dificuldades económicas e sociais de vária ordem. Mas, o forte desejo, quiçá necessidade, de se realizar e ter uma vida em paz, ajudou-as a lutar durante anos, não só contra o agressor, mas também contra as amarras socioculturais que as prendiam dentro de si mesmas e nos seus contextos sociais alargados, que para muitas também são muito violentos.
Como jovens mulheres socialmente muito bem integradas, tornaram-se (e)namoradas (e/ou esposas) foram-se tornando aprisionadas, sentiram-se vítimas / sobreviventes de uma relação com VPI e por último, tiveram de se assumir como resistentes para suportarem não só a VPI, mas também uma violência sustentada em fortes pilares de género. Porém, todas as experiências vivenciadas e impulsionadoras de mudanças nas vidas das participantes, o modo como as assumiam, como as integraram e como responderam, decerto, repercutiu na forma como desenvolveram a transição.
Discussão
O(s) conhecimento(s) obtidos neste estudo com mulheres portuguesas sobreviventes de VPI, converge(m) com os resultados obtidos em estudos realizados na última década, quer a nível nacional quer internacional. Esta convergência refere-se especificamente: nas manifestações e tipos de violência sofridos; nos significados e expetativas do amor e das relações de intimidade; e nas características das trajetórias de mudança experienciadas pelas mulheres - fases ou etapas.
A VPI foi sentida por muitas participantes como uma privatização de uma violência estrutural, cultural e simbólica sobre as mulheres. Ou seja, uma culpabilização permanente pelo que não faziam, a desvalorização e humilhação constante a que eram submetidas, a vergonha e humilhação sentidas pelo vivido, a indiferença à opressão e à pessoa que as oprimia, o uso e a coisificação dos seus corpos para acalmarem o parceiro e diminuírem a violência: uma realidade que também observaram nas suas progenitoras e em muitas amigas e que foi sempre no feminino. As teorias do patriarcado e do amor romântico parecem estar entrelaçadas, desencadeando e favorecendo a manutenção das mulheres nas relações com VPI(1515 Souza PA, Da Ros MA. Os motivos que mantém as mulheres vítimas de violência no relacionamento violento. Rev Ciênc Humanas. 2006;(40):509-27).
Na primeira fase - entrada: enamora-se e fica aprisionada - as relações de amor / intimidade apareceram como algo demasiado importante para o bem-estar destas mulheres, o que parece ter influenciado as expetativas e o desejo não só de as iniciarem, mas de continuarem a investir no seu sucesso, para delas obterem os ganhos pretendidos. O não reconhecimento da VPI como problema e / ou a sua desvalorização foi influenciada pela vergonha, pelo receio de revelarem o que viviam / sentiam e serem mal entendidas ou humilhadas pelos outros(1616 Burke JG, Gielen AC, MacDonnell KA, O’Campo P, Maman S. The process of ending abuse in intimate relationships. Violence Against Women. 2001;7(10):1144-63), o que as conduziu a um progressivo isolamento e imobilização. Como (ainda) não identificam a VPI como problema, as mulheres apresentavam-se ambivalentes quanto à necessidade de mudança, estando por isso numa fase de ligação(1717 Landerburger KM. Explorations of woman’s identity: clinical approaches with abused women. In: Campbell J. Empowering survivors of abuse: health care for battered women and their children. Nwebury Park: Sage; 1998. p.61-9) e pré-contemplação(1818 Prochaska JO, Prochaska JM. Why don’t continents move? Why don’t people change? J Psychother Integr. 1999;9(1):83-102). Nesta fase as mulheres investiram tudo o que podiam para manter a relação e desenvolveram todos os esforços para fazer com que a relação desse certo, para evitar os conflitos e para prevenir outras situações de VPI(1717 Landerburger KM. Explorations of woman’s identity: clinical approaches with abused women. In: Campbell J. Empowering survivors of abuse: health care for battered women and their children. Nwebury Park: Sage; 1998. p.61-9). Para isso cederam às exigências do parceiro, na esperança de que o amor fizesse superar os problemas que sentiam(1919 Fishwick NJ, Campbell JC, Taylor JY. Theories of intimate partner violence. In: Humphers J, Campbell JC. Family violence and nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004. p. 29-58), à data e para muitas ainda não identificado como VPI(1616 Burke JG, Gielen AC, MacDonnell KA, O’Campo P, Maman S. The process of ending abuse in intimate relationships. Violence Against Women. 2001;7(10):1144-63). Permanecer na relação não foi um problema de passividade das mulheres, mas um dos muitos elementos que compunha o sistema de crenças que configura as desigualdades de género e que produziu significados, expetativas e comportamentos específicos(2020 Anderson DK, Saunders DG. Leaving an abusive partner: an empirical review of predictors, the process of leaving and psychological well-being. Trauma Violence Abuse. 2003;4(2):163-91).
Na segunda fase - manutenção: auto-silencia-se, consente e permanece na relação - as mulheres identificaram a VPI, assumiram-na, consentiram-na, silenciaram-na e passaram a (auto)geri-la, procurando controlá-la e minimizá-la. Não queriam acreditar no que estavam a viver e, por vezes, negavam os incidentes de VPI(1717 Landerburger KM. Explorations of woman’s identity: clinical approaches with abused women. In: Campbell J. Empowering survivors of abuse: health care for battered women and their children. Nwebury Park: Sage; 1998. p.61-9-1818 Prochaska JO, Prochaska JM. Why don’t continents move? Why don’t people change? J Psychother Integr. 1999;9(1):83-102,2121 Burkitt KH, Larkin GL. The transtheoretical model in intimate partner violence victimization: stage changes over time. In: Murphy CM, Roland D Maiuro RD. Motivational interviewing and stages of change in intimate partner violence. New York: Springer; 2009. p.273-303). Esta minimização permitiu-lhes diminuir a magnitude do problema e dificultou-lhes a adopção de comportamentos de mudança.
Na terceira fase - decisão de saída: enfrenta o problema e luta pelo resgate - iniciou-se com um processo de consciencialização, lento e gradual, que conduziu à análise dos ganhos e das perdas decorrentes das suas relações, passando a colocar duas hipóteses: manter ou abandonar a relação(2020 Anderson DK, Saunders DG. Leaving an abusive partner: an empirical review of predictors, the process of leaving and psychological well-being. Trauma Violence Abuse. 2003;4(2):163-91,2222 Wuest J, Merritt-Gray ML. Not going back: sustaining the separation in the process of leaving abusive relationships. Violence Against Women. 1999;5(2):110-33). Queriam ser livres e donas de si. Sentiam-se alienadas e perdidas. Sozinhas. Sentiam uma necessidade intrínseca de autorrealização e de respeito para consigo mesmas. Isto era estruturante e basilar para (voltarem a) serem dignas de si e das suas vidas. Estas necessidades eram incompatíveis com a manutenção da relação(1717 Landerburger KM. Explorations of woman’s identity: clinical approaches with abused women. In: Campbell J. Empowering survivors of abuse: health care for battered women and their children. Nwebury Park: Sage; 1998. p.61-9,2222 Wuest J, Merritt-Gray ML. Not going back: sustaining the separation in the process of leaving abusive relationships. Violence Against Women. 1999;5(2):110-33-2323 Merritt-Gray ML, Wuest J. Counteracting abuse and breaking free: the process of leaving revealed through women’s voices. Health Care Women Int. 1995;16(5):399-412). A saída e o abandono da relação foi a estratégia escolhida por todas as participantes. Mas tiveram de continuar a resistir à(s) violência(s): VPI, stalking, violência estrutural e simbólica(2424 Bourdieu P. A dominação masculina. Oeiras: Celta; 2001). Agora passavam a ser mais diversificadas, (muitas vezes) mais intensas e mais generalizadas.
Na quarta e última fase - (re)equilíbrio: resiste e (re)constrói uma nova vida em liberdade - os constrangimentos logísticos de reconstruírem sozinhas novas famílias, quase sempre com filhos, associada a uma VPI mais intensa, fizeram com que por vezes quase perdessem o controlo da situação(1717 Landerburger KM. Explorations of woman’s identity: clinical approaches with abused women. In: Campbell J. Empowering survivors of abuse: health care for battered women and their children. Nwebury Park: Sage; 1998. p.61-9,2323 Merritt-Gray ML, Wuest J. Counteracting abuse and breaking free: the process of leaving revealed through women’s voices. Health Care Women Int. 1995;16(5):399-412). Algumas não aguentaram e regressaram à relação, após pedidos de desculpas e solicitação dos parceiros(1616 Burke JG, Gielen AC, MacDonnell KA, O’Campo P, Maman S. The process of ending abuse in intimate relationships. Violence Against Women. 2001;7(10):1144-63,1818 Prochaska JO, Prochaska JM. Why don’t continents move? Why don’t people change? J Psychother Integr. 1999;9(1):83-102,2121 Burkitt KH, Larkin GL. The transtheoretical model in intimate partner violence victimization: stage changes over time. In: Murphy CM, Roland D Maiuro RD. Motivational interviewing and stages of change in intimate partner violence. New York: Springer; 2009. p.273-303). Voltaram a sair de novo. À segunda, terceira e/ou quarta tentativa conseguiram resistir e mantiveram-se afastadas definitivamente da relação de VPI. A procura e luta diária pela independência na reconstrução de um novo projecto de vida fez com que estabelecessem limites, desenvolvessem competências de assertividade - reclamando e mantendo o seu próprio território - e conseguiram aumentar a capacidade para assumirem riscos(2222 Wuest J, Merritt-Gray ML. Not going back: sustaining the separation in the process of leaving abusive relationships. Violence Against Women. 1999;5(2):110-33). Cada tomada de decisão, conquista ou sucesso funcionou como fortalecimento para que estas mulheres se mantivessem firmes e pudessem dizer para todos (ex-parceiro, familiares, sociedade em geral e também para si próprias): eu sou capaz! A autoeficácia era reforçada e assumia também especial relevância neste processo(1616 Burke JG, Gielen AC, MacDonnell KA, O’Campo P, Maman S. The process of ending abuse in intimate relationships. Violence Against Women. 2001;7(10):1144-63,1818 Prochaska JO, Prochaska JM. Why don’t continents move? Why don’t people change? J Psychother Integr. 1999;9(1):83-102).
Estes resultados reforçam os modelos em que as mulheres maltratadas são vistas como sobreviventes ativas em vez de vítimas desamparadas, pois com ou sem ajuda, persistiram nas relações até percepcionarem que tinham esgotado as hipóteses de as salvar, demonstrando poderes e estratégias criativas de sobrevivência à VPI. Optaram por terminar as relações e pedir ajuda quando a VPI aumentava e se agudizava. Ou seja, aumentavam os esforços e a procura de ajuda na medida em que aumentava a VPI(19).
Por tudo o que referimos sobre as trajetórias percorridas pelas mulheres sobreviventes da VPI, entendemos poder afirmar que os resultados obtidos no presente estudo apresentam muitas semelhanças e convergências com os processos e/ou modelos apresentados em outros estudos(16-17,21-22,24-26).
Conclusão
Partindo do conceito de transição em enfermagem, esta investigação faz o mapeamento da transição vivida pelas mulheres sobreviventes de violência exercida por parceiros íntimos (VPI) - uma emergência de saúde mundial e uma doença crónica com forte componente clínica e social. Considerando que os enfermeiros ocupam uma posição estratégica para promover e facilitar transições saudáveis, procurou-se conhecer as trajetórias que as mulheres percorrem desde a entrada até à saída de relações de violência exercida por parceiros íntimos (VPI) e identificar as fases do processo de transição a partir das experiências vividas pelas mulheres sobreviventes.
Os resultados permitem concluir que o processo de transição destas mulheres se desenvolveu em quatro fases: entrada - o sonho vivido no processo de enamoramento e a desilusão em que ficaram aprisionadas; manutenção - o vazio e o abandono vividos no processo de auto-silenciamento e de consentimento que as fez permanecerem na relação; decisão de saída - o desejo de libertação que as fez enfrentar o problema e lutar pelo auto-resgate; (re)equilíbrio - o (re)encontro consigo próprias resultante de um processo muito difícil de reconstrução de uma nova vida em liberdade. Este processo foi atravessado por querer (e poder) autodeterminar-se e sustentou-se em três pilares: querer ser livre; encontrar um sentido para a vida; (re) construir a sua identidade.
Como processo, este caminho não foi linear. Assumiu-se como um movimento oscilatório, complexo, muitas vezes com (aparentes) estagnações ou desvios e, por vezes mesmo com regressões. Mas, em todo este processo, se temos de falar de muito sofrimento, também temos de falar do sonho, da esperança e da luta. Tudo isto para poder ser uma mulher com direito à sua autodeterminação - vivendo (ou não) uma relação de intimidade - e poder usufruir daquilo a que por inerência tinha direito como pessoa e que o(s) outro(s) lhe roubaram durante anos: poder cumprir-se na sua humanidade e em liberdade poder assumir a condução da sua vida.
Para além da relevância das questões estudadas, da adequação das opções metodológicas e de termos conseguido atingir os objetivos a que nos propusemos, assumimos algumas limitações que podem ter influenciado os resultados obtidos neste estudo e sobre os quais entendemos necessário refletir. Gostaríamos de destacar o facto da maior parte da informação recolhida foi retrospectiva, o que implicou que as participantes reconstruíssem percursos e histórias de vida - na maioria de situações muito longas e que foram causa de muito sofrimento - o que pode ter sido impeditivo de se lembrarem com detalhe de todos os factos, significados, conhecimentos e sentimentos presentes durante todo o processo. Para diminuir esta limitação incluímos mulheres que tinham recentemente tomado a decisão de saída da relação e que ainda estavam a viver a situação de VPI. Entendemos que esta limitação pode ser colmatada com a realização de estudos longitudinais com mulheres sobreviventes de VPI, ainda que nos pareça difícil não só identificar, mas conseguir a colaboração destas participantes nas duas primeiras fases do processo de transição.
Os resultados obtidos permitiram identificar a VPI como um atentado aos direitos humanos das mulheres. Como ciência pós-moderna humana e prática, a enfermagem deve contribuir para uma consciência científica capaz de fazer da promoção da vida humana a sua essência filosófica, sustentada no conhecimento da pessoa e do seu ambiente e em valores éticos que salvaguardem os direitos humanos das mulheres. Por tudo o que é conhecido, gostaríamos de tornar presente que este estudo não deixa de ter um cariz exploratório no que se refere à transição nesta situação de vida das mulheres, o que, decerto, pode suscitar interesse de outros investigadores em lhe dar continuidade e aprofundar muitas das dimensões exploradas.
-
*
Extraído da tese “Mulheres sobreviventes de violência exercida por parceiros íntimos: uma transição sensível a cuidados de enfermagem”, Universidade Católica Portuguesa, 2012
References
-
01Naciones Unidas. Asamblea General. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe del Secretario General (A/61/122/Add.1). Ginebra; 2006:
-
02Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 48/104, del 20 de diciembre de 1993. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Ginebra: Naciones Unidas; 1993
-
03Naciones Unidas. Estudio del Secretario General. Poner fin a la violencia contra la mujer: de las palabras los hechos. Ginebra: Naciones Unidas; 2006
-
04Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington; 2002
-
05Johnson MP. A typology of domestic violence: intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence. Boston: Northeastern University Press; 2008
-
06World Health Organization. Family and Reproductive Health. Violence against women: a priority health issue. Geneva: WHO; 1997
-
07World Health Organization. WHO Multi-country study on women’s health and domestic violence against women. Geneva: WHO; 2005
-
08Breiding MJ, Black MC, Ryan GW. Prevalence and risk factors of intimate partner violence in eighteen U.S. States/Territories, 2005. Am J Prev Med. 2008;34(2):112-8
-
09International Council of Nurses. Dossier of promoting the fight against violence. Geneva: ICN; 2001
-
10Meleis AI. Theoretical nursing: development and progress. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007
-
11Van Loon A, Kralik D. A self-help companion for the healing journey of survivors of child sexual abuse. Adelaide: Royal District Nursing Service Foundation Research Unit, Catherine House; 2005
-
12Streuberg HJ, Carpenter DR. Investigação qualitativa em enfermagem: avançando o imperativo humanista. 2ª ed. Loures: Lusociencia; 2002
-
13Strauss A, Corbin J. Basic of qualitative research grounded theory: procedures and techniques. 2ª ed. London: Sage; 1990
-
14Organización Mundial de la Salud. Dando prioridad a las mujeres: recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación sobre la violencia doméstica contra las mujeres. Ginebra: OMS; 2001
-
15Souza PA, Da Ros MA. Os motivos que mantém as mulheres vítimas de violência no relacionamento violento. Rev Ciênc Humanas. 2006;(40):509-27
-
16Burke JG, Gielen AC, MacDonnell KA, O’Campo P, Maman S. The process of ending abuse in intimate relationships. Violence Against Women. 2001;7(10):1144-63
-
17Landerburger KM. Explorations of woman’s identity: clinical approaches with abused women. In: Campbell J. Empowering survivors of abuse: health care for battered women and their children. Nwebury Park: Sage; 1998. p.61-9
-
18Prochaska JO, Prochaska JM. Why don’t continents move? Why don’t people change? J Psychother Integr. 1999;9(1):83-102
-
19Fishwick NJ, Campbell JC, Taylor JY. Theories of intimate partner violence. In: Humphers J, Campbell JC. Family violence and nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004. p. 29-58
-
20Anderson DK, Saunders DG. Leaving an abusive partner: an empirical review of predictors, the process of leaving and psychological well-being. Trauma Violence Abuse. 2003;4(2):163-91
-
21Burkitt KH, Larkin GL. The transtheoretical model in intimate partner violence victimization: stage changes over time. In: Murphy CM, Roland D Maiuro RD. Motivational interviewing and stages of change in intimate partner violence. New York: Springer; 2009. p.273-303
-
22Wuest J, Merritt-Gray ML. Not going back: sustaining the separation in the process of leaving abusive relationships. Violence Against Women. 1999;5(2):110-33
-
23Merritt-Gray ML, Wuest J. Counteracting abuse and breaking free: the process of leaving revealed through women’s voices. Health Care Women Int. 1995;16(5):399-412
-
24Bourdieu P. A dominação masculina. Oeiras: Celta; 2001
-
25Kearney M. Enduring love: a grounded formal theory of women’s experience of domestic violence. Res Nurs Health. 2001;24(4):270-82
-
26Dienemann J, Glass N, Hanson G, Lunsford K. The domestic violence survivor assessment (DVSA): a tool for individual counseling with women experiencing intimate partner violence. Issues Ment Health Nurs. 2007;28(8):913-25
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Ago 2014
Histórico
-
Recebido
20 Abr 2014 -
Aceito
18 Jul 2014