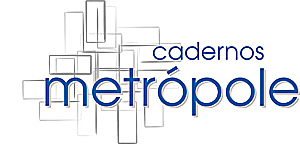Resumos
Este trabalho aborda as carregadas relações entre o comércio de mercadorias, o desenvolvimento econômico urbano e o meio ambiente na maior reserva de floresta tropical do mundo, em forma de narrativa histórica. A estrutura conceitual na qual posicionamos esta narrativa é fornecida por Hesse (2010) nas dimensões de “local” e “situação” da interação entre locais ou localidades, por um lado, e o fluxo de materiais ou cadeias globais de valor por outro. Argumenta-se que a assemblage do local e da situação, que forma as riquezas das cidades. O estudo de caso de Manaus e Belém mostra como a rápida urbanização da Amazônia é acompanhada pelo crescimento do transporte conforme “novas” mercadorias estão sendo extraídos no interior da selva.
desenvolvimento urbano; transporte; Amazônia; Manaus; Belém
This paper addresses the fraught relationships among commodity trade, urban economic development and the environment in the world’s largest rainforest reserve, in a historical narrative fashion. The conceptual framework in which we position this narrative is provided by Hesse (2010), in the “site” and “situation” dimensions of the interaction between places or locales on the one hand, and material flows or global value chains on the other. It is argued that the assemblage of both site and situation is what shapes the wealth of cities. The case study of Manaus and Belém shows how the rapid urbanization of the Amazon rainforest is accompanied by the growth of shipping as “new” commodities are being extracted from the jungle interior.
urban development; shipping; Amazon; Manaus; Belém
Introdução
Este artigo trata do impacto dos movimentos de mercadorias no desenvolvimento econômico urbano na Bacia Amazônica. O poderoso Rio Amazonas tem, por longa data, servido como a principal via expressa tanto para povos indígenas como para o comércio colonial. Cidades como Belém e Manaus prosperaram, no final do século XIX, com base no comércio de mercadorias, sobretudo de borracha. Quando o comércio global de borracha transferiu-se do Brasil para o Sudeste Asiático, na primeira metade do século XX, essas cidades entraram em declínio econômico urbano. Desde o início da década de 1980, a Amazônia passou por um processo de rápida urbanização. Mais recentemente, o transporte de mercadorias da Amazônia está novamente em ascensão, pois “novas” mercadorias estão sendo extraídas do interior da selva. Esses desenvolvimentos são acomodados por novos investimentos públicos e privados em infraestrutura portuária, assim como o crescimento econômico geral do Brasil. Mas, enquanto Manaus está passando por um boom econômico – em grande parte devido à sua Zona de Livre Comércio (ZLC) e à sua localização central – a cidade costeira de Belém está correndo o risco de ser ignorada por esses novos fluxos de mercadorias o que, consequentemente, afeta a capacidade de a cidade atualizar seu perfil econômico urbano.
Como tal, este artigo descreve as riquezas econômicas de duas cidades amazônicas de uma forma narrativa histórica. A estrutura conceitual na qual posicionamos a narrativa é fornecida por Hesse (2010)HESSE, M. (2010). Cities, material flows and the geography of spatial interaction: urban places in the system of chains. Global Networks, n. 10, pp. 75-91. nas dimensões de “local” e “situação” da interação entre locais ou localidades, por um lado, e fluxo de materiais ou cadeias de valor, por outro. Como argumenta Hesse (2010)HESSE, M. (2010). Cities, material flows and the geography of spatial interaction: urban places in the system of chains. Global Networks, n. 10, pp. 75-91., as cidades são resultados de aglomerados e prosperam devido a uma assemblage do local e da situação. Em outras palavras, é a interface relacional entre ativos de localização (incluindo não só os fatores clássicos de produção, mas também instituições territorializadas ou rotinas e habilidades locais), o verdadeiro fluxo de materiais ou movimento de bens e a gestão e governança desses fluxos que moldam as riquezas das cidades.
A dinâmica e a geografia da assemblage mudou consideravelmente, desde os anos de 1980, em consequência da integração do comércio mundial e da desintegração dos sistemas de produção (Feenstra, 1998FEENSTRA, R. C. (1998). Integration of trade and disintegration of production in the global economy. Journal of Economic Perspectives, n. 12, pp. 31-50.), gerando uma nova divisão espacial do trabalho em uma escala global (Fröbel et al., 1980FRÖBEL, F.; HEINRICHS, J. e KREYE, O. (1980). The New International Division of Labour. Cambridge, Cambridge University Press.). O resultado desse processo de globalização acelerada é que o movimento de certas mercadorias e componentes se tornou mais espacialmente disperso e espacialmente estendido, enquanto que, ao mesmo tempo, organizado de acordo com princípios de logística do just-in-time, confiabilidade e flexibilidade. Esse desenvolvimento é conceitualizado por geógrafos econômicos como o surgimento de Redes Globais de Produção (Coe et al., 2004COE, N.; HESS, M.; YEUNG, H. W. C.; DICKEN, P. e HENDERSON, J. (2004). Globalizing regional development: a global production networks perspective. Transactions of the Institute of British Geographers, n. 29, pp. 468-484.) e o que os economistas de transporte chamam de sistemas de cadeia de abastecimento global (Robinson, 2002ROBINSON, R. (2002). Ports as elements in value-driven chain systems: the new paradigm. Maritime Policy and Management, n. 29, pp. 241-255.).
Ao mesmo tempo, as cidades como portais ou centros ainda precisarão acomodar espacialmente o movimento de mercadorias físicas propriamente dito, com todos os tipos de efeitos externos que ocorrem. Alguns dos movimentos de mercadorias são para abastecer a região metropolitana com os bens de consumo e insumos de produção necessários, permitindo que as empresas locais funcionem, que empregos sejam preenchidos e que impostos sejam gerados. O movimento de mercadorias, no entanto, cria custos sociais negativos em relação ao congestionamento e à poluição, que pode resultar em resistência política local. Além disso, aumentar o valor da terra no núcleo urbano vai sistematicamente deslocar meios de distribuição de valor mais baixo (nas proximidades do núcleo) para periferias urbanas e, como tal, aumentar ainda mais os custos de transporte para atender a esse mesmo núcleo econômico urbano. Em outros casos, no entanto, a maioria do movimento de mercadorias na região é destinada para o interior distante. Nesses casos, muito das externalidades negativas residirão localmente com a captação do valor que ocorre fora da região. Os responsáveis pelas políticas e os políticos confrontam o dilema de acomodar tais fluxos de mercadorias ou optar por funções urbanas mais valorizadas a serem desenvolvidas. Uma mudança de direção não é feita facilmente, pois os poderes do governo são limitados, enquanto os irrecuperáveis custos em infraestrutura, a dependência de recursos naturais e os interesses industriais velados podem moldar a agenda de desenvolvimento em certos caminhos pelas próximas décadas (Martin e Sunley, 2006MARTIN, R. e SUNLEY, P. (2006). Path dependence and regional economic evolution. Journal of Economic Geography, n. 6, pp. 603-618.).
Em termos de formulação de políticas, a assemblage é, então, o objetivo ao qual Coe et al. (2004)COE, N.; HESS, M.; YEUNG, H. W. C.; DICKEN, P. e HENDERSON, J. (2004). Globalizing regional development: a global production networks perspective. Transactions of the Institute of British Geographers, n. 29, pp. 468-484. se referem como acoplamento estratégico, que pode ser entendido como a capacidade dos atores locais e regionais ativos críticos (entendidos como o “local”) para com as demandas dos atores operando em cadeias ou fluxos globais. Esses ativos não só incluem no fornecimento de infraestrutura (por exemplo, um porto de águas profundas ou uma rede de fibra ótica), mas também a disponibilidade de uma força de trabalho qualificada, de regulamentações governamentais favoráveis e de uma agência de governo igualmente equipada e bem informada (Hall e Jacobs, 2010HALL, P. V. e JACOBS, W. (2010). Shifting proximities. The maritime ports sector in an era of global supply chains. Regional Studies, n. 44, pp. 1103-1115.). Tanto em relação ao acoplamento estratégico ou assemblage depende, no entanto, do valor econômico e dos custos sociais gerados e da agenda dos atores envolvidos. Esses atores têm diferentes graus de poder e operam sob vários contextos e em diferentes escalas espaciais: do local ao global. Tal perspectiva implica estender a noção de “situação” além das meras conexões físicas de um local com o sistema urbano em geral, incluindo uma dimensão relacional. “Situação”, de uma perspectiva relacional, portanto, inclui conectividades existentes por meio de redes sociais, arranjos de governança e laços corporativos.
Nesse contexto, o artigo levanta a tríplice pergunta de como as cidades amazônicas de Belém e Manaus foram historicamente inseridas no fluxo global de material de mercadorias específicas, o que explica seus caminhos de desenvolvimento divergentes no final do século XX, e como elas estão lidando com as novas oportunidades econômicas fornecidas pelo atual boom de mercadorias do Brasil em termos de desenvolvimento sustentável. Nesse artigo, refere-se à Amazônia como vagamente definida e não formalmente estabelecida, uma vasta região que abrange a floresta Amazônica. Inclui vários estados sob a estrutura federal do Brasil, da qual o estado do Amazonas (capital: Manaus) é o maior em termos de reserva florestal e o estado do Pará (capital: Belém), em termos de produção econômica.
Este artigo está estruturado da seguinte forma. Primeiramente, na segunda seção vamos descrever e explicar a ascensão e queda econômica das cidades de Belém e Manaus como resultado do Ciclo da Borracha do início do século XX. Na terceira seção, fornecemos uma visão geral da urbanização da Amazônia que se seguiu durante a segunda metade do século XX, descrevendo, em particular, a criação da Zona Franca de Manaus. Na quarta seção, os portos na Amazônia são posicionados dentro do sistema geral de transporte brasileiro, destacando-se como essas atividades de transpor te e cadeias de mercadorias são acomodadas no espaço das Regiões Metropolitanas de Manaus e Belém. Além disso, comparamos as economias urbanas de Manaus e Belém em relação à atividade de transporte de mercadorias, utilizando dados estatísticos. Na quinta seção, abordamos a questão da assemblage das duas cidades portuárias no contexto do atual boom de mercadorias no Brasil. Nas conclusões, identificamos as implicações para o futuro do desenvolvimento sustentável e para futuras pesquisas.
O ciclo da borracha amazônica 1870-1920
A primeira e mais pronunciada fase de desenvolvimento urbano e econômico da Bacia Amazônica foi, sem dúvida, o período do Ciclo da Borracha, no final do século XIX. Durante esse período, a renda per capita subiu em 800%, a população regional cresceu em quase 400%, e o sertão amazônico tornou-se formalmente integrado ao sistema político nacional e à economia de mercado internacional (Braham e Coomes, 1994BARHAM, B. L. e COOMES, O. T. (1994). Re-interpreting the Amazon rubber boom: investment, the State and the Dutch disease. Latin American Research Review, n. 29, pp. 73-109.). As cidades portuárias de Belém e Manaus, numa fase posterior, testemunharam um boom econômico urbano sem precedentes com as cidades rivalizando uma com a outra com projetos de desenvolvimento de grandeza urbana, como ainda é exemplificado por suas famosas casas de ópera.
O Ciclo da Borracha começou com o enorme aumento da procura pelo produto na América do Norte e na Europa durante o fim do século XIX. A Amazônia forneceu esse “novo” produto em abundância, mas sua extração do remoto interior da selva estava longe de ser sem custos. Seu local remoto e de difícil acesso, em combinação com seu terreno inóspito e a falta de aplicação da lei, aumentou o preço da mercadoria enormemente. Os custos de transbordo eram geralmente altos, embora a barganha ao longo do Rio Amazonas fornecesse algum alívio relativo. Interessante, nesse contexto, é que o governo brasileiro conferiu concessões de longo prazo para empresas estrangeiras ampliarem e operarem as instalações portuárias: British Manaus Harbour Limited, em Manaus e a US Port of Pará, em Belém. Além do mais, o fornecimento de borracha da Amazônia foi do tipo “selvagem”, portanto não racionalmente cultivado e sujeito à elasticidade de oferta nos mercados globais. Essa elasticidade de oferta em combinação com a demanda crescente do mercado global levou a mais um aumento no preço e contribuiu para o boom da economia regional-fronteiriça.
O Ciclo da Borracha Amazônica foi relativamente bem documentado, assim como os fatores que explicam o seu declínio (Coomes e Braham, 1994COOMES, O. T. e BARHAM, B. L. (1994). The Amazon rubber boom: labor control, resistance and failed plantation development revisited. The Hispanic American Historical Review, n. 74, pp. 231-257.). A primeira e mais importante razão é o surgimento da borracha de
plantação competitiva das ex-colônias britânicas no Ceilão e na Malásia que garantiram fontes mais confiáveis e que também era muito mais fácil de transportar. Ainda, como insistem Braham e Coomes (1994)BARHAM, B. L. e COOMES, O. T. (1994). Re-interpreting the Amazon rubber boom: investment, the State and the Dutch disease. Latin American Research Review, n. 29, pp. 73-109., as explicações sobre a explosão dessa bolha histórica também devem ser aterradas em uma narrativa mais pós-estruturalista, que também destaca as falhas endógenas da indústria de borracha da Amazônia para combater o desafio global. Por exemplo, as economias urbanas da Amazônia sofreram o que os geógrafos econômicos chamariam de lock-in. Tanto o trabalhador quanto o capital se beneficiavam dos altos retornos de extração de borracha. Da mesma forma, o Estado se beneficiava enormemente por meio de impostos sobre importações e exportações e das receitas em grande parte reinvestidas para facilitar as atividades de extração de borracha mais do interior da floresta. Contudo, enquanto as cidades de Belém e Manaus competiam uma com a outra com base em notável consumo e empreendimentos imobiliários, elas não conseguiram se diversificar economicamente. Investimentos em instalações de transbordo e extração provaram ser altamente específicos para extração de borracha e, portanto, impróprias para qualquer outro uso, enquanto que as repercussões tecnológicas para outras indústrias foram mínimas. Após a queda dos preços da borracha, a maioria do capital móvel foi removida da região, "deixando em decomposição o esplendor urbano como um assombroso lembrete do boom anterior" (Braham e Coomes, 1994BARHAM, B. L. e COOMES, O. T. (1994). Re-interpreting the Amazon rubber boom: investment, the State and the Dutch disease. Latin American Research Review, n. 29, pp. 73-109., p. 101). Ainda assim, continuou o progra-
ma de colonização apoiado pelo governo federal do interior do Amazonas, em grande parte de uma forma descontrolada, empurrando ainda mais a modernidade para a o interior da floresta e, muitas vezes, às custas dos povos indígenas e de seu estilo de vida. Como tal, o período do Ciclo da Borracha "criou um legado de viés urbano que continua a moldar o desenvolvimento amazônico" (Braham e Coomes, 1994BARHAM, B. L. e COOMES, O. T. (1994). Re-interpreting the Amazon rubber boom: investment, the State and the Dutch disease. Latin American Research Review, n. 29, pp. 73-109., p. 105).
A urbanização moderna da Amazônia: Manaus versus Belém
A Bacia Amazônia tem sido historicamente dominada por duas cidades: Belém e Manaus. Ao passo que ambas as cidades prosperaram durante o Ciclo da Borracha (e sofreram um posterior declínio semelhante), elas experimentaram caminhos divergentes de desenvolvimento a partir da década de 1970. Embora as cidades sejam, de longe, os maiores centros urbanos da Amazônia, as últimas décadas podem ser caracterizadas por uma urbanização global da região. Em 1960, apenas 37,5% da população na Amazônia vivia em cidades. Em 1991, a população urbana da Amazônia já tinha aumentado para 57,8% (Bowder e Godfrey, 1997BROWDER, J. D. e GODFREY, B. J. (1997). Rainforest Cities. Urbanization, Development and the Globalization of the Brazilian Amazon. New York, Columbia University Press.). Apesar de Belém e Manaus terem experimentado um crescimento absoluto da população nas últimas décadas, a participação relativa no total da população da região de Belém caiu consideravelmente enquanto que a de Manaus quase duplicou. De fato, das dez maiores cidades da Amazônia, Belém experimentou o menor crescimento. Além disso, desde a década de 1990, Manaus superou Belém como a cidade mais populosa da bacia Amazônica (ver Tabela 1).
A sorte da cidade de Manaus mudou em 1967, quando o governo federal aprovou o desenvolvimento de uma Zona Franca de Manaus (ZFM) sob a Lei Federal n. 288 (promulgada em 28 de fevereiro de 1967). No início, a ZFM funcionava principalmente como uma zona franca para bens de luxo estrangeiros importados para a elite brasileira do Sudeste. Mais tarde, a ZFM conseguiu atrair uma atividade industrial mais substancial, mais notavelmente a refinaria de petróleo e gás Reman (de propriedade da Petrobrás) e, mais tarde, montadoras e instalações de embalagem com valor agregado para empresas de eletrônicos de consumo global, como a Samsung e a LG, para marcas globais de refrigerantes, como a Coca-Cola e a a Pepsi Co, e para marcas automotivas, como a Harley Davidson e a Honda. A maioria dos insumos e componentes para a produção é importada do exterior, em particular de países da Ásia (Japão, Coreia, Taiwan e China). Nos últimos anos, o número das empresas dentro da ZFM flutuou de aproximadamente 450-550, criando 100 mil empregos diretos em Manaus e de aproximadamente 20 mil no resto dos 61 municípios do Oeste do estado do Amazonas (Ministério das Relações Exteriores, 2006MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (2006). Desenvolvimento econômico sustenta a preservação da Floresta Amazônica. Brasília, Departamento de Comércio e Promoção.).
Enquanto Manaus age como o principal centro logístico na região e seu polo industrial acomoda a maioria da atividade industrial da ZFM, na realidade, estende-se muito além de seus limites metropolitanos. Na verdade, a declaração por parte do governo federal do estatuto de Zona de Livre Comércio abrange toda a região noroeste do Amazonas e inclui os estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. A ZFM fornece diversos tipos de benefícios fiscais, conforme regulamentado pela Lei Federal n. 288, de 1967. Essa lei reservou determinados incentivos fiscais até o ano de 2013. Esse programa fiscal foi renovado, em 2003, pela Lei Federal 2826, de 29 de setembro de 2003, e estende a concessão fiscal para empresas que operam na ZFM até 2023. Enquanto o regime fiscal fornecido pelo governo federal primeiramente lidou em especial com importações para a ZFM, mais tarde também foram incluídas disposições especiais para as exportações. Além desses regimes fiscais federais, a ZFM também se beneficia com isenções de impostos do governo do Estado (principalmente para a transferência de componentes fabricados em outros lugares no Brasil e com destino a ZFM) e com a isenção da própria administração municipal da cidade de Manaus (isenções de dez anos de impostos sobre imóveis e propriedades, por exemplo).
Sob essas regulamentações fiscais, Manaus desfrutava de um regime favorável em relação ao seu rival direto naquela época, Belém. Assim, a assemblage, em termos de disposições regulamentares fiscais do governo federal, favoreceu Manaus em detrimento de Belém. Em relação às razões pelas quais Manaus foi escolhida para esse esquema de investimento/subvenção do governo, um folheto de marketing feito recentemente pelo Ministério das Relações Exteriores, um pouco surpreendentemente franco, mencionou que: “A ZFM foi originalmente criada com o objetivo de viabilizar uma base econômica no oeste da Amazônia, promovendo a integração produtiva da região, servindo como apoio para garantir a soberania nacional da região [itálico enfatizado]” (Ministério das Relações Exteriores, 2006MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (2006). Desenvolvimento econômico sustenta a preservação da Floresta Amazônica. Brasília, Departamento de Comércio e Promoção., p. 6).
Assim, parece que, na década de 1960, o governo lançou esse programa da ZFM por interesse geoestratégico, a fim de manter a região economicamente viável e integrada à economia nacional como meio de garantir as reivindicações territoriais e o controle político. De certa forma, isso pode ser considerado uma continuação da política nacional durante a época do Ciclo da Borracha, em que os países amazônicos ativamente competiram pela supremacia sobre a área, fornecendo a concessão de terras aos comerciantes, criando postos militares e investindo em infraestrutura (Barham e Coomes, 1994BARHAM, B. L. e COOMES, O. T. (1994). Re-interpreting the Amazon rubber boom: investment, the State and the Dutch disease. Latin American Research Review, n. 29, pp. 73-109.). Nessa versão moderna, no entanto, a ZFM lembra mais um polo de crescimento, desenvolvido em muitos outros países industrializados do mundo, em que os recursos e as riquezas foram transferidos do núcleo para a periferia (Brenner, 2004BRENNER, N. (2004). Urban governance and the production new state spaces in Western Europe 1960-2000. Review of International Political Economy, n. 11, pp. 447-488. ). Essa concentração do desenvolvimento econômico urbano planejada pelo governo federal em Manaus também ajudou a evitar o assentamento descontrolado na mata, embora a má qualidade do solo e a precária acessibilidade das estradas provavelmente fez mais para evitar o cultivo em grande escala na floresta, em comparação com o estado do Pará.
A gestão da Zona de Livre Comércio está nas mãos da Suframa, uma agência federal responsável pela política da ZFM e seu modelo de negócio. Os governos dos Estados (e suas capitais) são representados na administração da Suframa e recebem apoio financeiro dela para projetos realizados em consonância com seus planos de desenvolvimento estratégico estaduais. Esses planos são concebidos para coordenar a política regional de desenvolvimento iniciada pelo governo federal e os objetivos com níveis inferiores de governo. Por
outro lado, os municípios são requeridos a implementar localmente esses planos de desenvolvimento do Estado, principalmente por meio de planejamento do uso da terra. Assim, há uma hierarquia clara de competências de planejamento e financiamento público.
Inicialmente, o sucesso da ZFM, até a década de 1980, poderia ser considerado um resultado das políticas comerciais nacionais protecionistas do governo federal. Durante esse tempo, o governo federal criou todos os tipos de condições comerciais desfavoráveis para a importação, atraindo grandes empresas internacionais para criar instalações para a produção de materiais importados e componentes em uma ZLC projetada para atender o grande mercado brasileiro. Ainda na década de 1990, o governo federal começou a se abrir para o comércio internacional e removeu vários tipos de barreiras tarifárias, permitindo que os investimentos estrangeiros diretos se concentrassem em locais nas grandes regiões urbanas do sudeste, enquanto os comerciantes globais estavam livres para localizar suas instalações de produção fora do Brasil, servindo ainda ao mesmo mercado. Na verdade, como informado na época pelo The New York Times (em 17 de dezembro de 1990, conteúdo on-line), um dos maiores empregadores da ZFM, a empresa de eletrônicos Sharp, decidiu transferir duas grandes linhas de produção como resultado dessas novas oportunidades fornecidas pelo comércio internacional. Como o diretor da Suframa coloca:
Na década de 1990, quando ocorreu a abertura econômica, o PIM tinha uma política industrial que focava na nacionalização a qualquer custo e na alta absorção de mão de obra. A abertura significou que as empresas do polo tinham que enfrentar a concorrência de produtos de todo o mundo, similar aos delas, mas a um preço menor e com qualidade superior. Tivemos que mudar nossa política industrial. (Ministério das Relações Exteriores, 2006MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (2006). Desenvolvimento econômico sustenta a preservação da Floresta Amazônica. Brasília, Departamento de Comércio e Promoção., p. 8)
Essa mudança na política industrial, na prática, significou a demissão de 38% da força de trabalho total durante a década de 1990, especialmente nas faixas de renda mais elevadas, a substituição do trabalho pelas máquinas melhoradas e, sobretudo, um novo regime de trabalho. De fato, durante esse período, o número de trabalhadores com menor remuneração e menos contratualmente ligados aumentou em 35% (Oliveira et al., 2010OLIVEIRA, S.; ALMEIDA, C.; MAURÃO, A.; RAMOS, J. e ANICETO, K. (2010). A mobilidade dos desempregados em Manaus. Manaus, Universidade do Amazonas.). Assim, enquanto a assemblage favorável de Manaus estava recebendo a pressão do novo regime de comércio nacional, o sistema existente em vigor na ZFM em combinação com seu regime de trabalho flexível permitiu que continuasse a tirar vantagens das tendências globais da externalização, como identificado em lugares como Tianjin (Wang e Olivier, 2006WANG, J. J. e OLIVIER, D. (2006). Port-FEZ bundles as spaces of global articulation: the case of Tianjin, China. Environment and Planning A, n. 38, pp. 1487-1503.) e Dubai (Jacobs e Hall, 2007JACOBS, W. e HALL, P. V. (2007). What conditions the supply chain strategies of ports? The case of Dubai. Geojournal, n. 68, pp. 327-342.). De fato, enquanto a ZFM funcionou principalmente como polo de importação para o mercado interno, até a década de 1990, sua quota de exportações atualmente ultrapassa 20%. Seus principais destinos de exportação são os outros países da América Latina e os Estados Unidos.
Portos da Amazônia no sistema de transporte brasileiro
Com mais de 7.400 quilômetros de litoral Atlântico, o sistema portuário brasileiro é extenso e caracteriza-se por uma variedade de especializações de mercadorias, com apenas um grau limitado de conteinerização. Essa variedade em especialização é, em grande parte, causada pela variação urbana industrial e econômica do país. O sistema portuário brasileiro pode ser classificado em quatro faixas distintas, ou conforme Notteboom (2009)NOTTEBOOM, T. E. (2010). Concentration and the formation of multi-port gateway regions in the European container port system: an update. Journal of Transport Geography, n. 18, pp. 567-583., em regiões de acesso multiportuárias. Partindo do Norte para o Sul, são elas (ver Figura 1):
-
1) Bacia Amazônica (Belém, Macapá, Santarém, Vila do Conde e, alcançando o interior, Manaus e Porto Velho);
-
2) Nordeste (Itaqui, Pecém, Recife, Suape, Salvador, Aratu e, em um futuro próximo, Ilhéus);
-
3) Sudeste (servindo as megacidades Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba por meio de portos primários como Santos, Sepetiba, São Sebastião, Paranaguá, Vitória);
-
4) O extremo Sul: Santa Catarina/Rio Grande do Sul (Itajaí, Imbituba, São Francisco Sul, Porto Alegre, Rio Grande).
Os maiores portos de contêineres no Brasil, não surpreendentemente, ficam nas regiões econômicas centrais mais urbanizadas no sudeste e no extremo sul. Em geral, a conteinerização ainda não está muito desenvolvida nos portos brasileiros e é muito dominada por Santos (37% do tráfego de contêineres total do Brasil em 2008), o porto da potência econômica do Brasil: São Paulo. Apesar do crescimento econômico geral do Brasil desde a década de 1990, o baixo nível de tráfego de contêineres no Brasil contribui para o seu sistema de logística e transporte subdesenvolvido. Estes atuam como uma enorme restrição em relação ao desenvolvimento econômico e comércio internacional. O Banco Mundial classifica o Brasil em 41º em sua referência internacional de Índice de Desempenho Global em Logística (Banco Mundial, 2010), principalmente devido aos equipamentos antiquados e ao ineficiente planejamento do uso da terra, além da burocracia excessiva (para desembaraçar os contêineres na alfândega, por exemplo). Em relação ao transporte em contêineres, o papel da Bacia Amazônica ainda permanece limitado, mesmo que o Porto de Manaus seja capaz de lidar com navios Panamax, bem como transportadoras transoceânicas e navios de cruzeiro. É certo que quaisquer declarações sobre transporte em contêineres são restringidas por falta de dados confiáveis, mas, de acordo com o governo do estado do Amazonas (2009)GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS (2009). Riqueza Natural e Potencial Econômico. Uma combinação perfeita para o seu ramo de atividade. Manaus, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico., o Porto de Manaus manipulou cerca de 350 mil TUE em 2008, o que o classificaria como um dos dez maiores. No entanto, isso não é verificado por dados fornecidos pela Associação Americana de Autoridades Portuárias (American Association of Port Authorities – Aapa).
Em termos de quantidade total de carga (medida em milhões de toneladas), observamos uma hierarquia diferente. Os principais portos são agora dominados por portos de mineração especializados, como Itaqui, Sepetiba e Tubarão, propriedade da gigante de mineração brasileira Vale. O Porto de Belém é o 10º porto mais movimentado do país em termos de quantidade total de carga, em grande parte devido ao tráfego de granéis sólidos. No entanto, grande parte do tráfego pode ser desviada para as novas instalações da Vale na Ponta da Madeira. Outros portos principais são do setor de granéis líquidos. Estes incluem os portos de óleo de São Sebastião, Angra dos Reis e Aratu. O porto de Manaus, embora localizado 900 milhas náuticas ao interior, está classificado em 8º lugar em relação ao tráfego de granéis líquidos (principalmente devido à localização da refinaria de petróleo Reman) e o 10º em relação a carga em geral, com um total combinado de cerca de 12 milhões de toneladas métricas de tráfego em 2008 (Aapa, 2010).
Devido à falta de infraestrutura rodoviária e ferroviária, o transporte por barcaça continua a ser o mais importante meio de transporte nessa região remota. Na verdade, existem muitos pequenos portos fluviais na Amazônia que servem comunidades remotas. Manaus, em particular, serve como o principal centro e mercado final para produtos agrícolas regionais, principalmente para peixe, banana, mandioca e madeira (Neto et al., 2007NETO, P. B.; SANCHEZ, R. J. e WILMSMEIER, G. (2007). Hacia un desarrollo sustentable e integrado de la Amazonia, Recursos Naturales e Infrastructura Series. Santiago de Chile, Naciones Unidas.). Em Manaus (ver Figura 2), o porto consiste em cais flutuantes onde o Rio Negro e o Rio Solimões convergem no Rio Amazonas. Existem três operadores de porto principais ativos. O primeiro é a Autoridade Portuária pública de Manaus, que tem cais flutuantes a montante e possui 94.923 m2 de terreno (Governo do Estado do Amazonas, 2009GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS (2009). Riqueza Natural e Potencial Econômico. Uma combinação perfeita para o seu ramo de atividade. Manaus, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.). Ela também explora o terminal de cruzeiros. Mais a jusante, localiza-se o operador privado dos Superterminais, que possui 9.000 m2 de espaço para armazenagem. O terceiro é o terminal privado do Porto Chibatão, que opera 17.600 m2 de espaço de armazenamento, além de 70.000 m2 de jardas de contêineres. Ambos os operadores privados estão localizados diretamente ao sul da ZFM. Uma quarta empresa, a Aurora Eadi, gerencia 9.000 m2 de espaço de armazenagem e 23.000 m2 de jardas de contêineres (uma área aduaneira) dentro do próprio Polo Industrial de Manaus (ver Figura 2). A maioria dos produtos manipulados é destinada ao PIM de Manaus e dele parte por balsa para Belém, Santarém ou Porto Velho, de onde pode ser transportada por caminhão em direção à região das megacidades, no Sudeste. Essa repartição modal específica é porque Manaus não tem um caminho direto que ligue aos principais centros urbanos do Sudeste brasileiro. Suas ligações rodoviárias são com Porto Velho (onde se conecta com as estradas para o Sudeste), no sudoeste do Amazonas (BR-319) e com a Venezuela, no norte (BR-174). A maioria dessas estradas não é pavimentada, são estradas de terra que não são confiáveis em condições de chuva excessiva.
As outras principais rotas de cabotagem são os portos brasileiros de contêineres de carga geral de Pecém, Suape, Salvador, Sepetiba, Paranaguá, Santos e Rio Grande (Governo do Estado do Amazonas, 2009 ). As ligações de longa distância de Manaus são principalmente com o Porto de Manzanillo (Panamá), que serve como centro alimentador de importação dos componentes entregues por serviços transoceânicos da Ásia por meio do Canal do Panamá. Além disso, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes é o terceiro maior aeroporto de carga do país, com três terminais de carga. Um projeto de desenvolvimento de um grande porto privado (Porto das Lajes) foi colocado em espera em 2010, devido a preocupações dos ambientalistas sobre o impacto do projeto no “Encontro das Águas” (onde a água negra do Rio Negro e das águas marrons do Rio Solimões convergem), considerada uma das atrações turísticas de Manaus. Como resultado da indignação pública, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) declarou o “Encontro das Águas” um monumento nacional, suspendendo efetivamente a licença de desenvolvimento concedido pelo estado do Amazonas.
O operador de porto privado do Porto Chibatão também opera um terminal em Porto Velho e um armazém em Belém (22.600 m2). Todos os portos no estado do Pará, incluindo Belém, são controlados pela Autoridade Portuária do Estado – Companhia das Docas do Pará. O Porto público de Belém está localizado a oeste do centro da cidade, ao lado do terminal de passageiros e do mercado de alimentos (ver Figura 3). Mais ao norte, é onde está localizado o terminal Porto Miramar, dedicado a uma refinaria petroquímica. Ao norte do
aeroporto, há vários metros de madeira onde os troncos do interior da floresta são recolhidos e tratados. A rota de acesso principal dos portos e da cidade é a Rodovia BR-316, que vai até São Luís e, eventualmente, se conecta com a BR-230 (Rodovia Transamazônica) e a BR-232 (para Suape e Recife). A sudoeste de Belém, do outro lado da hidrovia, localiza-se o Porto de Vila do Conde. É também o local de uma grande mina e fundição de alumínio de propriedade da Alunorte, bem como outras empresas de alumínio (Alubar e Albras).
Economia urbana do transporte de mercadorias em Manaus e Belém
A fim de comparar as economias de Manaus e Belém em relação ao transporte de mercadorias relacionadas com a atividade, fizemos uso do quociente de localização (QL). O QL um índice que mede a concentração relativa de atividade econômica dentro de um local, em comparação com a quota nacional ou regional da mesma atividade na economia global. Como tal, o QL nos permite avaliar o grau de especialização econômica de um local em relação à média nacional. Um QL > 1 implica uma especialização relativa de um local (dentro de uma indústria específica) em comparação com a participação nacional, enquanto que um QL < 1 implica uma sub-representação relativa. Formalmente (QL ou LQ do inglês):
Onde:
Eij = emprego total no setor de transporte j na cidade i
Ej = emprego total em transporte no setor j no
Brasil
Ei = emprego total na cidade i
Etotal = emprego total no Brasil
Para esse cálculo, utilizamos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para dois anos de referência, 1996 e 2006. Selecionamos as seguintes atividades organizadas em torno de códigos de indústria (CNAE, o sistema de Classificação Nacional de Atividades Econômicas equivalente ao NAICS estadunidense, North American Industry Classification System): transporte rodoviário, transporte de mercadorias por água, transporte de mercadorias por ar e as atividades de suporte para o transporte de mercadorias. O transporte ferroviário não foi incluído, pois Belém e Manaus não são conectados a infraestruturas ferroviárias. Listamos em seguida, tanto o número de empresas quanto o número de empregados por atividade para Manaus e Belém, bem como o total do Brasil (ver Tabela 2). Incluímos também os totais de todos os serviços em geral, pois são os totais em que baseamos nosso índice.
O que fica imediatamente claro é o crescimento absoluto e relativo para a maioria das atividades de transporte durante o período em questão. Para o Brasil como um todo, o número de empresas que operam no transporte de mercadorias cresceu em 134%, enquanto que o número de pessoas empregadas cresceu em 43%. Esse crescimento é mais forte no transporte rodoviário e nos serviços de apoio. Em comparação com os serviços em geral, vale notar que o número de empresas cresceu mais (143% para o transporte versus 77% para serviços em geral) do que o número de pessoas empregadas (43% versus 75%). Isso pode sugerir que o tamanho médio das empresas de transporte diminuiu em combinação com a desova de empresas novas, provavelmente dentro dos transportes rodoviários.
No entanto, vemos algumas diferenças notáveis entre os diferentes subsetores e entre Manaus e Belém. Por exemplo, o maior crescimento entre as atividades de transporte é rodoviário. Em Belém, o número de pessoas empregadas no transporte rodoviário diminuiu em 10%. Em geral, para Belém, vemos uma estabilização da parte da atividade de transporte dentro da economia urbana em geral. Para Manaus e para o Brasil como um todo, por outro lado, vemos um forte crescimento relativo e absoluto no número de empregados e no número de empresas no setor dos transportes. Quando comparamos os quocientes de localização de Belém e Manaus para o período, observamos um padrão distinto (ver Tabela 3).
O que fica claro é que, em 1996, tanto Manaus quanto Belém eram relativamente especializadas em termos de empresas de transporte em relação à média nacional. Essa especialização é mais forte para Manaus do que para Belém. Em relação ao número de empresas, vemos que, em 2006, os QLs diminuíram tanto para Belém quanto para Manaus. No caso de Belém, o transporte é sub-representado em comparação com a média nacional de 2006. Quando analisamos os empregos em atividades de transporte, vemos que Belém era inferior à participação nacional, em 1996, e que sua participação diminuiu ainda mais em 2006. Em contrapartida, para Manaus, a percentagem de pessoas empregadas nas atividades de transporte, comparado-se com a participação nacional, aumentou no período de 1996 a 2006. Além disso, o aumento do QL no emprego em comparação a um declínio do número de empresas em Manaus poderia sugerir que o tamanho médio da empresa tem aumentado ao longo dos anos – ou seja, menos empresas empregam mais pessoas na atividade de transporte (contrastando com as tendências nacionais).
Para uma nova assemblage urbana?
O Brasil está, no momento, enfrentando um novo boom de mercadorias, principalmente por meio da crescente demanda global por recursos como petróleo e gás, soja e novos produtos agrícolas (por exemplo, frutas de açaí). Até que ponto as cidades de Manaus e Belém estão passando por uma nova assemblage urbana? Baseado em políticas contemporâneas e investimentos em infraestrutura, o caminho do desenvolvimento conjunto em movimento poderá favorecer mais Manaus do que Belém. Enquanto Manaus está se beneficiando como o núcleo central para fluxos de mercadorias, cruzando a Amazônia, Belém enfrenta a concorrência séria dos empreendimentos de infraestrutura nas proximidades e corre o risco de ser ignorada por completo. Em 2006, o governo federal aprovou o Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT), a fim de facilitar o crescimento econômico por meio de programas de investimento em infraestrutura e reformas institucionais.
Sob o PNLT, Belém está prevista para ser conectada à ligação ferroviária Norte–Sul, que vai de Belém ao Porto de Rio Grande, no extremo sul do Brasil. A ligação ferroviária já está operando entre a estrada de ferro Carajás e Palmas, a capital do estado do Tocantins. Isso permitirá a conexão de Belém com as minas de minério de ferro no estado do Pará, bem como com as principais plantações de soja, nos estados do Piauí e Maranhão. Apesar da ligação ferroviária planejada, Belém atualmente deixa de atrair investimentos de infraestrutura do setor privado. Além disso, o porto enfrenta restrições locacionais para expansão no local atual e seu terminal previsto provavelmente não será no local atual do porto, mas à sudoeste da cidade, no Porto de Vila do Conde. Além disso, Belém está enfrentando a concorrência de novos locais sendo construídos em toda a região. Na Ponta da Madeira (perto de São Luís), a Vale, gigante da mineração, atualmente está modernizando as instalações dos terminais existentes e está planejando fazer de Ponta da Madeira seu maior centro de exportação até 2015. Sua ligação férrea atual com as minas do estado do Pará está sendo aprimorada para transportar até 330 vagões com um custo de R$4,5 bilhões, ou aproximadamente US$2,8 bilhões (The Economist, 21/5/2011, pp. 53-54, 2011). Assim, grande parte do crescimento das exportações de minério de ferro será acomodada em Ponta da Madeira em vez de em Belém.
Outra grande ameaça para Belém vem de investimentos nos portos de Suape, perto de Recife e Pecém, perto de Fortaleza. Em ambos os portos locais, a companhia nacional de petróleo e gás, a Petrobrás, está atualmente construindo grandes refinarias de óleo. Novas ligações ferroviárias de ambos os portos estão também em construção por meio da ferrovia Transnordestina, ligando-os com o tronco principal ferroviário Norte–Sul, bem como com as minas de minério de ferro de Carajás e as plantações de soja no sul dos estados do Piauí e Maranhão. Ademais, ambos os portos estão envolvidos com grandes atores do setor privado internacional de transporte e logística. A operadora líder internacional Maersk Line tem instalações dedicadas em Pecém, através da sua divisão da APM Terminals. A Autoridade Portuária do Porto de Roterdam (no comando do maior e mais movimentado porto da Europa) tem o contrato de gestão para desenvolver ainda mais o complexo industrial do Porto de Suape. O último porto está atualmente sendo dragado e expandido para facilitar a entrada de navios maiores. Além disso, a fabricante internacional de automóveis Fiat está desenvolvendo uma fábrica de automóveis nas proximidades do Porto de Suape. Por outro lado a Vale, a gigante da mineração, tem planejado desenvolver um centro de conhecimento para o desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, a Vale está investindo no capital humano em Belém, e não no hardware.
Em contraste com Belém, Manaus tem a geografia e a política ao seu lado. Sua localização dominante como entreposto de comércio interno na Amazônia protege Manaus das pressões vividas por Belém ao longo da costa, onde a concorrência é mais acirrada. Em 2010, a gigante de petróleo e gás Petrobrás completou o gasoduto ligando Uruçu a Manaus, ligando Manaus aos principais campos de gás, 660 km a montante, permitindo explorar a fartura atual do produto. Além disso, Manaus foi selecionada como uma das cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol da Fifa de 2014, o que garante o apoio financeiro federal para modernização de infraestrutura, incluindo o aeroporto, o terminal de cruzeiros e a construção da primeira ponte sobre o Rio Amazonas. Manaus também vai, provavelmente, se beneficiar dos planos de governo para melhorar as ligações com locais na Costa do Pacífico. Recentemente, por exemplo, o Peru concluiu a construção da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) Estrada Sul, chamada de Carretera Interoceánca (Bonaz e Urrunaga, 2008), ligando a cidade brasileira de Assis Brasil (no estado do Acre) aos portos de Ilo e Matarani, no litoral sul do Peru. A IIRSA é um programa de desenvolvimento transnacional dos governos da América do Sul para estimular a integração dos sistemas de infraestrutura. Isso irá, potencialmente, aumentar o status de centro de Manaus e Porto Velho (conectados por meio do Rio Madeira), devido a sua ligação com os oceanos Atlântico e Pacífico e o sudeste do Brasil. Outro projeto em estudo é o corredor Manta–Manaus, ligando Manaus com o Porto de Manta, no Equador. Curiosamente, o operador de terminal global HPH recebeu concessão em Manta, mas desistiram pela segunda vez. Até o momento que finalizamos este texto, esse plano parece mais politicamente conduzido do que baseado em uma análise econômica sólida.
Em relação ao meio ambiente, no entanto, a modernização da infraestrutura na Amazônia tem um grande risco de ser acompanhada pelo crescente desmatamento. De acordo com Laurence e colaboradores (2001), as obras de transporte são a principal fonte de desmatamento na Amazônia brasileira, pois elas fragmentam ecossistemas frágeis e são frequentemente acompanhados por desmatamento ilegal, queimadas, mineração e caça. Aproximadamente 80% da área desmatada na Amazônia está a 30 km de estradas e rodovias oficiais (Barreto, 2005BARRETO, P. (2005). Pressão humana na floresta Amazônica brasileira. Belém, WRI/Imazon.). Portanto, enquanto Manaus e o estado do Amazonas ainda têm os níveis mais baixos de desmatamento em toda a Amazônia, a modernização da Rodovia BR-319 Manaus–Porto Velho vai ligar o estado do Amazonas com o chamado “arco do desmatamento” no estado de Rondônia (Fearnside e Graça, 2006FEARNSIDE, P. M. e GRAÇA, P. M. L. A. (2006). BR-319: Brazil’s Manaus-Porto Velho highway and the potential impact of linking the arc of deforestation to Central Amazonia. Environmental Management, n. 38, pp. 705-716.) e, no seu rastro, ainda mais cultivo em grande escala da maior floresta do planeta.
Conclusões
O Rio Amazonas tem sido, por séculos, a força vital dessa região remota. As cidades de Manaus e Belém prosperaram, como resultado do Ciclo da Borracha, apesar da sua localização adversa. Em referência a Hesse (2010)HESSE, M. (2010). Cities, material flows and the geography of spatial interaction: urban places in the system of chains. Global Networks, n. 10, pp. 75-91., a “situação” se alterou conforme as cadeias de produto de borracha foram reencaminhadas para o sudeste da Ásia, e as cidades não conseguiram se diversificar economicamente. Considerações políticas e geoestratégicas, no entanto, favoreceram o desenvolvendo de uma zona de livre comércio em Manaus desde o final dos anos de 1960. Assim, apesar do desfavorável “local” de Manaus, no interior, em comparação com a localização costeira de Belém, seu status como ZLC do Brasil garantiu uma “situação” superior, que, finalmente, deu suporte para o desenvolvimento econômico de Manaus. Atualmente, o Brasil vive um enorme crescimento econômico, também em grande parte impulsionado pelos preços elevados das mercadorias internacionais. O crescimento atual é acompanhado por enormes investimentos (públicos e privados) em infraestrutura, bem como pelas reformas institucionais para estimular investimentos estrangeiros nos portos e modelos de governança portuária mais eficientes.
Nesse contexto contemporâneo, parece que Manaus é mais bem-sucedida na assemblage do local e situação, graças, em parte, à sua zona livre de impostos apoiada pelo governo federal. Além disso, Manaus e o estado do Amazonas aproveitam ao máximo seu status como ZLC, apoiada pelo governo federal e como capital da Floresta Amazônica em marketing internacional, a fim de atrair investimentos estrangeiros diretos. Paradoxalmente, é exatamente o seu “local” no interior da floresta Amazônica que oferece a Manaus e ao estado do Amazonas um ponto de venda exclusivo para negócios internacionais, garantindo-lhes “cartões verdes” para operações sustentáveis. A ZFM está desfrutando de atualizações para novas cadeias de valor agregadas como telas de LCD e aparelhos de telefone celular. Por outro lado, o status de ZLC deixa Manaus bastante dependente de incentivos fiscais do governo federal. O que é mais importante, apesar de o governo afirmar que a concentração do crescimento de Manaus preservou 96% das reservas de floresta nas proximidades, ainda se pode questionar se a promoção do crescimento em um local tão remoto é realmente sustentável. A história ensina que a modernização da infraestrutura na Amazônia muitas vezes anda de mãos dadas com o desmatamento e o cultivo de terras em grande escala.
A assemblage em Belém parece ser mais restrita, pelo menos em relação ao desenvolvimento de atividades de transporte e infraestrutura. Apesar de estar localizada perto de importantes minas de minério de ferro e plantações de soja no Pará e apesar dos planos do governo para investimento em ligações ferroviárias, o porto de Belém não possui espaço para expansão e, atualmente, está perdendo investimentos (estrangeiros) privados, os quais estão sendo feitos em outros locais no nordeste. A falta de investimentos em infraestrutura industrial do porto em Belém, por outro lado, seria uma bênção disfarçada, pois lhe permitirá ultrapassar a experiência de lock-in vivida por muitas cidades portuária industriais. Em relação a pesquisas futuras, é necessária uma análise mais empiricamente informada “no campo” em duas questões. Primeiro, a pesquisa precisará focar nas correntes e fluxos de mercadorias específicas que se movem por Belém ou Manaus e de lá para o mercado global.
Um desses produtos, que atualmente está sendo planejado para um estudo mais aprofundado dos autores (sob o projeto Golls – Governance of Labour and Logistics for Sustainability) é o fruto do açaí (Pegler, 2011PEGLER, L. (2011). Sustainable Value Chains and Labour; linking chain and “inner” drivers: from concepts to practice. ISS Working Paper, 525, The Hague, pp. 1-41.). Nativo da Amazônia, o açaí atualmente tem sido introduzido com êxito em sucos e produtos lácteos nos mercados de exportação (por exemplo, os produtos lácteos da gigante da Holanda Friesland Campina tornou-se um grande comprador da fruta do açaí no desenvolvimento de novas linhas de produtos), mantendo, ainda, a produção de pequena escala e a inclusão de apenas mão de obra local. Uma maior análise da cadeia de abastecimento global da fruta do açaí, de seu cultivo na Amazônia até o seu consumo, deve focar, em especial, em uma crítica de compreensão da sustentabilidade da cadeia (em termos de condições de trabalho e meio ambiente), dos locais de criação de valor, captura e governança dentro dessas cadeias e do papel que desempenham os processos logísticos. A segunda linha de investigação tem que lidar com o desenvolvimento de uma compreensão empírica que chamaríamos de política de assemblage, que é o acoplamento estratégico por atores particulares dos fatores de “local” e “situação”. Em tal perspectiva, precisamos estudar empiricamente os aspectos estratégico-relacionais da assemblage dentro dessas duas cidades e como os atores que operam em várias escalas protegem seus interesses. O interessante nesse contexto de governança territorial é que, no estado do Pará, no momento em que escrevíamos este trabalho, iniciativas parlamentares foram tomadas para dividir a estrutura política e administrativa do Estado em três. Ostensivamente, isso decorre de problemas de controle eficaz do governo sobre um território vasto de uma única capital, Belém (The Economist, 12/3 /2011, pp. 49-50 ). Uma interpretação diferente poderia ser que interesses dependentes de recursos, de minério de ferro e de soja estão empurrando uma reforma administrativa e territorial, exatamente para garantir suas riquezas econômicas.
Nesse contexto, a região Amazônica é uma região que precisa ser mais bem compreendida, pois ela é um dos recursos naturais mais preciosos do mundo. Enquanto a modernização da infraestrutura fornece oportunidades econômicas, a Amazônia também é uma área sob grande pressão de desenvolvimento insustentável e exploração capitalista. Para nós, a melhor maneira de ajudar a sua preservação é constantemente avaliar o seu desenvolvimento e criticamente se envolver em investigações que apoiem o desenvolvimento verdadeiramente sustentável.
Agradecimentos
A versão original deste artigo foi publicada como: JACOBS, W.; PEGLER, L. J.; REIS, M. e PEREIRA, H. (2013). “Amazon shipping, commodity flows and urban economic development: the case of Belém and Manaus”. In: HESSE, M. e HALL, P. (eds.). Cities, Regions and Flows (Routledge Studies in Human Geography), pp. 129-149, Routledge.
É reproduzido aqui em português com a permissão de Taylor and Francis Publishers. Foi traduzido para o português por Luciana Alves Graziuso.
Referências
- AMERICAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES (AAPA) (2009). Ports Statistics online - Brazilian Port Traffic Disponível em: http://www.aapa-ports.org/Industry/content.cfm?ItemNumber=900&na vItemNumber=551. Acesso em: maio 2010.
» http://www.aapa-ports.org/Industry/content.cfm?ItemNumber=900&na vItemNumber=551. - AMERICAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES (AAPA) (2010). Estatísticas Portuárias online - Tráfico dos Portos Brasileiros 2009 Disponível: http:// www.aapa-ports.org/Industry/content.cfm?ItemNumber=900&navItemNumber=551. Acesso em: maio 2010.
» http:// www.aapa-ports.org/Industry/content.cfm?ItemNumber=900&navItemNumber=551 - BARHAM, B. L. e COOMES, O. T. (1994). Re-interpreting the Amazon rubber boom: investment, the State and the Dutch disease. Latin American Research Review, n. 29, pp. 73-109.
- BARRETO, P. (2005). Pressão humana na floresta Amazônica brasileira Belém, WRI/Imazon.
- BONIFAZ, J. L. e URRUNAGA, R. (2008). Beneficios económicos de la carretera interoceánica Lima, Universidad del Pacífico.
- BRENNER, N. (2004). Urban governance and the production new state spaces in Western Europe 1960-2000. Review of International Political Economy, n. 11, pp. 447-488.
- BROWDER, J. D. e GODFREY, B. J. (1997). Rainforest Cities. Urbanization, Development and the Globalization of the Brazilian Amazon New York, Columbia University Press.
- COE, N.; HESS, M.; YEUNG, H. W. C.; DICKEN, P. e HENDERSON, J. (2004). Globalizing regional development: a global production networks perspective. Transactions of the Institute of British Geographers, n. 29, pp. 468-484.
- COOMES, O. T. e BARHAM, B. L. (1994). The Amazon rubber boom: labor control, resistance and failed plantation development revisited. The Hispanic American Historical Review, n. 74, pp. 231-257.
- FEARNSIDE, P. M. e GRAÇA, P. M. L. A. (2006). BR-319: Brazil’s Manaus-Porto Velho highway and the potential impact of linking the arc of deforestation to Central Amazonia. Environmental Management, n. 38, pp. 705-716.
- FEENSTRA, R. C. (1998). Integration of trade and disintegration of production in the global economy. Journal of Economic Perspectives, n. 12, pp. 31-50.
- FRÖBEL, F.; HEINRICHS, J. e KREYE, O. (1980). The New International Division of Labour Cambridge, Cambridge University Press.
- GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS (2009). Riqueza Natural e Potencial Econômico. Uma combinação perfeita para o seu ramo de atividade Manaus, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.
- HALL, P. V. e JACOBS, W. (2010). Shifting proximities. The maritime ports sector in an era of global supply chains. Regional Studies, n. 44, pp. 1103-1115.
- HESSE, M. (2010). Cities, material flows and the geography of spatial interaction: urban places in the system of chains. Global Networks, n. 10, pp. 75-91.
- JACOBS, W. e HALL, P. V. (2007). What conditions the supply chain strategies of ports? The case of Dubai. Geojournal, n. 68, pp. 327-342.
- LAURANCE, W. F.; COCHRANE, M. A.; BERGEN, S.; FEARNSIDE, P. M.; DELAMONICA, P.; BARBER, C.; D’ANGELO, S. e FERNANDES, T. (2004). The Future of the Brazilian Amazon. Science, n. 291, pp. 438-439.
- MARTIN, R. e SUNLEY, P. (2006). Path dependence and regional economic evolution. Journal of Economic Geography, n. 6, pp. 603-618.
- MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (2006). Desenvolvimento econômico sustenta a preservação da Floresta Amazônica Brasília, Departamento de Comércio e Promoção.
- MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (2006). Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) Brasília.
- NETO, P. B.; SANCHEZ, R. J. e WILMSMEIER, G. (2007). Hacia un desarrollo sustentable e integrado de la Amazonia, Recursos Naturales e Infrastructura Series Santiago de Chile, Naciones Unidas.
- NEW YORK TIMES (1990). Free trade imperils free trade zone in Brazil, publicado em 17 de dezembro. Disponível em: http: <www.nytimes.com> . Acesso em: 14 maio 2011.
» www.nytimes.com - NOTTEBOOM, T. E. (2010). Concentration and the formation of multi-port gateway regions in the European container port system: an update. Journal of Transport Geography, n. 18, pp. 567-583.
- OLIVEIRA, S.; ALMEIDA, C.; MAURÃO, A.; RAMOS, J. e ANICETO, K. (2010). A mobilidade dos desempregados em Manaus Manaus, Universidade do Amazonas.
- PEGLER, L. (2011). Sustainable Value Chains and Labour; linking chain and “inner” drivers: from concepts to practice. ISS Working Paper, 525, The Hague, pp. 1-41.
- ROBINSON, R. (2002). Ports as elements in value-driven chain systems: the new paradigm. Maritime Policy and Management, n. 29, pp. 241-255.
- THE ECONOMIST (2011). Brazil’s north-east. Catching up in a hurry, 21 maio, pp. 53-54.
- THE ECONOMIST (2011). Fiddling while the Amazon Burns. Protecting Brazil´s forests, 3 dez, pp. 49-50.
- WANG, J. J. e OLIVIER, D. (2006). Port-FEZ bundles as spaces of global articulation: the case of Tianjin, China. Environment and Planning A, n. 38, pp. 1487-1503.
- WORLD BANK (2010). Connecting to compete. Trade logistics in the global economy Washington DC, World Bank.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Dez 2013
Histórico
-
Recebido
1 Jul 2013 -
Aceito
30 Ago 2013