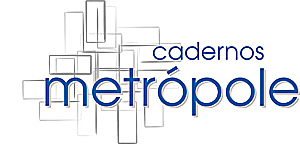A organização deste número de Cadernos Metrópole se deu em um contexto nacional adverso e teve como forte motivação dar visibilidade a trabalhos que tratassem das novas agendas, das conexões internacionais e dos feixes de poder que atravessam as cidades brasileiras. Não podemos deixar de sinalizar que o número, contudo, tem seu lançamento em outro momento político nacional, em que certamente algumas agendas urbanas estarão em evidência nos próximos quatro anos e haverá maior articulação dos governos locais com os debates internacionais, tais como os relacionados ao meio ambiente, ao combate à pobreza, à redução das desigualdades e à afirmação da diversidade cultural.
É inegável que as cidades brasileiras acumulam, há muitas décadas, problemas em relação à moradia e ao déficit habitacional, ao transporte público, ao saneamento básico, à democratização dos espaços públicos, entre outros. O desafio atual parece então consistir em colocar a política urbana no centro das discussões, e não mais de forma periférica, já que é nas cidades que as pessoas vivem e compartilham seus sonhos, projetos de futuro, lutas e resistências. O direito coletivo à cidade, o direito ao reconhecimento das múltiplas urbanidades e a indução do Estado e da política urbana nacional surgem como tópicos fundamentais para que a inclusão social, a diversidade e a democracia estejam presentes nas práticas e nos discursos dos que fazem as cidades brasileiras.
Com a intenção de dialogar sobre essas agendas urbanas, desde 2019 temos promovido mesas-redondas e grupos de trabalho em congressos nacionais e internacionais da ALA, Anpocs e SBS,1 1 Foram realizadas as mesas-redondas “Discursos e efeitos das intervenções urbanas na América Latina”, no 6º Congresso da Associação Latino-Americana de Antropologia (ALA, novembro de 2020, formato virtual, Montevidéu); “Cidades, práticas estatais e configurações de poder”, no 20º Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS, julho de 2021, formato virtual, Belém); e “Cidades, políticas de reconhecimento e gestão de populações”, no 45º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs, outubro de 2021, formato virtual, Caxambu). Os diálogos possibilitaram também a organização do Seminário Temático “Cidades emergentes: agendas, conexões e poderes”, no 46º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs, outubro de 2022, formato virtual, Campinas). além de encontros constantes no âmbito dos grupos de pesquisa que coordenamos: o Grupo de Pesquisa em Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades (GPSuic/UFRGS) e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Espaço, Simbolismo e Poder (Nesp/UFRJ). As análises deles decorrentes dessas trocas geraram o Dossiê “Espaços, simbolismos e relações de poder” ( Guimarães e Marx, 2020GUIMARÃES, R.; MARX, V. (orgs.) (2020). Dossiê Espaços, simbolismos e relações de poder. Revista Interseções, v. 22, n. 3. ), promovido em âmbito nacional e internacional.2 2 O Dossiê foi divulgado em 29 de janeiro de 2021 no site do Etno.Urb, rede de pesquisadores em ciências sociais organizada em torno da etnografia urbana, sediada em Portugal e com forte presença no Brasil. Foi lançado em debate virtual, no dia 28 de maio de 2021, em evento coorganizado pelo Urbano – Laboratório de Estudos da Cidade (IFCS/UFRJ), com a presença das organizadoras e de todos os autores e com vídeo disponibilizado no YouTube. Foi também divulgado no Boletim Número 1/2021, de junho de 2021, do Comitê de Pesquisa 21 (RC21) – Desenvolvimento Urbano e Regional, da Associação Internacional de Sociologia (ISA).
Na elaboração da proposta do Dossiê “Novas Agendas Urbanas: conexões internacionais e feixes de poder” publicado neste número de Cadernos Metrópole, o ponto de partida foram nossas recentes pesquisas sobre o atual contexto de expansão da lógica neoliberal, de aprofundamento das desigualdades sociais e de internacionalização das cidades.3 3 Vanessa Marx (GPSuic/UFRGS) parte de sua pesquisa desenvolvida na UFRGS e denominada “Internacionalização das cidades: conexões entre os bairros Floresta (Porto Alegre), Ciudad Vieja (Montevidéu) e Poblenou (Barcelona)”. O projeto de pesquisa começou no ano de 2021 e foi desenvolvido a partir de pesquisa de campo exploratória, realizada em Montevidéu e em Barcelona, no âmbito do projeto de internacionalização das universidades, Capes-Print, no eixo “Cidades inteligentes, urbanizações complexas, indústria 4.0 e economia do compartilhamento” da UFRGS. A pesquisa articula-se, também, com os temas que a pesquisadora trabalha no âmbito do Observatório das Metrópoles – Núcleo Porto Alegre. Roberta Guimarães (Nesp/UFRJ) baseia suas reflexões nos resultados do projeto de pesquisa “As mediações de arquitetos e urbanistas na patrimonialização dos espaços do Rio de Janeiro”, financiado pela bolsa Jovem Cientista do Nosso Estado (Faperj, 2018-2021) e desenvolvido durante seu pós-doutorado no Laboratoire Mondes Americains (EHESS, 2018-2019). Seus estudos voltaram-se para a análise das intervenções urbanísticas articuladas por instâncias governamentais e entidades privadas, com particular interesse pelos feixes de poder que as organizam e sustentam e pelos mecanismos discursivos que as legitimam como “problemas públicos”. Por um lado, trata-se de um contexto em que proliferam debates para a criação de novas agendas urbanas e a formulação de políticas públicas em âmbito global, na busca por recolocar a relevância dos organismos internacionais como agentes de conexão entre diferentes nações e cidades. Por outro, mostra-se também um período de conflitos e amplos questionamentos sobre o papel das instituições democráticas, os modelos de representação política e o modo de funcionamento do capitalismo. Esses fatores de tensão e potencial transformação social aparecem traduzidos nos territórios das urbes em pautas de reconhecimento da diversidade e de distribuição de recursos, produzindo feixes de poder baseados em assimétricas relações entre agentes estatais, entes privados e movimentos populares.
São pesquisas que, em comum, colocam de forma central em suas análises as novas formas de pensar e fazer cidade que emergiram durante os anos 1990, quando foi adotada, por diversos governos, uma agenda política de intervenções que visava inserir as localidades na disputa das “cidades mundiais” para sediar grandes eventos e atrair investimentos privados e públicos. Nesse contexto de consolidação global de uma racionalidade neoliberal, estimularam-se a interdependência entre agentes locais, nacionais e internacionais e a circulação de fluxos de capitais voláteis e sem barreiras de fixação, o que tornou os fatores econômicos variável prioritária e moldou gradualmente o poder político às demandas das empresas transnacionais e dos mercados financeiros ( Rolnik, 1997ROLNIK, R. (1997). A cidade e a lei – Legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São Paulo, Studio Nobel. ; Arantes, Maricato e Vainer, 2000; Harvey, 2006HARVEY, D. (2006). Espaços de esperança. São Paulo, Loyola. ; Fix, 2007FIX, M. (2007). São Paulo cidade global. Fundamentos financeiros de uma miragem. São Paulo, Boitempo. ; Guimarães, Barbosa e Moreira, 2021; Marx, 2008MARX, V. (2008). Las ciudades como actores políticos en las relaciones internacionales. Tese de doutorado. Espanha, Universidad Autónoma de Barcelona. ).
Em países classificados, pelas agências internacionais, como “emergentes”, como é o caso do Brasil, esse movimento ganhou contornos próprios, ligados a projetos e programas desenvolvimentistas financiados por organismos transnacionais, como o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Uma relação dialética então se formou entre os agentes nacionais e os internacionais durante a articulação das “estratégias de internacionalização” ( Dezalay e Garth, 2002DEZALAY, Y.; GARTH, B. (2002). La mondialisation des guerres de palais. La restructuration du pouvoir d´état en Amérique Latine, entre notables du droit et Chicago Boys. Paris, Seuil. ), já que a celebração de acordos multilaterais entre esses organismos oferecia uma dupla satisfação. Para os países parceiros, era a possibilidade de seus operadores se apropriarem de capital estrangeiro e garantirem legitimidade e reconhecimento na execução de seus projetos. Para as agências, além dos aportes financeiros que tal cooperação fornecia, era uma oportunidade de capturarem nações para as suas cosmovisões e definições de valores universais ( Ferguson, 1994FERGUSON, J. (1994). The anti-politics machine. “Development”, depoliticization and bureaucratic power in Lesotho. Minneapolis, Londres, University of Minnesota Press. ; Escobar, 1995ESCOBAR, A. (1995). Encountering development. The making and the unmaking of the Third World. Princeton, Princeton University Press. ; Guimarães e Castro, 2021GUIMARÃES, R.; CASTRO, J. P. (2021). “Le gouvernement des ‘ mémoires sensibles’: des faisceaux de pouvoir dans la construction du projet La Route de l’esclave au Brésil”. Brésil(s) – Sciences Humaines et Sociales, v. 20. Disponível em: http://journals.openedition.org/bresils/11052.
http://journals.openedition.org/bresils/...
).
As resoluções internacionais passaram, assim, a desempenhar um papel importante nos embates locais, reconfigurando os atores e a arena das disputas políticas. Nesse cenário, a cidade internacionalizada apresentou duas faces: uma, a de um território atravessado pelas forças transnacionais e por diferenças de poder; outra, a de formação de redes internacionais solidárias capazes de reforçar as lutas políticas de inovação democrática, inclusão e direito à cidade, através de fóruns e organismos internacionais ( Marx, 2008MARX, V. (2008). Las ciudades como actores políticos en las relaciones internacionales. Tese de doutorado. Espanha, Universidad Autónoma de Barcelona. ).
Como veremos nos artigos que compõem este Dossiê, a situação das desigualdades sociais decorrentes do aumento da concentração de riquezas vem se agravando, apesar de organismos internacionais, como a ONU, por meio de sua Agência para os Assentamentos Humanos, tentarem regular relações dos países e de suas cidades através da Nova Agenda Urbana (NAU), elaborada em Quito (Equador), na Conferência da Habitat III (Marx, Araújo e Souza, 2021).
A NAU constituiu-se como um marco contemporâneo importante para um pacto mundial entre 170 países-membros das Nações Unidas, pois o documento político (não vinculante) tem como objetivo geral ser um guia orientador de estratégias globais em torno da urbanização sustentável por 20 anos ( Marx e Costa, 2016MARX, V.; COSTA, M. (orgs.) (2016). Participação, conflitos e intervenções urbanas: contribuições ao Habitat III. Porto Alegre, Editora da UFRGS/Cegov. ). Contudo, justamente por se tratar de guia, seu conteúdo tende a ser genérico e maleável, diante dos múltiplos interesses e atores sociais envolvidos na formulação e aplicação das políticas governamentais.
A adoção do sistema neoliberal também trouxe desdobramentos para além dos aspectos econômicos. Em diversas localidades, sua normatividade específica se estendeu para todas as relações sociais e esferas da vida, produzindo uma subjetividade calcada em um estado permanente de competição. Não só os administradores públicos passaram a pensar e agir como gerentes empresariais, buscando maximizar lucros através de estratégias de marketing urbano e das novas roupagens discursivas da acumulação de capital, como também os indivíduos, os campos profissionais e os movimentos sociais foram estimulados a competir entre si, performatizando identidades coletivas e/ou aprimorando mecanismos de concorrência ( Dardot e Laval, 2016DARDOT, P.; LAVAL, C. (2016). A nova razão do mundo. São Paulo, Boitempo. ).
Dessa forma, as cidades vêm se configurando como territórios de disputas de agentes que atuam em diferentes escalas e que são orientados por subjetividades e identidades em permanente tensão. Talvez por isso a cultura, o turismo e as ditas indústrias criativas têm ganhado lugar proeminente nas novas governanças urbanas, pois, com suas metodologias de intervenção, editais de financiamento e promessas de fruição de modos de vida singulares e autênticos, tais noções se colocam muitas vezes como mediadoras entre lucro, reconhecimento e entretenimento.
A mobilização da ideia de cultura e as atividades associadas ao turismo por governos locais e entidades privadas se fazem, portanto, recorrentes na justificação e legitimação discursiva dos processos de rentabilização dos territórios e de suas práticas excludentes. E, ainda que a dimensão habitacional tenda a ser pouco contemplada nas grandes intervenções urbanas, seus efeitos inevitavelmente se fazem sentir nos bairros, ruas e sociabilidades. Como os efeitos associados às formas rotineiras de gestão urbana de controle e coibição de práticas populares ou de corpos considerados indesejáveis, que, através de decretos e legislações, passam a ser classificados como “ilegais” e não raro são também publicamente combatidos como “imorais” ( Guimarães, 2011GUIMARÃES, R. (2011). A utopia da Pequena África. Os espaços do patrimônio na Zona Portuária carioca. Tese de doutorado. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. e 2013).
É no sentido de aprofundar essas reflexões e de multiplicar pontos de vistas que este Dossiê se mostra relevante, pois reúne artigos que, ao partirem de perspectivas teóricas e metodológicas diversas, tematizam o contexto mundial adverso de crescimento de desigualdades sociais e dos desafios e dificuldades de formulação de políticas locais, nacionais e internacionais. Questões que dizem respeito tanto a problemas habitacionais, sanitários, ambientais, climáticos, tecnológicos e de mobilidade, quanto a demandas por reconhecimento, por participação nas decisões governamentais e por maior assistência ante o desmonte do modelo do Estado de bem-estar social.
Questões que, juntamente com a crise econômica que vivemos perante o prolongamento dos ciclos da Covid-19, recolocam os grandes centros urbanos nas agendas de debates das ciências humanas e sociais. Lembramos que, nessa crise global, as cidades tornaram-se epicentros da pandemia e implementaram medidas mais restritivas em relação a circulação e interação. Em especial nos países do Sul global, onde as desigualdades são imensas, os centros urbanos passaram a concentrar “soluções” e “problemas”. Se, por um lado, eles sediaram os hospitais de referência capazes de tratar as vítimas, por outro também abrigaram as principais vulnerabilidades e riscos de mortalidade, em função da crescente população em situação de rua e da precariedade das condições da moradia.
“Periferias, favelas e subúrbios”, variações terminológicas para designar o lugar onde vivem os pobres, ficaram então desassistidos e sofreram os maiores impactos diante da falta de abastecimento de água, da ameaça de despejos, da inadequação do saneamento básico, da lotação dos postos de saúde e da precariedade de condições do transporte público. Também ficaram explícitas a ausência ou má conservação de espaços a céu aberto, como praças e jardins, que pudessem oferecer opções de lazer e convívio gratuitos e com menor risco de contágio para crianças e idosos. Além disso, a pandemia colocou, como parte da agenda do direito à cidade, a inclusão digital, que engloba desde o acesso à internet até a capacitação de usuários nas ferramentas do mundo virtual, questão que se tornou crucial para atividades administrativas, profissionais, educacionais, de entretenimento, etc.
O período de tensão social aprofundou ainda as desigualdades de gênero, com o aumento da violência doméstica contra as mulheres. Como alertou a ONU Mulheres, foram elas que ficaram na linha de frente da Covid-19, correspondendo a 70% do total dos profissionais que enfrentaram a pandemia, atuando como enfermeiras, cuidadoras de familiares doentes e de idosos, entre outras atividades ( Scapini e Marx, 2020SCAPINI, G.; MARX, V. (2020). Atuação de mulheres em tempos de Covid-19: a necessidade de reconhecimento das práticas de solidariedade e de cuidado. Jornal da UFRGS, maio. ).
Por seu turno, muitos agentes econômicos mantiveram padrões de lucro e tentaram aproveitar as oportunidades trazidas pela pandemia, mobilizando justificativas, condutas e procedimentos que, segundo seus argumentos, seriam capazes de preservar vidas sem alterar padrões de produtividade. Por meio de omissões governamentais ou mesmo de incentivos institucionais e jurídicos, seus negócios foram poupados das ações de controle sanitário. Protegidos pela classificação genérica e permissiva de “serviços essenciais”, diversas atividades industriais, comerciais e de serviços foram mantidas em funcionamento e chegaram mesmo a ter picos de crescimento, como no caso das obras da construção civil, dos trabalhos domésticos ou dos aplicativos de entrega de produtos ( Castro e Guimarães, 2020CASTRO, J. P.; GUIMARÃES, R. (2020). “Mercado imobiliário, neoliberalismo e Covid-19: a crise vista pelos olhos da oportunidade”. In: GROSSI, M.; TONIOL, R. (orgs.). Cientistas sociais e o Coronavírus. São Paulo, Anpocs, pp. 578-583. ).
Ainda que iniciativas de solidariedade tenham sido organizadas por coletivos e instituições de apoio aos mais vulneráveis, formas públicas de lidar com a pandemia demonstraram um projeto intenso de desarticulação dos mecanismos de assistência social do Estado e a construção ativa de uma biopolítica da precariedade que estabelece hierarquias no valor da vida. Assim, gradualmente se reforçou, no imaginário do País, a naturalização do adoecimento da população pobre, especialmente a negra, que se tornou a principal vítima fatal do vírus ( Leite, 2020LEITE, M. P. (2020). Biopolítica da precariedade em tempos de pandemia. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social. Reflexões na Pandemia, texto 23. ).
Contudo, se a mudança de cenário mundial em função da Covid-19 realçou vulnerabilidades, assimetrias e exclusões, ela não as criou, e o arrefecimento da pandemia tampouco as resolveu. Por isso, os textos reunidos neste Dossiê não se prendem a um único contexto, sendo capazes de iluminar tanto aspectos conjunturais quanto estruturais das desigualdades sociais e da geopolítica mundial, especialmente os atrelados a dinâmicas de urbanização e globalização. Debates que pontuam a rápida transformação das localidades, os léxicos supostamente universais que atravessam fronteiras e organizam identidades, a transnacionalização dos fluxos financeiros. Fenômenos que encontram, nas configurações e nos modos de apreender e narrar os espaços, suas bases de realização e tensão, seus pontos de concentração e dispersão.
Os artigos abordam particularmente três dimensões relacionadas às atuais questões da urbanização e da globalização: a) a criação de novas agendas urbanas pensadas no contexto do neoliberalismo e da internacionalização das cidades; b) o papel dos organismos internacionais como agentes de conexão entre diferentes nações e cidades; c) os conflitos, as disputas de poder e as demandas por políticas de reconhecimento e de distribuição de recursos nos territórios das urbes.
A problemática do avanço do neoliberalismo nas cidades aparece no primeiro artigo. Marcelo Pérez Sánchez e Sebastián Aguiar, em Estado y promotores del neoliberalismo urbano: los barrios privados en Uruguay , descrevem o crescimento de bairros privados no Uruguai, criados através da aliança entre atração de capital, empresários internacionais e promoção de atividades turísticas. A ênfase analítica recai na gestão e na estratégia de governos locais, que passaram a conceder progressivamente incentivos fiscais para tais empreendimentos.
Na sequência, o estudo de Bruno Gontyjo do Couto, em Cidades criativas e a agenda internacional das políticas turístico-culturais de renovação urbana , aborda o surgimento e a disseminação de uma racionalidade político-discursiva em torno de categorias como “cidades criativas” e “distritos criativos”, que combina planejamento urbano, desenvolvimento, artes, cultura e turismo. Seu argumento é que, com base nessa nova semântica, a criatividade humana e a cultura estariam sendo percebidas cada vez menos como práticas ligadas a aspectos sublimes e transcendentais do humano e cada vez mais como recursos a serem instrumentalizados com vistas a razões econômicas e/ou sociais.
Na mesma chave de problematização, Marina Toneli Siqueira e Aleph Tonera Lucas, em Nem tudo o que reluz é ouro: Florianópolis e o urbanismo competitivo , discutem a inserção das cidades no mercado competitivo global e como isso tem alterado o planejamento urbano, que passa a ser inspirado em modelos empresariais afastados da realidade local. Para pensar essa questão, os autores focalizam Florianópolis, cidade onde setores do turismo, tecnologia e inovação vêm sendo utilizados para a promoção e a consolidação da imagem competitiva de cidade, deixando como resultados lacunas, contradições e desequilíbrios territoriais.
No sentido de compreender mais a fundo a população residente em regiões centrais das cidades históricas, Rogerio Proença Leite e Sandra Rafaela Magalhães Corrêa, em Centros históricos no Brasil: um olhar a partir do censo demográfico , analisam 45 áreas tombadas como patrimônio cultural pelo Iphan. A partir de dados do censo demográfico de diversas cidades brasileiras, os autores propõem que a formulação desse perfil socioeconômico pode subsidiar uma classificação dos centros históricos, tal qual um ranking , em que as localidades com predominância de rendas baixas possam vir a ser priorizadas nos investimentos públicos.
Outros estudos do Dossiê colocam no centro de suas preocupações os feixes de poder que se conformam nos territórios e os mecanismos de governança acionados durante os processos de internacionalização das cidades e de formulação de novas agendas urbanas. Entre essas agendas, nota-se o crescimento de pesquisas que visam refletir sobre a difusão da tecnologia na concepção das cidades, seja a partir da ênfase em suas potencialidades, seja a partir de uma posição crítica diante das possíveis armadilhas da gestão humana via ambientes e ferramentas digitais.
O artigo de Jess Reia e Luã Cruz, Cidades inteligentes no Brasil: conexões entre poder corporativo, direitos e engajamento cívico , por exemplo, problematiza a agenda das cidades inteligentes no Brasil, colocando em relevo as relações assimétricas entre atores estatais e não estatais e seus atravessamentos por conflitos de interesses entre empresas, governos e comunidades em nível transnacional, regional e local. Os autores mencionam a Nova Agenda Urbana de Quito (2016) e as abordagens corporativas de inteligência no espaço urbano, chamando a atenção para a necessidade de um olhar crítico desde o Sul Global.
Vemos também que as tecnologias digitais podem se relacionar com a mobilidade sustentável a partir de uma agenda baseada nos comuns urbanos, como trazido no artigo Mobilidade sustentável e tecnologias digitais: uma agenda baseada nos comuns urbanos , de Anísio Brasileiro, Maurício Oliveira de Andrade, e Debora Vasconcelos. Os autores demonstram como a crise sanitária de 2020 colocou entre os mais atingidos os segmentos vulneráveis da população. Para superar as desigualdades e tornar as cidades sustentáveis, resilientes e inclusivas, eles apontam que precisamos buscar um novo modelo civilizacional, alternativo ao neoliberalismo, que incorpore o conceito dos comuns urbanos e um novo modelo de gestão participativa da mobilidade.
Com uma posição crítica ao uso generalizado das ferramentas digitais, Claudia Afonso, em A dignidade humana impactada por ambientes criados através de ferramentas digitais , centra sua reflexão na ideia de “dignidade humana”. A autora postula que as bases do método e das ferramentas digitais voltadas para a concepção de espaços construídos submergem individualidades e homogeneízam a estética urbana, contribuindo para a formação de uma sociedade massificada e manipulável. Com o apoio de pesquisas neurocientíficas relacionadas à capacidade humana de decidir, seu artigo problematiza a utilização de tais ferramentas no processo de criação arquitetônica, argumentando que escolhas feitas no âmbito estritamente racional tendem a tornar-se combinações aleatórias e sem relações realmente inovadoras.
Em busca de compreender formas alternativas de governança, Ricardo Caldas Cavalcanti Filho por sua vez analisa, em Os mecanismos de governança não estatal da violência numa comunidade pobre do Recife/PE , os mecanismos não estatais de regulação do uso da força em uma comunidade pobre de Recife. Ao constatar que lá não havia um regime armado estabelecido com enforcement capaz de impor um sistema de governança criminal, o autor procurou compreender como era operado um esquema de gestão informal da violência, protagonizado por atores que não faziam parte nem do mundo do crime, nem do Estado. Entre os resultados de seu trabalho de campo, ele observou que as intervenções desses atores não causavam um impacto significativo na redução do número de episódios violentos, mas conseguiam dissuadir o uso de força em certas situações, impedindo o aumento da criminalidade violenta.
Em relação às novas agendas urbanas que tratam de iniciativas mais inclusivas, vemos os processos de inovação social que se dão por meio de práticas de agricultura urbana na cidade de Florianópolis, apresentados no artigo Agricultura urbana, inovação social e governança: um estudo em Florianópolis , de André Augusto Manoel e Carolina Andion. A partir de cartografia do campo de práticas de agricultura urbana na cidade, os autores identificam três dinâmicas de inovação em três arenas públicas: a de resíduos sólidos orgânicos, a do direito humano à alimentação adequada e a dos ciclos de produção e consumo.
Por fim, o Dossiê apresenta pesquisas sobre infraestrutura urbana, uma pauta ampla que traz como questões associadas o direito à cidade, a inclusão social e a necessidade de contemplar, nas novas agendas, temas como mobilidade e moradia. Nesse sentido, o artigo Deslocamento casa-trabalho: o uso dos modais e do tempo na cidade de Fortaleza , de Irapuan Peixoto Lima Filho, Giovanna Freitas Rebouças e Sol Carolina L. Salgado, busca refletir sobre o deslocamento casa-trabalho e suas características socioespaciais, bem como sobre a relação entre modais de transporte e tempo na cidade de Fortaleza. Os autores problematizam a diferença existente entre as classes sociais no uso do transporte, demonstrando que a população mais pobre é penalizada com jornadas mais longas e demoradas no transporte público, enquanto as classes altas são beneficiadas com jornadas mais curtas e rápidas.
O tema da mobilidade e do movimento pendular também é abordado no artigo Mover-se na metrópole: movimentos pendulares na Região Metropolitana do Rio de Janeiro , de Ulisses Carlos Silva Ferreira, Paulo de Martino Jannuzzi e Letícia de Carvalho Giannella, a partir da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), entre as décadas de 1980 e 2010. O objetivo do artigo consiste em compreender a transformação decorrente da metropolização do espaço e das mudanças na estrutura sócio-ocupacional, tendo como base de análise os municípios da RMRJ entre 2000 e 2010.
Já os três últimos artigos do Dossiê abordam diretamente as dinâmicas habitacionais. O estudo de Aline Ramos Esperidião, Beatrice Lorenz Fontolan e Alfredo Iarozinski Neto, Proprietários estão mais satisfeitos que inquilinos? Uma análise discriminante no contexto urbano , busca refletir sobre as diferentes percepções de proprietários e inquilinos no contexto urbano, com o intuito de formular uma melhor compreensão sobre a satisfação dos indivíduos. A partir do questionário aplicado e de análises estatísticas, os autores demonstram a importância da manutenção e da infraestrutura do contexto urbano para ambos os grupos. Itens como localização, serviços e recursos do bairro são também apresentados como discriminantes entre os grupos, com destaque para as características relevantes para cada público-alvo.
Por sua vez, o texto de Marina Sanders Paolinelli e André Tiné Gimenez, Limites da locação social no Brasil: o caso de Belo Horizonte , focaliza a experiência do processo de regulamentação do recém-implantado programa de Locação Social de Belo Horizonte (decreto n. 17.150/2019). O estudo parte da análise da inserção de políticas centradas na moradia por aluguel na agenda urbana internacional e nacional, diferenciando o surgimento histórico destas nos países centrais, no Welfare State , e a emergência recente nos países periféricos, em um cenário de neoliberalização. A fim de demonstrar o imbricamento entre diversas referências, perspectivas e agentes, os autores apresentam o processo de revisão da Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte, procurando apontar limites e desafios para a inserção da locação social na agenda urbana municipal e brasileira.
Encerrando o Dossiê, o artigo de Carolina Alvim de Oliveira Freitas, Reestruturação imobiliária: um conceito da urbanização capitalista , sistematiza a bibliografia que trata da noção de reestruturação para referir-se à produção imobiliária no capitalismo contemporâneo, vislumbrando a determinação singular dessa produção no conjunto mais amplo de características da acumulação capitalista desde a crise mundial do início da década de 1970. Seu argumento é que houve um deslocamento dos estudos sobre a reestruturação imobiliária centrada no problema do capital industrial, que passaram a enfatizar a dominância do capital financeiro nas tendências mais recentes da urbanização, inclusive no contexto latino-americano.
Na seção Textos Complementares, os artigos elencados também discutem contemporâneas agendas urbanas a partir de um olhar crítico em relação à lógica neoliberal de produção das cidades. Maria Carolina Maziviero e Alexandre Vinicius do Carmo, em Parque Bom Retiro – Aproximações e distanciamentos na instituição do comum em Curitiba , analisam o caso do Parque Bom Retiro, na cidade de Curitiba, indicando a possibilidade do estabelecimento do comum como prática de apropriação e uso do espaço urbano. Por meio do caso apresentado, os autores identificaram limites, contradições e desafios para a formação de uma rede de ações propositivas que, em contraposição à lógica capitalista que compreende a cidade exclusivamente como mercadoria, teria sua racionalidade ancorada na potência das experiências coletivas e na estruturação do espaço urbano baseado nos sentidos e afetos que permeiam a vida cotidiana.
Já no artigo Minimização de resíduos sólidos na Suécia: proposições para gestão em municípios brasileiros , de Cristina Maria Dacach Fernandez Marchi, o tema em destaque são as normas internacionais e nacionais, a participação social e a infraestrutura adequada para a coleta do material descartado que será destinado à reciclagem. A partir da análise do gerenciamento dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Estocolmo, na Suécia, a autora examina os arranjos institucionais dos serviços de manejo de resíduos e seus efeitos sobre a diminuição do volume encaminhado para destinação final. Sua conclusão é que os arranjos institucionais aplicados na Suécia vêm contribuindo para o alcance de objetivos nacionais e internacionais propostos para o país e podem inspirar o aperfeiçoamento do gerenciamento desses serviços no Brasil.
Por fim, Ana Carla de Lira Bottura, em O papel do Estado na produção da cidade neoliberal: um retrato de Palmas/TO , propõe uma leitura de Palmas, capital do Tocantins, enquanto cidade neoliberal, concebida e produzida como instrumento de ampliação das fronteiras de acumulação capitalista no interior do País. Seu artigo tem como objetivo discutir a atuação dos agentes privados na produção do espaço urbano palmense, em parceria ou disputa entre si, intermediados pela ação do Estado. Por meio de documentos históricos e da análise de planos, projetos e fenômenos em andamento, a autora busca explicitar discursos e práticas que ilustram a participação estatal direta ou indireta no processo de venda da cidade como mercadoria.
Considerando o conjunto dos debates propostos nos artigos, acreditamos que este número de Cadernos Metrópole converge com outras pesquisas que vêm sendo realizadas no campo dos estudos urbanos e das ciências sociais, centrados na análise das disputas presentes na sociedade brasileira entre diferentes projetos de cidade. Como vimos, são pesquisadores que têm se dedicado a entender a concepção neoliberal/ultraliberal, baseada em um receituário de austeridade, privatização e aprofundamento da dominação rentista-financeira, como apontado por Luiz César de Queiroz Ribeiro. Entres as alternativas a essa concepção, o autor indica a importância do fortalecimento do projeto democratizante de cidade, “constituído ao longo da década de 1980 e afirmado com as vitórias do campo progressista na Constituinte de 1988, com o ciclo de inovações institucionais dos anos 1990 e os experimentos de governos reformistas dos anos 2000, nos planos nacional e local” ( Ribeiro, 2022RIBEIRO, L. C. de Q. (2022). “Prefácio. Reformar a cidade, reconstruir a nação”. In: MARX, V.; FEDOZZI L. J.; CAMPOS, H. Á. Reforma urbana e direito à cidade: Porto Alegre. Rio de Janeiro, Letra Capital. , p. 10).
Certamente são múltiplos os olhares e as propostas que buscam pensar o urbano e os desafios da gestão democrática das cidades. Dessa forma, a originalidade desta publicação reside na discussão das novas agendas urbanas a partir das conexões internacionais e dos feixes de poder, visando potencializar a abertura de campos de pesquisa e atuação que explorem as relações entre ações locais, micropolíticas do cotidiano e formulação de políticas públicas. A partir de experiências descritas principalmente no contexto latino-americano e do Sul Global, acreditamos que os artigos que compõem este número poderão oferecer importantes contribuições para as reflexões das áreas de sociologia e antropologia urbanas, sociologia da globalização, ciência política, urbanismo, arquitetura e geografia, além de subsidiar a elaboração de políticas e programas governamentais no atual momento brasileiro.
Referências
- ARANTES, O.; MARICATO, E.; VAINER, C. (orgs.) (2000). A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis, Vozes.
- CASTRO, J. P.; GUIMARÃES, R. (2020). “Mercado imobiliário, neoliberalismo e Covid-19: a crise vista pelos olhos da oportunidade”. In: GROSSI, M.; TONIOL, R. (orgs.). Cientistas sociais e o Coronavírus. São Paulo, Anpocs, pp. 578-583.
- DARDOT, P.; LAVAL, C. (2016). A nova razão do mundo. São Paulo, Boitempo.
- DEZALAY, Y.; GARTH, B. (2002). La mondialisation des guerres de palais. La restructuration du pouvoir d´état en Amérique Latine, entre notables du droit et Chicago Boys. Paris, Seuil.
- ESCOBAR, A. (1995). Encountering development. The making and the unmaking of the Third World. Princeton, Princeton University Press.
- FERGUSON, J. (1994). The anti-politics machine. “Development”, depoliticization and bureaucratic power in Lesotho. Minneapolis, Londres, University of Minnesota Press.
- FIX, M. (2007). São Paulo cidade global. Fundamentos financeiros de uma miragem. São Paulo, Boitempo.
- GUIMARÃES, R. (2011). A utopia da Pequena África. Os espaços do patrimônio na Zona Portuária carioca. Tese de doutorado. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- GUIMARÃES, R. (2013). “O encontro mítico de Pereira Passos com a Pequena África: narrativas de passado e formas de habitar na Zona Portuária carioca”. In: GONÇALVES, J. R.; GUIMARÃES, R.; BITAR, N. (orgs.). A alma das coisas: patrimônios, materialidade e ressonância. Rio de Janeiro, Mauad X, pp. 47-78.
- GUIMARÃES, R.; BARBOSA, A.; MOREIRA, G. (orgs.) (2021). Mediações arquitetônicas. Redes profissionais e práticas estatais no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Papéis Selvagens.
- GUIMARÃES, R.; CASTRO, J. P. (2021). “Le gouvernement des ‘ mémoires sensibles’: des faisceaux de pouvoir dans la construction du projet La Route de l’esclave au Brésil”. Brésil(s) – Sciences Humaines et Sociales, v. 20. Disponível em: http://journals.openedition.org/bresils/11052
» http://journals.openedition.org/bresils/11052 - GUIMARÃES, R.; MARX, V. (orgs.) (2020). Dossiê Espaços, simbolismos e relações de poder. Revista Interseções, v. 22, n. 3.
- HARVEY, D. (2006). Espaços de esperança. São Paulo, Loyola.
- LEITE, M. P. (2020). Biopolítica da precariedade em tempos de pandemia. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social. Reflexões na Pandemia, texto 23.
- MARX, V. (2008). Las ciudades como actores políticos en las relaciones internacionales. Tese de doutorado. Espanha, Universidad Autónoma de Barcelona.
- MARX, V.; ARAÚJO, G. de O.; SOUZA, V. G. de (2021). Relação global-local e transformação urbana no 4º distrito de Porto Alegre. Revista Política e Planejamento Regional – RPPR. Rio de Janeiro – v. 8, n. 2, maio a agosto, pp. 273-296.
- MARX, V.; COSTA, M. (orgs.) (2016). Participação, conflitos e intervenções urbanas: contribuições ao Habitat III. Porto Alegre, Editora da UFRGS/Cegov.
- RIBEIRO, L. C. de Q. (2022). “Prefácio. Reformar a cidade, reconstruir a nação”. In: MARX, V.; FEDOZZI L. J.; CAMPOS, H. Á. Reforma urbana e direito à cidade: Porto Alegre. Rio de Janeiro, Letra Capital.
- ROLNIK, R. (1997). A cidade e a lei – Legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São Paulo, Studio Nobel.
- SCAPINI, G.; MARX, V. (2020). Atuação de mulheres em tempos de Covid-19: a necessidade de reconhecimento das práticas de solidariedade e de cuidado. Jornal da UFRGS, maio.
Notas
-
1
Foram realizadas as mesas-redondas “Discursos e efeitos das intervenções urbanas na América Latina”, no 6º Congresso da Associação Latino-Americana de Antropologia (ALA, novembro de 2020, formato virtual, Montevidéu); “Cidades, práticas estatais e configurações de poder”, no 20º Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS, julho de 2021, formato virtual, Belém); e “Cidades, políticas de reconhecimento e gestão de populações”, no 45º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs, outubro de 2021, formato virtual, Caxambu). Os diálogos possibilitaram também a organização do Seminário Temático “Cidades emergentes: agendas, conexões e poderes”, no 46º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs, outubro de 2022, formato virtual, Campinas).
-
2
O Dossiê foi divulgado em 29 de janeiro de 2021 no site do Etno.Urb, rede de pesquisadores em ciências sociais organizada em torno da etnografia urbana, sediada em Portugal e com forte presença no Brasil. Foi lançado em debate virtual, no dia 28 de maio de 2021, em evento coorganizado pelo Urbano – Laboratório de Estudos da Cidade (IFCS/UFRJ), com a presença das organizadoras e de todos os autores e com vídeo disponibilizado no YouTube. Foi também divulgado no Boletim Número 1/2021, de junho de 2021, do Comitê de Pesquisa 21 (RC21) – Desenvolvimento Urbano e Regional, da Associação Internacional de Sociologia (ISA).
-
3
Vanessa Marx (GPSuic/UFRGS) parte de sua pesquisa desenvolvida na UFRGS e denominada “Internacionalização das cidades: conexões entre os bairros Floresta (Porto Alegre), Ciudad Vieja (Montevidéu) e Poblenou (Barcelona)”. O projeto de pesquisa começou no ano de 2021 e foi desenvolvido a partir de pesquisa de campo exploratória, realizada em Montevidéu e em Barcelona, no âmbito do projeto de internacionalização das universidades, Capes-Print, no eixo “Cidades inteligentes, urbanizações complexas, indústria 4.0 e economia do compartilhamento” da UFRGS. A pesquisa articula-se, também, com os temas que a pesquisadora trabalha no âmbito do Observatório das Metrópoles – Núcleo Porto Alegre.Roberta Guimarães (Nesp/UFRJ) baseia suas reflexões nos resultados do projeto de pesquisa “As mediações de arquitetos e urbanistas na patrimonialização dos espaços do Rio de Janeiro”, financiado pela bolsa Jovem Cientista do Nosso Estado (Faperj, 2018-2021) e desenvolvido durante seu pós-doutorado no Laboratoire Mondes Americains (EHESS, 2018-2019). Seus estudos voltaram-se para a análise das intervenções urbanísticas articuladas por instâncias governamentais e entidades privadas, com particular interesse pelos feixes de poder que as organizam e sustentam e pelos mecanismos discursivos que as legitimam como “problemas públicos”.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
15 Maio 2023 -
Data do Fascículo
May-Aug 2023