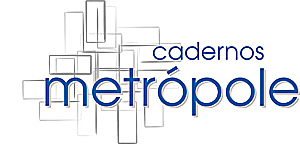Resumo
A intervenção federal na área da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, iniciada em fevereiro de 2018, e o anúncio da extinção de parte do Programa de Polícia Pacificadora levantaram a questão sobre o que muda e o que permanece no cenário das favelas cariocas após dez anos de “pacificação”. Este artigo procura responder a tal indagação, jogando luz sobre uma dimensão desse processo: a produção de uma nova sociabilidade nesses territórios, onde o empreendedorismo se apresentou como elemento fundamental. A partir de etnografia realizada em favelas com UPP e do acompanhamento de projetos públicos e privados executados à época, analisamos o impacto dessa produção sobre o tecido associativo dessas localidades.
favelas; pacificação; empreendedorismo; Rio de Janeiro; militarização
Abstract
The federal intervention in the public security area in the state of Rio de Janeiro, which started in February 2018, and the announcement of the partial extinction of the Pacifying Police Program, have raised the following question: what changes and what remains the same in the scenario of Rio’s slums after ten years of “pacification”? This article aims to answer this question, shedding light on one dimension of this process: the production of a new sociability in these territories, where entrepreneurship has presented itself as a fundamental element. Based on an ethnography carried out in slums with Pacifying Police Units, and on the monitoring of public and private projects executed at the time, we analyze the impact of this production on the associative life of these localities.
slums; pacification; entrepreneurship; Rio de Janeiro; militarization
Introdução
Desde 16 de fevereiro de 2018, o estado do Rio de Janeiro encontra-se sob intervenção federal na área da Segurança Pública, com a nomeação de um interventor militar. Esse fato marca uma inflexão em nossa história recente, caracterizada, na última década, tanto pela realização de megaeventos, quanto pela adoção do projeto de “pacificação” como principal política de segurança para as favelas. Em abril, o ministro Extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou um plano para extinguir 18 das 38 Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) do estado e para incorporar outras aos batalhões regulares de Polícia Militar. Vale destacar que tal anúncio foi realizado em evento organizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), no lançamento de um plano de segurança para o estado produzido pelo Gabinete da Intervenção Federal.
Esse evento dá visibilidade para uma importante articulação entre interesses de empresas privadas e a área de segurança pública, identificada e analisada desde o início do processo de execução do projeto das UPPs ( Barbosa, 2012BARBOSA, A. R. (2012). Considerações Introdutórias sobre territorialidade e mercado na conformação das Unidades de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Segurança Pública . São Paulo, v. 6, n. 2, pp. 256-265. ; Ost e Fleury, 2013OST, S. e FLEURY, S. (2013). O mercado sobe o morro: a cidadania desce? Efeitos socioeconômicos da pacificação no Santa Marta. Dados , v. 56, n. 3, pp. 635-671. ; Leite, 2015LEITE, M. S. P. (2015). “De território de pobreza a território de negócios: dispositivos de gestão das favelas cariocas em contexto de pacificação”. In: BIRMAN, P. et al. Dispositivos urbanos e a trama dos viventes: ordens e resistências . Rio de Janeiro, Editora FGV. ). O anúncio de seu fim na sede da Firjan permite inferir que tal articulação não se encerra com a conclusão do projeto de “pacificação”. Dessa forma, avaliar tais efeitos como forma de compreender os impactos do projeto das UPPs é o objetivo deste artigo. Para tanto, recuperamos a trajetória do Programa das UPPs e a experiência da UPP Social – que protagonizou o debate sobre empreendedorismo nas favelas cariocas; analisamos dois casos de iniciativas locais organizadas a partir desse princípio; e, por fim, discutimos como essa temática passou a organizar a intervenção estatal e a participação da iniciativa privada na execução dessa política.
Pacificação e mercantilização nas favelas cariocas
A representação de uma “cidade pacificada”, tomada como objeto heurístico, é o ponto de partida para refletir sobre diversos aspectos do espaço urbano e suas margens ( Das e Poole, 2004DAS, V. e POOLE, D. (2004). Anthropology in the margins of the state . Nova Deli, Oxford University Press. ), 1 1 () Em contraposição ao modelo interpretativo que identifica as margens como espaços da desordem, em que o papel do Estado é a instauração e/ou manutenção da ordem, as autoras apresentam um conjunto de situações compreendido a partir de práticas políticas da vida cotidiana que modelam as práticas políticas de regulação e disciplina, constituintes do próprio Estado. Desse ponto de vista, as agências estatais redefinem seus modos de governar e legislar a todo o momento e a partir de cada situação específica. Portanto, são múltiplas as negociações e articulações acomodadas cotidianamente nas margens, aqui identificadas nas favelas cariocas, pelos diferentes programas públicos e justificadas pela forma como essas áreas foram sendo organizadas numa dialética entre informalidade e formalidade, ilegalidade e legalidade. assim como as práticas gestionárias ( Boltanski, 2013BOLTANSKI, L. (2013). Sociologia da crítica, instituições e o novo modo de dominação gestionária. Sociologia & Antropologia . Rio de Janeiro, v. 3, n. 6, pp. 441-463. ) 2 2 () Nos termos do autor, as práticas gestionárias configuram-se na atualidade como dispositivos de governança que permitem, aos responsáveis pela política, o ajustamento da crítica ao mesmo tempo que se mantêm inalteradas as assimetrias sociais. e os novos agenciamentos no Rio de Janeiro, no período de preparação da cidade para a recepção dos grandes eventos internacionais.
O geógrafo David Harvey (2005)HARVEY, D. (2005). A produção capitalista do espaço . São Paulo, Anablume. em suas críticas sobre as consequências da acumulação capitalista no sistema urbano, especialmente ao tratar do papel da urbanização na mudança social, revela que, desde a década de 1970, os países do chamado capitalismo avançado vêm adotando uma postura na governança urbana centrada no crescimento econômico em função do empreendedorismo que combina os poderes estatais, as diversas formas de organização da sociedade civil e os interesses privados, no fomento de um tipo específico de desenvolvimento urbano/regional.
Essa postura facilita a circulação e a reprodução do capital a partir da transformação das dinâmicas de organização das instituições do mercado e da apropriação do território urbano – o que resulta, por sua vez, no aprofundamento da mercantilização das cidades com um novo ciclo que reúne dois elementos fundamentais: a acumulação urbana baseada na concentração do capital local e os novos fluxos de capital internacionalizados. A consequência desse processo se reflete na fragmentação e dispersão cada vez maiores do espaço social urbano, além da transformação da cidade em commodities , ou seja, a utilização das cidades como objeto e campo de negócios. 3 3 () Além dos trabalhos de David Harvey, podemos citar também os trabalhos de Sassen (2001) ; Compans (1999) ; Ribeiro e Santos Junior (2013 ); e Vainer (2011) , dentre outros.
Argumentamos que a escolha do Rio de Janeiro como cidade receptora de grandes eventos e participante dessa forma de gestão baseada no empresariamento e na consolidação da cidade-mercadoria se relaciona diretamente com a ação empreendida pelas UPP que, em última instância, buscou, através da “pacificação” das favelas, modificar a imagem da capital fluminense de “cidade violenta” para uma “cidade de paz” ( Carvalho, 2014aCARVALHO, M. B. (2014a). Os dilemas da “pacificação”: práticas de controle e disciplinarização na “gestão da paz” em uma favela no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado . Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. ).
A noção de paz mobilizada pelos gestores públicos implicava um conjunto de práticas, centradas na polícia militar, mas também acionada por outros atores sociais, públicos e privados, coletivos e individuais, através da execução de projetos sociais associados às intervenções de maior fôlego como UPP Social, Territórios da Paz e PAC Social; organizações privadas que viram na ação da Secretaria de Segurança uma oportunidade de ampliar seus lucros e promover atividades ligadas à área de responsabilidade social das empresas; organizações do terceiro setor também chamadas a atuar nas “favelas pacificadas” a fim de oferecer, em especial aos jovens, novas oportunidades no mercado de trabalho ou a possibilidade de complementação da carreira escolar.
Como demonstrou Carvalho (2014aCARVALHO, M. B. (2014a). Os dilemas da “pacificação”: práticas de controle e disciplinarização na “gestão da paz” em uma favela no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado . Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. ), essas instituições materializaram novos agenciamentos nas favelas ocupadas pela polícia militar e contribuíram para uma “gestão da paz” nas áreas “pacificadas”. Essa gestão se preocupa em estabelecer as bases que garantem a “manutenção da ordem pública” através de um disciplinamento dos favelados, transformando-os em um “novo cidadão”, consumidor, mas também em um empreendedor formalizado. Nesse sentido, a visão de paz é substantivada no enquadramento dos favelados e na necessidade de discipliná-los a partir de determinados padrões morais, culturais e de consumo, que se desdobram, por sua vez, no deslocamento dos conflitos e em novos arranjos sociais. A “pacificação” das favelas é aqui compreendida, portanto, à luz de outras políticas de intervenção urbanística e de gestão social na cidade como um todo e de forma particular em diferentes favelas.
Nessa trama de relações e instituições sociais, a iniciativa privada coloca-se em um lugar de destaque. O empreendedorismo e o consumo surgem como janelas de acesso à cidadania, e os “negócios sociais” vão ganhando cada vez mais força e investimentos nas favelas que receberam o programa de pacificação. Da mesma forma, as instituições públicas, através de seus programas de fomento ao microempreendedor, vêm atuando nessas áreas, investindo em práticas empreendedoras e na formalização dos pequenos comerciantes.
Feltran (2011)FELTRAN, G. S. (2011). Fronteiras de tensão: política e violência nas periferias de São Paulo . São Paulo, Editora da Unesp, CEM e Cebrap. afirma que, se levarmos a sério a dimensão normativa da relação entre sociedade e política, que supõe a existência de igualdades individuais no acesso aos direitos, algo separa alguns indivíduos, em especial moradores de favelas ou periferias, do todo social. Para essa parcela da população, os direitos individuais não são plenamente garantidos. Ainda quando o Estado oferece políticas focalizadas para determinados territórios ou populações, termina por segregar ainda mais o espaço social. Além disso, esses processos sociais, enquanto segregam e reduzem o acesso ao direito, também produzem conexões específicas entre os setores do “mundo popular” e os setores do “mundo político”. Observar essas conexões é fundamental para a compreensão analítica dos processos em curso nas periferias urbanas.
O autor salienta, ainda, que a forte presença do “mundo do crime” nas dinâmicas sociais da periferia também impactou na relação dessas populações com o “mundo público”. Como ele afirma, as representações de ascensão social possibilitada pelos nexos entre migração, família, trabalho industrial e religião nas décadas de 1970 e 1980, eram a alavanca para a organização pública e política em movimentos sociais. Entretanto, para a geração nascida a partir da década de 1990, a possibilidade de ascensão social por essa via perde o sentido e, nesse contexto, tem um lugar privilegiado a intensificação da violência urbana.
Ao analisar esse processo no Rio de Janeiro, Machado da Silva (2012)MACHADO DA SILVA, L. A. (2012). “As UPPs, a linguagem da violência urbana e a sociabilidade no Rio de Janeiro”. In: SANTOS, A. P. et al. (orgs.). Rio de Janeiro: um território em mutação. Rio de Janeiro, Gramma Livraria e Editora. nos revela que a gramática da violência urbana se torna central e mobiliza uma série de dispositivos que passam a organizar as rotinas ordinárias dos moradores da cidade e, de modo particular, dos favelados. Em outros termos, a linguagem dos direitos cede espaço às questões relativas à manutenção da ordem pública, invocando o discurso bélico para a resolução dos conflitos sociais. Nesse sentido é que se dá, conforme revela o autor, “o abandono do universalismo que sustentava o debate sobre os direitos, em favor do afastamento a qualquer preço de agentes que são definidos como ameaçadores à continuidade das rotinas cotidianas” (2012, p. 117).
Esses agentes estariam, então, relacionados a uma “sociabilidade violenta” que teria encontrado lugar a partir da expansão do comércio da cocaína no varejo do tráfico de drogas e da entrada de armas de fogo para a proteção das “bocas de fumo” que se localizam, no geral, nas favelas da cidade. Assim, as práticas do Estado direcionaram-se a combater o tráfico de drogas instalado nas favelas, e os traficantes tornaram-se o alvo principal das ações repressivas por parte da polícia. A estratégia de “guerra às drogas” fortaleceu o imaginário de uma cidade dilacerada pela criminalidade e pela generalização dos conflitos sociais, encarnando, como enfatizou Leite, a “metáfora da guerra” como diretriz para as políticas de segurança pública ( 2000LEITE, M. S. P. (2000). Entre o individualismo e a solidariedade: dilemas da política e da cidadania no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais , v. 15, n. 44. , 2012aLEITE, M. S. P. (2012a). Da “metáfora da guerra” ao projeto de “pacificação”: favelas e políticas de segurança pública no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Segurança Pública . São Paulo, v. 6, n. 2, pp. 374-389. ).
Em suas pesquisas mais recentes, a autora refere-se a uma produção diferenciada de regimes territoriais direcionados às favelas. Por um lado, a grande maioria ainda permanece sob o regime da “metáfora da guerra”, com o histórico modelo de presença precarizada das instituições estatais. Por outro, estão as favelas “pacificadas” que obedecem a um regime militarizado, de controle e disciplina. Sob esse ponto de vista, pensar a relação estabelecida pelo viés da “inclusão produtiva” ao revés da garantia de direitos universais, tomando como central a prática empreendedora ofertada pelo mercado, em detrimento do trabalhador, ajuda-nos a compreender e aprofundar nosso tema de pesquisa.
A lógica dos editais ou as premiações para desenvolver seus próprios projetos ocupam o lugar do trabalho formal. Nesse novo registro, como ressalta Telles, o emprego desdobra-se em formas variadas de “trabalho precário, intermitente, descontínuo, tornando inoperantes as diferenças entre formal e informal” ( 2006TELLES, V. da S. (2006). Mutações do trabalho e a experiência urbana. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 18, n. 1, pp. 173-195. , p. 174). Além disso, essas novas configurações nos apresentam outras dinâmicas sociais que ressituam o trabalho no campo social e que redesenham práticas sociais e suas mediações e alteram a experiência urbana, seguindo os “circuitos dos territórios da precariedade” (ibid, p. 175).
No cenário no qual as experiências de trabalho estão modificadas, em especial para as gerações mais novas, que entram nessa ambivalência de relações em que, de um lado, está a precariedade do emprego e, de outro, está a sedução do consumo, a celebração dos sucessos individuais cada vez mais se configura como possibilidade de autonomia no mercado de trabalho. O desafio não é apenas abrir seu próprio negócio, mas, sobretudo, manter-se relativamente estabilizado e, nos territórios da pobreza, formalizados.
Embora a análise da socióloga recaia sobre as relações entre cidade e trabalho em um mundo atravessado pelos circuitos globalizados do capital, apoiamo-nos em suas reflexões para pensarmos de que maneira esses fluxos circulam e encontram outros agenciamentos, como, por exemplo, na ampliação de um mercado voltado para a gestão social através de projetos custeados pelos governos ou na expansão de iniciativas empreendedoras, de caráter social, financiadas por investidores dos chamados “negócios sociais”, ou seja, empresas que têm como objetivo a solução desses problemas.
Rizek (2011)RIZEK, C. S. (2011). Práticas culturais e ações sociais: novas formas de gestão da pobreza. In: XIV ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR. Rio de Janeiro. também chama a atenção para a “nova gestão da pobreza” a partir da culturalização da questão social. Ela destaca que esses processos permitem que as práticas culturais se desenhem enquanto alternativas para um conjunto de questões que envolvem a geração de emprego e renda, o protagonismo individual e a inibição da entrada no “mundo do crime e das drogas”, mas muito marcadas por formas empresariais de gestão.
A “pacificação” reuniria, então, as condições para analisar esses processos. Mobilizando o discurso que propaga a ideia da “retomada do território pelo Estado” e, ao mesmo tempo, da necessidade de “integração” desses espaços à cidade, abre-se uma janela para uma enxurrada de programas públicos e privados, pautados pela retórica de uma cidadania plena para os moradores. Isso também nos coloca como questão o papel que é desempenhado pelo poder público na proposição e execução de políticas para as favelas. Na seção seguinte analisamos como o empreendedorismo tornou-se a principal política “social” do programa de “pacificação”.
O “social da UPP” e a UPP Social
Criado no final de 2008, o projeto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) passou a dominar o debate (especialmente no Rio de Janeiro) sobre Segurança Pública e violência urbana. Sua crise, alardeada desde 2016 com a saída do secretário de Segurança José Mariano Beltrame (que esteve à frente do projeto desde o início), e o anúncio de sua extinção parcial, no contexto da Intervenção Federal no estado, levantam dúvidas sobre sua eficácia. Mas o que foi o projeto das UPPs?
Segundo o governo do estado, o objetivo do programa seria recuperar o controle do Estado sobre as favelas e reduzir os confrontos armados, usando prevenção a longo prazo, através da presença de um contingente expressivo de policiais nos territórios de algumas favelas. De acordo com o site da UPP, elas foram criadas pela Secretaria de Estado de Segurança a partir dos princípios da Polícia Comunitária, que seria “um conceito e uma estratégia fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área de segurança pública”. O decreto que regula a Unidade de Polícia Pacificadora, de 6 de janeiro de 2011 (mais de dois anos após a instalação da primeira UPP numa favela da zona Sul da cidade), determina que os policiais militares lotados nessas unidades devem receber treinamento especializado para o policiamento de proximidade, “com ênfase em direitos humanos e na doutrina de polícia comunitária” e devem “obrigatoriamente ser policiais militares recém- formados” .
Desde o começo da implantação das UPPs, também se apresenta uma oposição entre o trabalho da polícia no combate ao crime localizado nas favelas e o que deveria ser o trabalho do Estado de “levar a cidadania” a esses territórios através de políticas públicas. Assim, a máxima que se fez presente, especialmente através do secretário de Segurança José Mariano Beltrame, foi: “só polícia não resolve”.
A percepção de que as favelas não deveriam (ou não deveriam apenas) ser alvo de ações policiais e militares, mas também de políticas sociais não é ideia nova, já defendida por líderes comunitários, agentes públicos, pesquisadores e até mesmo por atores da Segurança Pública. Tal concepção já tinha inspirado outros programas públicos, como o “Mutirão pela Paz” ( Soares, 2000SOARES, L. E. (2000). Meu casaco de general: 500 dias no front da Segurança Pública do Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Companhia das Letras. ; Rocha, 2013ROCHA, L. de M. (2013). Uma favela “diferente das outras”?: Rotina, silenciamento e ação coletiva na favela do Pereirão, Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Quartet, Faperj. ). Pode-se destacar como novidade o fato de ser o secretário de Segurança, nesse contexto, quem vocalizou essa questão. Mas quem seria responsável por “levar às comunidades atendidas os serviços públicos essenciais”?
A resposta que o governo do estado deu a essa questão foi a criação, no segundo semestre de 2010, do Programa UPP Social, primeiro alocado na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e, depois, no Instituto Pereira Passo (IPP), com a responsabilidade de integrar e coordenar ações sociais nas favelas com Unidades de Polícia Pacificadora. Ao longo de sua existência, o programa foi financiado com a participação do ONU-Habitat, programa das Nações Unidas para os assentamentos humanos, e gerou expectativas sobre a entrada dos desejados serviços públicos nas favelas. A execução dessas políticas, no entanto, continuou sob a responsabilidade dos órgãos públicos. A proposta era articular tais órgãos para atuarem conjuntamente. Assim, é preciso primeiro enfatizar que o programa UPP Social não é sinônimo de obras e serviços públicos que seriam executados em paralelo à implementação do programa das UPPs em algumas favelas cariocas – o que estamos chamando aqui de “o social da UPP”.
A complementaridade entre “UPP Militar” e o “social da UPP”, conforme foi explicitado acima, é constituinte do projeto das UPPs desde seu início. Dessa forma, a UPP Social foi criada como forma de operacionalizar o trabalho de outros órgãos públicos nas favelas ocupadas pelas forças de pacificação e, nesse sentido, exercia uma função complementar à ocupação militar, ainda que com lugar institucional diferenciado. Mas o fato de ser chamar UPP Social dificultou a separação entre as duas linhas de atuação, civil e militar, o que ajuda a explicar a mudança de nome do programa. 4 4 () Em agosto de 2014 o programa passou a se chamar Rio Mais Social e, posteriormente, Rio + Social, como explicado à frente. Segundo uma das suas primeiras gestoras:
Esse nome ele foi escolhido […] após muita reflexão, porque a gente sabia do ônus de usar o termo UPP, né? O histórico que a polícia traz, né? Mas foi escolhido com muita propriedade, nesse sentido. De que é uma complementação, de que é um reforço à ação da polícia. Então a gente usa muito essa expressão que a UPP Social num primeiro momento, a gente está lá pra consolidar a pacificação daquele território. (Entrevista com gestora da UPP Social, 2012)
Diversas mudanças no programa, tanto em nível de governo como também de foco de atuação, tiveram impactos sobre a atuação da UPP Social junto às organizações locais e supralocais das favelas em que o programa foi executado.
Os impactos do programa das UPPs foram avaliados por diversos pesquisadores ( Cunha e Mello, 2011CUNHA, N. V. e MELLO, M. A. S. (2011). Novos conflitos na cidade: a UPP e o processo de urbanização na favela. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social , v. 4, n. 3, pp. 371-401. ; Burgos et al., 2011BURGOS, M. B. et al. (2011). O efeito UPP na percepção dos moradores das favelas. Desigualdade e Diversidade – Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio, n. 11, pp. 49-98. ; Rodrigues et al., 2012RODRIGUES, A. et al. (2012). Unidades de Polícia Pacificadora: debates e reflexões. Comunicações do ISER , n. 67, ano 31. ; Cano, Borges e Ribeiro, 2012CANO, I; BORGES, D. e RIBEIRO, E. (2012). “Os donos do morro”: uma avaliação exploratória do impacto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro . São Paulo, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rio de Janeiro, LAV/UERJ. ; Leite, 2012aLEITE, M. S. P. (2012a). Da “metáfora da guerra” ao projeto de “pacificação”: favelas e políticas de segurança pública no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Segurança Pública . São Paulo, v. 6, n. 2, pp. 374-389. , 2015LEITE, M. S. P. (2015). “De território de pobreza a território de negócios: dispositivos de gestão das favelas cariocas em contexto de pacificação”. In: BIRMAN, P. et al. Dispositivos urbanos e a trama dos viventes: ordens e resistências . Rio de Janeiro, Editora FGV. ; Machado da Silva e Leite, 2014), e os resultados apresentados indicaram a redução da presença ostensiva de bandos armados (de traficantes ou milicianos) e também de conflitos entre grupos criminosos – e entre estes e as forças policiais nas favelas com UPPs. Também indicaram dificuldades na relação entre policiais “pacificadores” e os moradores, especialmente os jovens, maiores alvos da vigilância representada pela presença rotineira da UPP e, consequentemente, as maiores vítimas das arbitrariedades policiais ( Rocha, 2013ROCHA, L. de M. (2013). Uma favela “diferente das outras”?: Rotina, silenciamento e ação coletiva na favela do Pereirão, Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Quartet, Faperj. ; Carvalho, 2014aCARVALHO, M. B. (2014a). Os dilemas da “pacificação”: práticas de controle e disciplinarização na “gestão da paz” em uma favela no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado . Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. ). Nesse sentido, moradores de favelas, especialistas e autoridades compartilhavam da preocupação de que somente as UPPs não seriam suficientes para “integrar” as favelas à cidade e à cidadania, e que seriam necessárias outras formas de atuação, por parte do poder público e também da sociedade, nesses territórios. É, nesse sentido, que o Programa UPP Social foi apresentado: como uma “agenda posterior à pacificação”.
A preocupação com a regulação da vida coletiva durante a transição para um outro “regime”, com o possível fim da suposta dominação dos grupos de traficantes de drogas locais sobre os moradores, era central na criação do Programa UPP Social e justificou a criação de fóruns locais que se tornassem espaços de diálogo permanente, nos quais seriam discutidos os novos parâmetros dessa regulação. Um dos quatro eixos de ação da UPP Social chamava-se “Cidadania e Convivência” e compunha-se de “canais de escuta e interlocução social como fóruns e ouvidorias”. Assim, propunha-se realizar fóruns e/ou reuniões em cada uma das favelas em que o programa seria instalado, a partir do pressuposto de que a convivência forçada com o tráfico de drogas teria criado, nas favelas, regras de ocupação do espaço coletivo, oferta e regulação de serviços e bens culturais e coletivos, de convivência no âmbito privado, etc. Seria necessário, portanto, fazer a “transição” para outro registro de regulação social, no caso o jurídico-legal.
Dessa forma, a construção de canais de diálogo com os moradores ocupava espaço importante nos discursos institucionais, especialmente nas falas de seu formulador principal, Ricardo Henriques. Em entrevista concedida à equipe de pesquisadores do Iser ( Siqueira et al., 2012SIQUEIRA, R.; SILVA, H. R. S.; MENDONÇA, T.; STROZEMBERG, P.; SENTO-SÉ, J. T.; LANDIM, L. e GUARIENTO, S. (2012). “Entrevistas”. In: RODRIGUES, A.; SIQUEIRA, R. e LISSOVISKY, M (orgs.). Unidade de Polícia Pacificadora: debates e reflexões. Comunicações do ISER, pp. 134-157. ), Henriques defendeu que a “ideia-força” da UPP Social seria o “diálogo com resultado”, e que uma das principais ferramentas de atuação seria a “escuta forte”, ou seja, ouvir, compreender e aprender com os atores que atuam no “território” (ibid., p. 148). A partir de um programa organizado em três frentes de atuação – gestão institucional, de território e de informações –, a equipe da UPP Social produziria análises e diagnósticos que norteariam a atuação de diferentes secretarias, órgãos públicos e também organizações privadas atuantes nas localidades com UPPs (ibid., p. 154). Mas também havia a pretensão de firmar compromissos com os moradores a respeito de novas “regras”, necessárias à transição para uma regulação da vida social baseada na cidadania e na legalidade, princípios apresentados como diretrizes nas formulações sobre o projeto da UPP Social. Fica evidente, portanto, a importância dada no projeto à interlocução entre agentes públicos e os moradores das favelas, pois seriam nesses espaços de diálogo que tais regras seriam acordadas e pactuadas.
Dando continuidade ao desenrolar do arranjo institucional complexo envolvido, em janeiro de 2011, o Programa da UPP Social é transferido do âmbito estadual (especificamente da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos) para o Instituto Pereira Passos (IPP), autarquia municipal. Durante essa transferência, seu principal formulador e gestor, Ricardo Henriques, é empossado como presidente do IPP. O argumento oficial para tal transferência é que “a maior parte dos serviços públicos ofertados nas favelas é de responsabilidade do município” ( Henriques e Ramos, 2011HENRIQUES, R. e RAMOS, S. (2011). UPPs Social: ações sociais para a consolidação da pacificação. Texto de discussão. Disponível em: www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto3008.pdf. Acesso em: mar 2018.
www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminar...
, p. 10). Tal mudança se deu no momento de reformas institucionais e de cargos resultante da eleição para governador do estado em 2010 (na qual Sérgio Cabral foi reeleito com grande ajuda do programa das UPPs) e preparação para as eleições municipais de 2012.
A transferência alterou, em termos, o desenho e a forma de atuação dos técnicos da UPP Social. Se, no nível estadual, a convivência e a interação com os policiais da UPP eram frequentes (o programa apresentava-se como uma complementação da “pacificação”), no nível municipal, estabeleceu-se um afastamento, o que, para muitos técnicos do programa, foi algo positivo, pois ser confundido com a UPP “militar” (como passaram a ser referir à UPP algumas lideranças locais) seria “prejudicial”, como nos foi dito em campo realizado no Morro dos Macacos. Outra mudança significativa foi o cancelamento dos Fóruns da UPP Social, que passaram a ser realizados somente no momento de instalação do programa na favela. No lugar dos fóruns, os agentes passaram a atuar em campo junto aos mediadores já existentes, mas sem a função de protagonistas.
O investimento feito pelos governos do estado e do município do Rio de Janeiro no programa da UPP Social ficava evidente quando se observa a composição dos Fóruns da UPP Social, marco na inauguração do programa em cada localidade. No fórum de Nova Brasília (primeira UPP instalada no Complexo do Alemão, 2012), por exemplo, a presença de representantes de secretarias e autarquias, como Cedae, Comlurb, Secretaria de Trabalho, etc., além dos agentes do Programa UPP Social, do comando das UPPs e da UPP local, confirmava a importância que aquele momento tinha também para o poder público. Eles estavam ali para ouvir as demandas dos moradores, apresentar seus programas e iniciativas e garantir que seus serviços chegariam, enfim, aos territórios antes “dominados” pelo tráfico de drogas. A organização da arena já indicava a mensagem do evento: agora o poder público “estaria presente”. À frente da plateia foi colocado apenas um banner do programa e um telão onde foi projetada uma apresentação explicando a iniciativa. Não havia mesa, e os representantes do poder público sentaram-se à direita da plateia, inclusive os policiais militares. À esquerda alguns representantes de associações de moradores e parte da audiência. Quem ia falar ficava ao centro, mas se retirava ao final de sua fala.
A abertura do Fórum ficou por conta de Henriques, que privilegiou, em seu discurso, destacar o fato de que aquele seria o início do pagamento da “dívida histórica” do poder público com as favelas. Houve a preocupação de evitar promessas exageradas: “O Alemão não vai virar o Leblon em dois anos”. Ele também ressaltou que ali não era espaço para “lamúrias”, e sim para pactos. A fala seguinte foi do comandante das UPPs, coronel Seabra (único policial militar presente a fazer uso da palavra), cujo discurso iniciou pela defesa da participação e da democracia e continuou assegurando que aquele momento representava a “oportunidade para atender às demandas reprimidas”, pois a “paz” seria o começo desse processo. Após a fala de membro da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, os representantes das associações de moradores locais foram convidados a falar. O tom utilizado por eles era de crítica à ausência de serviços públicos básicos, como saneamento (muitas vezes a empresa de água e esgoto do Rio de Janeiro – a Cedae – foi citada), e reclamações sobre como “a UPP Social” (no sentido do “lado social da UPP”) não estaria funcionando.
Quando a palavra foi aberta ao público, diversos moradores tomaram o microfone para apresentar suas demandas específicas: histórias de casas prestes a desabar, interditadas, habitadas por pessoas doentes terminais, com dificuldade de locomoção. Nesse contexto, as falas assumiram um tom tão emocional que, ao final de uma delas, uma moradora teve uma crise de choro e foi amparada por vizinhos. Alguns moradores afirmaram que eram “tratados como cachorros” pelos representantes dos órgãos públicos. Como disse Henriques, o Fórum tornava-se, assim, espaço para uma “catarse coletiva”, apresentando “demandas dispersas e pouco sistemáticas” ( Siqueira et al., 2012SIQUEIRA, R.; SILVA, H. R. S.; MENDONÇA, T.; STROZEMBERG, P.; SENTO-SÉ, J. T.; LANDIM, L. e GUARIENTO, S. (2012). “Entrevistas”. In: RODRIGUES, A.; SIQUEIRA, R. e LISSOVISKY, M (orgs.). Unidade de Polícia Pacificadora: debates e reflexões. Comunicações do ISER, pp. 134-157. , p. 153). Quando a palavra retornou ao poder público, através de representante da Secretaria Municipal de Habitação, as diversas reivindicações foram tratadas como “casos individuais”, que deveriam ser apresentados oficialmente ao órgão para serem tratados “caso a caso”.
Segundo sua proposta inicial, o objetivo da UPP Social é produzir diagnósticos e análises que orientem tanto a ação do poder público na formulação e execução de políticas quanto da sociedade civil e do setor privado interessados em atuar nessas localidades (ibid., p. 150). Contudo, seus formuladores reconhecem desde o início a dificuldade em engajar setores privados e públicos nessa nova agenda. Cabe destacar que essa dificuldade é observada especialmente entre os representantes do poder público que, apesar de estarem ali numa forte demonstração de “presença” estatal, só conseguem responder de forma “tradicional”.
Em julho de 2012, Ricardo Henriques deixou a direção do Instituto Pereira Passos (e também da UPP Social) e foi substituído pela economista Eduarda La Rocque, que naquele momento ocupava a Secretaria Municipal de Fazenda. Tal mudança foi lida por alguns técnicos do Programa como um enfraquecimento deste, visto que Henriques contava com enorme apoio social – por isso muitos pediram demissão nesse momento. Ao mesmo tempo, a mudança representou uma guinada no foco do programa, que foi direcionado para o tema do empreendedorismo. Nesse período, a atuação nos territórios passou a girar em torno de iniciativas como o “fomento e consultoria de negócios” e o fortalecimento da “cultura do empreendedorismo”.
Exemplo desse redirecionamento foi a realização de um Seminário chamado Rio Social Investors Day , que em 31 de outubro de 2013 reuniu representantes do mercado e de ONGs com atuação em favelas para discutir contribuições ao “desenvolvimento econômico da cidade e, principalmente, da população das favelas cariocas” ( Monteiro, 2013MONTEIRO, M. (2013). Entrevista com Eduarda La Rocque. Relações com investidores , n. 78. Disponível em: < https://www.revistari.com.br/178/756>. Acesso em: mar 2018.
https://www.revistari.com.br/178/756>...
). Vale ressaltar que esse Seminário é a versão “social” do Rio Investors Day , também organizando por La Rocque em 2012, quando à frente da Secretaria de Tesouro. Ele propiciava o encontro de representantes de empresas como CSN, Gerdau, Vale, Telecom, Queiroz Galvão, Gol, Amil, Bradesco, Grupo EBX, etc. com representantes do poder público que apresentavam os principais projetos em curso na cidade (no contexto dos megaeventos), visando a atrair novos investimentos. Outras feiras de negócios com viés social foram realizadas na cidade no período, sempre contando com o IPP e a UPP Social como parceiros e tendo as favelas como um mercado “que vai ganhando protagonismo e inspirando mais e mais o espírito da inovação”. 5
5
() Disponível em: < https://startupi.com.br/evento/forum-rio-inovacao-para-moradia-e-desenvolvimento-comunitario-sustentavel/> . Acesso em: mar 2018.
Em artigo de jornal assinado por La Rocque, o papel do IPP foi definido como o de fornecer números e dados para organizar as “comunidades pacificadas da melhor forma possível”, já a UPP Social seria “a estratégia adotada pela prefeitura para promover a integração urbana, social e econômica das áreas da cidade beneficiadas” ( La Rocque, s/dLA ROCQUE, E. (s/d.). O saldo social das UPPs. Tendências e Debates . Governo do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329/4e44446a-d1e9-4bb3-9fc4-6854e3d873e3>. Acesso em: mar 2018.
http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329...
). Em outra entrevista, contudo, La Rocque define a UPP Social como uma “plataforma” que reunia projetos de desenvolvimento local, articulando iniciativas e investimentos nesses locais. A presidente do IPP ainda explicou que era procurada por diversas pessoas e empresas interessadas em “ajudar no processo de inserção dessas comunidades no contexto da cidade”, mas o próprio texto da reportagem explica que ao lado dos filantropos existiam empresas que, para terem acesso a empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), precisavam fazer investimentos socioambientais como contrapartida ( Batista, 2013BATISTA, R. (2013). UPPs terão fundo de participações. Jornal Valor Econômico , 1/11/. Disponível em: <https://www.valor.com.br/financas/3324186/upps-terao-fundo-de-participacoes>. Acesso em: mar 2018.
https://www.valor.com.br/financas/332418...
).
Outro exemplo de atuação do Programa UPP Social, nessa fase, foi o projeto de um plano de “Fundo de Investimento em Participações das UPPs – o FIP UPP”. Ele tinha o objetivo de “organizar uma carteira de investimentos sociais em comunidades pacificadas e não pacificadas do Rio e oferecer as cotas do fundo a investidores brasileiros e estrangeiros” (Jornal Valor Econômico , 1/11/2013).
O Programa ainda buscou capacitar moradores das favelas com UPP para se tornarem empreendedores, através da parceira estabelecida entre o IPP e a Fundação Getúlio Vargas para oferecer fomento e consultoria de negócios para moradores (chamados moradores-empreendedores). A atuação da UPP Social junto aos moradores focalizou a atuação destes como atores envolvidos em parcerias com o poder público e empresas – é nesse sentido que La Rocque apresenta o conceito de PPPP (Parceria Público Privada Participativa), sendo a dimensão da “participação” compreendida como a inclusão de “moradores-empreendedores” nos potenciais negócios realizados nas favelas.
Assim, sob a direção de Eduarda La Rocque, o programa teve como proposta articular parcerias público-privada-terceiro setor. A proposta de La Rocque era formalizar uma Rede Comunidade Integrada que funcionaria a partir da formação de comitês gestores locais e portais na internet. Eles seriam as ferramentas para a
promoção do empreendedorismo dos moradores das favelas e para a profissionalização das organizações presentes nelas. Bem capacitadas, essas organizações estariam mais preparadas para se mobilizar, captar recursos, prestar contas e atrair mais e mais olhares para o trabalho que desenvolvem iniciando um círculo virtuoso de investimento. ( La Rocque, 2013LA ROCQUE, E. (2013). “Rumo ao fim da cidade partida”. In: REIS VELOSO, J. P. (coord.). “Teatro mágico da cultura” e favela como oportunidade. Rio de Janeiro, Inae. , p. 179)
A sua fala é reveladora de uma forma de gerência pública que se preocupa com a formalização das instituições locais como agências que desenvolvem projetos sociais em detrimento de um poder público eficaz em prover serviços urbanos adequados. A lógica neoliberal da centralidade do mercado ganha força nesse processo e tem em diferentes instâncias públicas sua vocalização. O fim do Programa UPP Social, substituído em agosto de 2014 pelo programa Rio Mais Social (e posteriormente pelo Rio + Social), 6 6 () Segundo o site do programa, ele ainda atua em “30 áreas pacificadas” e em “208 comunidades”. Mas não há nenhum indício desse trabalho, seja no próprio site seja no trabalho de campo atualmente realizado. Para maiores informações ver: < https://rjbr.org/p/prefeitura/2016/promessas/social-upp_social.html> . representa a crise que se abateu sobre o projeto da “pacificação”, mas não o fim da proposta do empreendedorismo como registro no qual o desenvolvimento e integração das favelas e seus moradores devem ocorrer.
Captação de recursos, prestação de contas e investimentos são as palavras-chave no discurso da gestora do programa que tem, na “pacificação”, sua justificativa de existência. Nesse processo, a militarização é o caminho mais viável para que os “futuros investidores” possam ter seu capital assegurado. No registro das práticas gestionárias que se pautam por uma lógica normativa e por concepções securitárias, uma fenda abriu-se com a entrada da polícia pacificadora e por ela saíram novos atores sociais que estão remexendo os circuitos políticos estabelecidos desde muito tempo.
No campo da política, podemos acionar o “controle negociado” proposto Machado da Silva (2002)MACHADO DA SILVA, L. A. (2002). “A continuidade do ‘problema favela’”. In: OLIVEIRA, L. L. (org.). Cidade: história e desafios . Rio de Janeiro, FGV. , em que os agentes comunitários exerciam um papel fundamental na mediação das demandas dos moradores junto ao poder público, na mobilização e facilitação da execução dos projetos sociais, com forte apoio das associações de moradores. Com as ações em curso nas favelas e periferias da cidade, ocorre uma mudança no enquadramento do problema. Diferente do momento analisado por Machado da Silva, o que vemos hoje são novos atores, como o mercado e a Polícia Militar, que vêm configurando esse campo analítico no qual novos agenciamentos e articulações entre poder público e moradores de favelas se fazem presentes. Nesse formato, temos novos repertórios para esse diálogo que, por sua vez, desdobram-se em novas formas de territorialização e de gestão da pobreza.
Mas não é somente enquanto empreendedores que os moradores das favelas ocupadas por UPPs estão concernidos no processo de desenvolvimento de negócios nessas localidades. Pesquisas realizadas logo após a entrada da UPP apontam a presença maciça de empresas interessadas em oferecer aos moradores os serviços antes só disponíveis no asfalto ( Cunha e Mello, 2011CUNHA, N. V. e MELLO, M. A. S. (2011). Novos conflitos na cidade: a UPP e o processo de urbanização na favela. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social , v. 4, n. 3, pp. 371-401. ; Barbosa, 2012BARBOSA, A. R. (2012). Considerações Introdutórias sobre territorialidade e mercado na conformação das Unidades de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Segurança Pública . São Paulo, v. 6, n. 2, pp. 256-265. ; Ost e Fleury, 2013OST, S. e FLEURY, S. (2013). O mercado sobe o morro: a cidadania desce? Efeitos socioeconômicos da pacificação no Santa Marta. Dados , v. 56, n. 3, pp. 635-671. ). A contrapartida da oferta desses serviços é o pagamento das contas relativas aos serviços prestados, ainda que muitos moradores reclamem que as cobranças são abusivas ( Cunha e Mello, 2011CUNHA, N. V. e MELLO, M. A. S. (2011). Novos conflitos na cidade: a UPP e o processo de urbanização na favela. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social , v. 4, n. 3, pp. 371-401. ; Loretti, 2013LORETTI, P. (2013). “Pau no gato”: da regularização da energia elétrica aos mecanismos de controle e repressão, no contexto de ‘pacificação’ da favela Santa Marta. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SOCIOLOGIA. Salvador. ). O pagamento das contas, contudo, é apresentado pelos gestores das empresas em questão (públicas ou privadas) como o primeiro passo para o exercício da cidadania. Segundo um gestor da Light entrevistado pelo jornal Extra, os moradores de favela teriam uma “cultura enraizada de não pagar contas”, mas, ao começar a pagá-las, estariam se “sentindo aptos a reivindicar direitos” (“Compromisso com a legalidade”, Extra , de 14/2/2010). Para o poder público, a inserção dos moradores de favelas como “clientes formais” (entendidos como pagadores de contas) das empresas prestadoras de serviços também é caminho para a garantia de direitos, como declarou ao jornal O Globo o coordenador de Polícia Pacificadora à época, coronel Robson Rodrigues da Silva: “Antes, os moradores de comunidades não eram vistos como cidadãos. Hoje, eles deixaram de ser problema para virar solução. São consumidores e não atuam mais na informalidade” (“Duas empresas prestes a doar 1,3 milhão”, O Globo , 30/1/2011). Assim, as pesquisas realizadas apontam uma convergência entre o aumento do poder aquisitivo dos moradores de favela, e consequentemente do consumo dessas famílias, e o aumento do “interesse mercadológico em relação a esses territórios” ( Ost e Fleury, 2013OST, S. e FLEURY, S. (2013). O mercado sobe o morro: a cidadania desce? Efeitos socioeconômicos da pacificação no Santa Marta. Dados , v. 56, n. 3, pp. 635-671. , p. 637); também demonstram como o projeto de “pacificação” possibilita a abertura dos territórios de favelas para ações que “conjugam de forma indelével controles estatais e corporativos” ( Barbosa, 2012BARBOSA, A. R. (2012). Considerações Introdutórias sobre territorialidade e mercado na conformação das Unidades de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Segurança Pública . São Paulo, v. 6, n. 2, pp. 256-265. , p. 262).
Nesse sentido, os interesses expressos superam o escopo do Projeto UPP Social e prolongam-se para entidades do setor privado. Especialmente as Organizações NãoGovernamentais desempenham papel importante nesse cenário, modificando, inclusive, a forma como os moradores de favelas fazem representar seus interesses e reivindicações no espaço público. É essa mudança na forma de fazer “política na favela” que analisamos na seção seguinte.
Organizações locais e agenciamentos a partir do empreendedorismo nas favelas cariocas
A política de editais, de premiações e de fomento para o desenvolvimento de ações socioculturais nas periferias dos grandes centros, promovida tanto pelo poder público quanto por organizações da sociedade civil, tem ganhado destaque na cena urbana. No Rio de Janeiro, diferentes programas de incentivo à produção cultural direcionados a jovens, entre 15 e 29 anos, moradores de favelas, podem ser considerados como exempos de um novo modelo de projetos sociais. Ao invés da execução direta dos projetos nas localidades-alvo, identificadas como habitadas por segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade ( Machado da Silva e Leite, 2008MACHADO DA SILVA, L. A. e LEITE, M. S. P. (2008). “Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?”. In: MACHADO DA SILVA, L. A. (org.). Vida sob cerco: violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Nova Fronteira. ), essa nova modalidade de intervenção, também executada por ONGs com financiamento público, repassa os recursos financeiros aos indivíduos ou coletivos culturais para desenvolverem seus próprios projetos, mobilizados, em grande medida, pela ideia do empreendedorismo. Nesse sentido, eles passam a operar não mais no registro da promoção da cidadania e sim na chave da inserção no mercado de consumo e de serviços.
Portanto, sustentamos que há uma inflexão no “mercado de projetos sociais” ( Rocha, 2013ROCHA, L. de M. (2013). Uma favela “diferente das outras”?: Rotina, silenciamento e ação coletiva na favela do Pereirão, Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Quartet, Faperj. ) nas favelas, que tem na política das UPPs um elemento determinante. No processo de “pacificação”, o mercado ganha um lugar privilegiado, ao mesmo tempo que representa um agenciamento central apoiado também pelo estado e por ONGs no sentido de capturar os moradores pela ideia do “empreendedorismo social”.
Um dos projetos acompanhados como parte desta pesquisa, realizado por uma ONG carioca, consistia em uma “formação”, direcionada a jovens entre 15 e 29 anos, que tinha por finalidade o desenvolvimento de competências para a construção de um projeto de intervenção local. Até aqui, nenhuma novidade com relação ao modelo de projetos sociais ou, como Rocha (2013)ROCHA, L. de M. (2013). Uma favela “diferente das outras”?: Rotina, silenciamento e ação coletiva na favela do Pereirão, Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Quartet, Faperj. analisou, um “repertório de projetos sociais”, que buscam “modelar” os jovens em situação de vulnerabilidade. A novidade, entretanto, estava na possibilidade de alguns dos jovens selecionados receberem o prêmio de dez mil reais para colocar em prática a sua proposta de intervenção.
Depois dessa ONG, outras instituições também passaram a apresentar projetos com a perspectiva de que os próprios moradores desenvolvessem suas iniciativas, tanto coletivas como individuais, tendo, na maioria dos casos, o empreendedorismo como mote principal. A partir de então, observamos que outras organizações, e também atores individuais, começaram a participar de reuniões realizadas nas favelas pacificadas (e organizadas tanto pelo comandante da UPP local quanto por órgãos civis estatais e/ou entidades locais) que tinham como objetivo, não apenas a discussão sobre os problemas da localidade, 7 7 () Uma interessante pesquisa sobre as reuniões organizadas pelos comandantes de UPPs encontra-se em Davies (2014) . mas também o estímulo à participação em diferentes editais. 8 8 () Sobre a política dos editais, ver Aguiar e Passos (2013) . Estava claro que se constituía ali uma rede de relações que envolvia diferentes agenciamentos, produzidos de dentro para fora, mas também de fora para dentro das favelas, a partir de novos paradigmas, a “inclusão produtiva” ( Leite, 2015LEITE, M. S. P. (2015). “De território de pobreza a território de negócios: dispositivos de gestão das favelas cariocas em contexto de pacificação”. In: BIRMAN, P. et al. Dispositivos urbanos e a trama dos viventes: ordens e resistências . Rio de Janeiro, Editora FGV. ), os “novos negócios sociais” e o “empreendedorismo social” ( Carvalho, 2014bCARVALHO, M. B. (2014b). “A oportunidade da favela”: empreendedorismo, militarização e turismo na gestão social das favelas cariocas. In: 29ª REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. Natal. ).
O incentivo ao empreendedorismo como parte da atuação estatal nos territórios “pacificados” expressava a imbricação entre essa lógica mercadológica e uma compreensão individualista da representação dos interesses coletivos dos moradores de favelas. Dessa forma, diante das reivindicações desses moradores, a resposta estatal – capitaneada pela UPP Social, mas não apenas por ela, como pretendemos demonstrar – foi a oferta de “parcerias” com empresas dispostas a investir na localidade visando à solução de problemas coletivos. Segundo um gestor do programa Territórios da Paz, entrevistado em junho de 2014, as soluções para os problemas das favelas só poderiam ser encontradas pelos próprios favelados, na medida em que são eles quem melhor conhece essas questões; logo, seria preciso investir nas ideias “locais”, propostas por “favelados criativos”. Esse discurso coloca o papel do poder público num plano secundário, sendo sua responsabilidade apenas a garantia do investimento.
A ONG que acompanhamos durante esta pesquisa contou com financiamento da Petrobras para desenvolver suas atividades em seis favelas com UPP. Essa organização possui financiamento da prefeitura do Rio de Janeiro e, além das favelas com UPPs, atua também no Complexo da Maré (inclusive durante o período de ocupação dessa localidade pelo exército) e nos bairros de Pavuna e Santa Cruz. De acordo com as informações em sua página na internet, seu objetivo é provocar os jovens de favelas a refletir sobre seus territórios de moradia e desenvolver um projeto de intervenção local.
A metodologia proporciona ao jovem de periferia conexões e ferramentas para que possa atuar como agente transformador da cidade. Durante o processo, o participante mapeia territórios, busca parceiros e organiza as ferramentas disponíveis para que possa concretizar sua ideia pensando arte, cultura digital e a cidade no contexto do seu território e seu projeto de vida. Através [Nome da ONG] já foram desenvolvidos e coordenados mais de 60 projetos de jovens.
Ao final de um período de formação, que dura em torno de quatro meses, os jovens apresentam os seus projetos a representantes de diferentes instituições, como Fundação Itaú Social, Instituto C&A, Sesc – exemplos extraídos da página virtual –, e os melhores projetos recebem um aporte financeiro de dez mil reais. Aqueles que não forem contemplados passam ainda um período no projeto, denominado “encubação”, para aperfeiçoar sua proposta e tentar novamente apresentar para a banca em um próximo ciclo.
Com uma metodologia bem próxima a esta, outro programa da Secretaria de Estado de Cultura (em parceria com outras secretarias e instituições da sociedade civil) é formado por um conjunto de projetos que oferece a jovens agentes culturais formação artística e especialização em gestão cultural, além de estabelecer canais de diálogo entre eles, possíveis parceiros e patrocinadores potenciais. A sua página na internet apresenta três vertentes principais do programa: 1) fomento, 2) economia criativa e 3) formação artística. Na vertente economia criativa, inserem-se projetos que atuam no desenvolvimento e financiamento de ações no campo da cultura nas seguintes localidades: Cidade de Deus, Rocinha, Manguinhos, Grande Tijuca, Região Portuária, Complexo do Alemão e Vila Kennedy. Em sua feira, realizada em janeiro deste ano, foram contemplados cinquenta projetos, cada um com o valor de doze mil reais, além da promessa para consultoria para desenvolver as ações propostas.
Em que pesem as diferenças metodológicas, podemos identificar os dois projetos a partir da perspectiva do incentivo ao desenvolvimento de iniciativas culturais, voltadas em sua maioria para a realização individual e, no limite, do investimento em seu próprio negócio. O mote encontrado nos textos dos processos seletivos e nas apresentações dos programas por seus gestores é a possibilidade de empreender, de ser criativo e de reinventar o próprio cotidiano.
No “mercado dos projetos sociais” como Rocha (2013)ROCHA, L. de M. (2013). Uma favela “diferente das outras”?: Rotina, silenciamento e ação coletiva na favela do Pereirão, Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Quartet, Faperj. apontou, as Organizações Não Governamentais, em especial a partir dos anos 2000, exerceram uma centralidade na gestão dos projetos sociais. Na maioria dos casos, as ONGs vinham “de fora” das favelas, com financiamento já determinado, para desenvolver atividades que em sua maioria eram direcionadas aos “jovens em situação de risco social”. A “gramática da violência” mobilizada nesses casos transferia para os jovens favelados estigmas ora relacionados a carências, pela ausência de serviços básicos, de educação, lazer, etc., ora de potencialmente criminosos, pela proximidade com as redes de comércio de drogas no varejo, correntemente denominado traficantes. Em ambos os casos, os projetos almejavam a contenção do risco de envolvimento desses segmentos das camadas populares com a criminalidade, a partir, sobretudo, da oferta de uma ocupação para “jovens ociosos”.
Chamamos a atenção, nesse novo cenário, para uma outra dinâmica que, embora ainda seja mobilizada a partir da “gramática da violência” e por meio da intervenção de “projetos sociais”, aciona outro repertório discursivo, tendo como norte a possibilidade do desenvolvimento da criatividade dos jovens a partir do financiamento de suas próprias ideias e de sua transformação em “empreendedores sociais”. O discurso mobilizado por esses novos mediadores se faz a partir do empreendimento individual, da capacidade de cada um pensar sobre seu espaço de moradia e desenvolver ações criativas. Ainda que de forma variada, os editais direcionam-se mais aos territórios, ou seja, ao desenvolvimento de atividades no território. Dessa perspectiva, é preciso compreender então as redes sociais que são mobilizadas, desde a divulgação, passando pela inscrição do projeto até a sua concorrência nos editais; os circuitos pelos quais passam os produtores culturais e militantes de favelas e periferias; e os agenciamentos que são feitos para a entrada nesse novo “mercado dos projetos sociais” ( Carvalho, 2014bCARVALHO, M. B. (2014b). “A oportunidade da favela”: empreendedorismo, militarização e turismo na gestão social das favelas cariocas. In: 29ª REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. Natal. ).
Considerações finais
James Ferguson, no texto “The Anti-Politics Machine” ( 2006FERGUSON, J. (2006). “The Anti-Politics Machine”. In: Sharma, A. e Gupta, A. (eds.). The Anthropology of the State: A Reader. Malden/MA, Blackwell Publishing. ) nos conta a história do Projeto Thaba-Tseka, realizado no Lesoto por agências estrangeiras para desenvolver o interior agrário do País. A abordagem de Ferguson, ao falar sobre um projeto que “deu errado”, foi destacar os “efeitos da ‘falha’”, ou seja, ao invés de refletir sobre as causas da falha ele buscou demonstrar que efeitos em si mesmo o projeto tinha alcançado – no caso em tela, a disseminação do aparelho administrativo e militar do estado sobre áreas ainda não “controladas”. Partimos da sugestão do autor para pensar o caso das UPPs, e particularmente da UPP Social, para refletir sobre que efeitos que o projeto teve e o que modificou no cenário das favelas cariocas e da cidade do Rio de Janeiro. Nossa aposta é que, pelo menos no que tange à disseminação da ideologia do empreendedorismo entre os moradores de favela, o projeto cumpriu com o objetivo de “incluir” os favelados no modelo de sociabilidade que tem no mercado sua referência.
Segundo Leite (2014)LEITE, M. S. P. (2014). Entre a guerra e a paz: Unidades de Polícia Pacificadora e gestão dos territórios de favela no Rio de Janeiro. DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social , v. 7, n. 4. pode-se, portanto, compreender o projeto da “pacificação” das favelas, e de seus moradores, a partir de dois eixos: por um lado, o controle social coercitivo dessa população através da militarização do território e, de outro, as “práticas de normalização e os agenciamentos (do Estado, do mercado e de Organizações Não Governamentais) na direção da inclusão produtiva de parte de seus moradores” (p. 392; grifos da autora). Cabe destacar aqui a indicação de que a inclusão através do mercado é alternativa apresentada apenas a uma parte da população favelada, estando a outra parte ainda submetida à repressão e, no limite, ao extermínio. Mas não apenas. Para Leite, a exposição das favelas cariocas a tal lógica do mercado intenta também proporcionar que este “faça a sua parte” na remoção daqueles que não possuem as capacidades para se tornarem incluídos, através, por exemplo, das remoções forçadas ou da “remoção branca” – por meio da elevação dos custos de moradia nesses locais (ibid, p. 395).
Buscamos neste artigo, portanto, demonstrar como a inserção dos moradores de favelas dentro da lógica de mercado, preconizada desde o início do projeto das UPPs como condição para que essa população pudesse “resgatar a sua cidadania”, foi sendo construída através da disseminação de valores como o empreendedorismo. O empreendedorismo tornou-se, em tempo relativamente curto, a principal estratégia de integração social das UPPs, substituindo a formulação original que apresentava a “pacificação” como a promessa de integração “real” das favelas à cidade formal. Ao mesmo tempo, também foi se tornando o principal modelo de atuação de organizações locais e supralocais do designado terceiro setor nessas localidades, alterando as formas tradicionais de atuação de lideranças locais – orientadas pelo registro da reivindicação de interesses coletivos apresentada ao poder público.
Assim, como em Thaba-Tseka, um projeto que “deu errado” tem, ainda assim, efeitos permanentes a serem considerados. A transformação do favelado em um novo homem, agora incluído no mercado formal, permanece como projeto civilizador para esses territórios – atualizando o modelo centenário de tutela dessa população ( Oliveira, 2014OLIVEIRA, J. P. de (2014). Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios. Mana, v.20, n. 1, pp. 125-161. ). Cabe, neste momento, acompanhar se a intervenção federal, que desloca o sentido da relação favela-Estado do registro da “paz” novamente para o registro da “guerra”, irá alterar os parâmetros dessa sociabilidade ou não. Sua decretação em um contexto de crise econômica, institucional e política do estado do Rio de Janeiro e do País parece indicar que a imbricação entre territórios favelados, estado e interesses econômicos permanece.
Referências
- AGUIAR, K. e PASSOS, P. (2013). “Cultura e Periferias- uma política (im)possível?” In: DANTAS, A.; MELLO, M. S. e PASSOS, P. (orgs.). Política Cultural com as periferias: práticas e indagações de uma problemática contemporânea. Rio de Janeiro, IFRJ
- BARBOSA, A. R. (2012). Considerações Introdutórias sobre territorialidade e mercado na conformação das Unidades de Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Segurança Pública . São Paulo, v. 6, n. 2, pp. 256-265.
- BATISTA, R. (2013). UPPs terão fundo de participações. Jornal Valor Econômico , 1/11/. Disponível em: <https://www.valor.com.br/financas/3324186/upps-terao-fundo-de-participacoes> Acesso em: mar 2018.
» https://www.valor.com.br/financas/3324186/upps-terao-fundo-de-participacoes> - BOLTANSKI, L. (2013). Sociologia da crítica, instituições e o novo modo de dominação gestionária. Sociologia & Antropologia . Rio de Janeiro, v. 3, n. 6, pp. 441-463.
- BOLTANSKI, L. e THÉVENOT, L. (1991). De la justification: les économies des grandeurs . Paris, Gallimard.
- BURGOS, M. B. et al. (2011). O efeito UPP na percepção dos moradores das favelas. Desigualdade e Diversidade – Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio, n. 11, pp. 49-98.
- CANO, I; BORGES, D. e RIBEIRO, E. (2012). “Os donos do morro”: uma avaliação exploratória do impacto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro . São Paulo, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rio de Janeiro, LAV/UERJ.
- CARVALHO, M. B. (2014a). Os dilemas da “pacificação”: práticas de controle e disciplinarização na “gestão da paz” em uma favela no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado . Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
- CARVALHO, M. B. (2014b). “A oportunidade da favela”: empreendedorismo, militarização e turismo na gestão social das favelas cariocas. In: 29ª REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. Natal.
- COMPANS, R. (1999). O paradigma das global cities na estratégia de desenvolvimento local. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais , n. 1.
- CUNHA, N. V. e MELLO, M. A. S. (2011). Novos conflitos na cidade: a UPP e o processo de urbanização na favela. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social , v. 4, n. 3, pp. 371-401.
- DAS, V. e POOLE, D. (2004). Anthropology in the margins of the state . Nova Deli, Oxford University Press.
- DAVIES, F. A. (2014). Rituais de “pacificação”: uma análise das reuniões organizadas pelos comandos das UPPs. Revista Brasileira de Segurança Pública . São Paulo, v. 8, n. 1, pp. 24-46.
- FELTRAN, G. S. (2011). Fronteiras de tensão: política e violência nas periferias de São Paulo . São Paulo, Editora da Unesp, CEM e Cebrap.
- FERGUSON, J. (2006). “The Anti-Politics Machine”. In: Sharma, A. e Gupta, A. (eds.). The Anthropology of the State: A Reader. Malden/MA, Blackwell Publishing.
- HARVEY, D. (2005). A produção capitalista do espaço . São Paulo, Anablume.
- HENRIQUES, R. e RAMOS, S. (2011). UPPs Social: ações sociais para a consolidação da pacificação. Texto de discussão. Disponível em: www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto3008.pdf. Acesso em: mar 2018.
» www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto3008.pdf - LA ROCQUE, E. (s/d.). O saldo social das UPPs. Tendências e Debates . Governo do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329/4e44446a-d1e9-4bb3-9fc4-6854e3d873e3> Acesso em: mar 2018.
» http://www.rio.rj.gov.br/documents/91329/4e44446a-d1e9-4bb3-9fc4-6854e3d873e3> - LA ROCQUE, E. (2013). “Rumo ao fim da cidade partida”. In: REIS VELOSO, J. P. (coord.). “Teatro mágico da cultura” e favela como oportunidade. Rio de Janeiro, Inae.
- LEITE, M. S. P. (2000). Entre o individualismo e a solidariedade: dilemas da política e da cidadania no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais , v. 15, n. 44.
- LEITE, M. S. P. (2012a). Da “metáfora da guerra” ao projeto de “pacificação”: favelas e políticas de segurança pública no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Segurança Pública . São Paulo, v. 6, n. 2, pp. 374-389.
- LEITE, M. S. P. (2012b). Las “ciudades” de la ciudad de Rio de Janeiro: reestructuración urbana en el contexto de los “grandes eventos”. Proposta , ano 36, n. 125, pp. 20-23.
- LEITE, M. S. P. (2014). Entre a guerra e a paz: Unidades de Polícia Pacificadora e gestão dos territórios de favela no Rio de Janeiro. DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social , v. 7, n. 4.
- LEITE, M. S. P. (2015). “De território de pobreza a território de negócios: dispositivos de gestão das favelas cariocas em contexto de pacificação”. In: BIRMAN, P. et al. Dispositivos urbanos e a trama dos viventes: ordens e resistências . Rio de Janeiro, Editora FGV.
- LORETTI, P. (2013). “Pau no gato”: da regularização da energia elétrica aos mecanismos de controle e repressão, no contexto de ‘pacificação’ da favela Santa Marta. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SOCIOLOGIA. Salvador.
- MACHADO DA SILVA, L. A. (2002). “A continuidade do ‘problema favela’”. In: OLIVEIRA, L. L. (org.). Cidade: história e desafios . Rio de Janeiro, FGV.
- MACHADO DA SILVA, L. A. (2008). “Violência urbana, sociabilidade violenta e agenda pública”. In: MACHADO DA SILVA, L. A. (org.). Vida sob cerco: violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Nova Fronteira.
- MACHADO DA SILVA, L. A. (2012). “As UPPs, a linguagem da violência urbana e a sociabilidade no Rio de Janeiro”. In: SANTOS, A. P. et al. (orgs.). Rio de Janeiro: um território em mutação. Rio de Janeiro, Gramma Livraria e Editora.
- MACHADO DA SILVA, L. A. e LEITE, M. S. P. (2008). “Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?”. In: MACHADO DA SILVA, L. A. (org.). Vida sob cerco: violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Nova Fronteira.
- MONTEIRO, M. (2013). Entrevista com Eduarda La Rocque. Relações com investidores , n. 78. Disponível em: < https://www.revistari.com.br/178/756> Acesso em: mar 2018.
» https://www.revistari.com.br/178/756> - OLIVEIRA, J. P. de (2014). Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios. Mana, v.20, n. 1, pp. 125-161.
- OST, S. e FLEURY, S. (2013). O mercado sobe o morro: a cidadania desce? Efeitos socioeconômicos da pacificação no Santa Marta. Dados , v. 56, n. 3, pp. 635-671.
- RIBEIRO, L. C. de Q. e SANTOS JUNIOR, O. A. dos (2013). Governança empreendedorista e megaeventos esportivos: reflexões em torno da experiência brasileira. O Social em Questão. Rio de Janeiro, Ano XVI, n. 29, pp. 23-42.
- RIZEK, C. S. (2011). Práticas culturais e ações sociais: novas formas de gestão da pobreza. In: XIV ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR. Rio de Janeiro.
- ROCHA, L. de M. (2013). Uma favela “diferente das outras”?: Rotina, silenciamento e ação coletiva na favela do Pereirão, Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Quartet, Faperj.
- RODRIGUES, A. et al. (2012). Unidades de Polícia Pacificadora: debates e reflexões. Comunicações do ISER , n. 67, ano 31.
- SASSEN, S. (2001). The global city: New York, London, Tokyo . Princeton, N. J., Princeton University Press.
- SIQUEIRA, R.; SILVA, H. R. S.; MENDONÇA, T.; STROZEMBERG, P.; SENTO-SÉ, J. T.; LANDIM, L. e GUARIENTO, S. (2012). “Entrevistas”. In: RODRIGUES, A.; SIQUEIRA, R. e LISSOVISKY, M (orgs.). Unidade de Polícia Pacificadora: debates e reflexões. Comunicações do ISER, pp. 134-157.
- SOARES, L. E. (2000). Meu casaco de general: 500 dias no front da Segurança Pública do Rio de Janeiro . Rio de Janeiro, Companhia das Letras.
- TELLES, V. da S. (2006). Mutações do trabalho e a experiência urbana. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 18, n. 1, pp. 173-195.
- TELLES, V. da S. (2010). A cidade nas fronteiras do legal e ilegal . Belo Horizonte, Argvmentvm.
- UPP SOCIAL (2014). Panorama dos territórios. UPP Borel. Instituto Pereira Passos.
- VAINER, C. (2011). Cidade de exceção: reflexões a partir do Rio de Janeiro. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 14. Rio de Janeiro.
-
1
() Em contraposição ao modelo interpretativo que identifica as margens como espaços da desordem, em que o papel do Estado é a instauração e/ou manutenção da ordem, as autoras apresentam um conjunto de situações compreendido a partir de práticas políticas da vida cotidiana que modelam as práticas políticas de regulação e disciplina, constituintes do próprio Estado. Desse ponto de vista, as agências estatais redefinem seus modos de governar e legislar a todo o momento e a partir de cada situação específica. Portanto, são múltiplas as negociações e articulações acomodadas cotidianamente nas margens, aqui identificadas nas favelas cariocas, pelos diferentes programas públicos e justificadas pela forma como essas áreas foram sendo organizadas numa dialética entre informalidade e formalidade, ilegalidade e legalidade.
-
2
() Nos termos do autor, as práticas gestionárias configuram-se na atualidade como dispositivos de governança que permitem, aos responsáveis pela política, o ajustamento da crítica ao mesmo tempo que se mantêm inalteradas as assimetrias sociais.
-
3
() Além dos trabalhos de David Harvey, podemos citar também os trabalhos de Sassen (2001)SASSEN, S. (2001). The global city: New York, London, Tokyo . Princeton, N. J., Princeton University Press. ; Compans (1999)COMPANS, R. (1999). O paradigma das global cities na estratégia de desenvolvimento local. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais , n. 1. ; Ribeiro e Santos Junior (2013RIBEIRO, L. C. de Q. e SANTOS JUNIOR, O. A. dos (2013). Governança empreendedorista e megaeventos esportivos: reflexões em torno da experiência brasileira. O Social em Questão. Rio de Janeiro, Ano XVI, n. 29, pp. 23-42. ); e Vainer (2011)VAINER, C. (2011). Cidade de exceção: reflexões a partir do Rio de Janeiro. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 14. Rio de Janeiro. , dentre outros.
-
4
() Em agosto de 2014 o programa passou a se chamar Rio Mais Social e, posteriormente, Rio + Social, como explicado à frente.
-
5
() Disponível em: < https://startupi.com.br/evento/forum-rio-inovacao-para-moradia-e-desenvolvimento-comunitario-sustentavel/> . Acesso em: mar 2018.
-
6
() Segundo o site do programa, ele ainda atua em “30 áreas pacificadas” e em “208 comunidades”. Mas não há nenhum indício desse trabalho, seja no próprio site seja no trabalho de campo atualmente realizado. Para maiores informações ver: < https://rjbr.org/p/prefeitura/2016/promessas/social-upp_social.html> .
-
7
() Uma interessante pesquisa sobre as reuniões organizadas pelos comandantes de UPPs encontra-se em Davies (2014)DAVIES, F. A. (2014). Rituais de “pacificação”: uma análise das reuniões organizadas pelos comandos das UPPs. Revista Brasileira de Segurança Pública . São Paulo, v. 8, n. 1, pp. 24-46. .
-
8
() Sobre a política dos editais, ver Aguiar e Passos (2013)AGUIAR, K. e PASSOS, P. (2013). “Cultura e Periferias- uma política (im)possível?” In: DANTAS, A.; MELLO, M. S. e PASSOS, P. (orgs.). Política Cultural com as periferias: práticas e indagações de uma problemática contemporânea. Rio de Janeiro, IFRJ .
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Sep-Dec 2018
Histórico
-
Recebido
30 Maio 2018 -
Aceito
31 Ago 2018