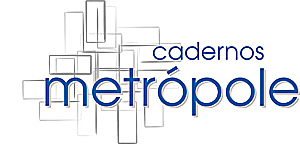Resumo
Ao centralizar a discussão na dignidade humana e nos espaços construídos, o presente artigo divide-se em duas partes. Na primeira, é feita uma análise filosófica das bases do método e das ferramentas digitais, procurando mostrar como as premissas metafísicas de René Descartes transformaram-se em ferramentas que submergem individualidades e homogeneízam a estética urbana. Na segunda parte, é feita uma análise de pesquisas neurocientíficas relacionadas à capacidade humana de decidir. Conclui-se que o ambiente construído é elemento ativo na formação desta. Diante desse quadro, a utilização de ferramentas digitais para a criação de espaços arquitetônicos, sem o conhecimento dos seus fundamentos filosóficos e de seus limites, pode estar contribuindo para uma sociedade massificada, manipulável e potencialmente diminuída em sua dignidade.
dignidade; arquitetura; softwares; neurociência; René Descartes
Abstract
By focusing the discussion on human dignity and built spaces, this article is divided into two parts. In the first one, we present a philosophical analysis of the bases of the method and of digital tools, seeking to show how René Descartes’ metaphysical premises have been transformed into tools that submerge individualities and homogenize urban aesthetics. In the second part, we analyze neuroscientific research related to the human capacity to decide. We conclude that the built environment is an active element in the formation of such capacity. In view of this, the use of digital tools to create architectural spaces, without knowledge of their philosophical foundations and limits, may be contributing to mass society, manipulable and potentially diminished in its dignity.
dignity; architecture; software; neuroscience; René Descartes
Introdução
O conceito atual de dignidade humana é resultado de uma combinação de entendimentos que se desenvolveram ao longo dos séculos. Desde a ideia romana que caracterizava dignidade como um conjunto especial de funções que algumas pessoas tinham, o conceito servindo para diferenciá-las; até seu atual formato no qual a dignidade humana, proclamada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é associada a uma igualdade universal (ONU, 1948ONU (1948). Declaração Universal dos Direitos Humanos (resolução 217 A III). Nova York.), o fato é que ainda hoje o conceito de dignidade humana é polissêmico (Frias e Lopes, 2015FRIAS, L.; LOPES, N. (2015). Considerações sobre o conceito de dignidade humana. Revista Direito GV 22. São Paulo, v. 11, n. 2, pp. 649-670.). Com sentidos e abrangências distintas, é importante compreender sobre qual entendimento podemos afirmar que a dignidade pode ser alterada por fatores externos, como por exemplo o ambiente construído.
Dentre as inúmeras discussões sobre o assunto, as que provêm do direito fornecem um entendimento mais direto sobre o assunto. Segundo Frias e Lopes (ibid., p. 660), é possível falar em dignidade assumindo que ela “possui três significados diferentes, mas inter-relacionados: a definição a partir de uma propriedade intrínseca, a definição a partir de condições externas (resumidas na ideia de mínimo existencial)1 1 () “O mínimo existencial consiste em um conjunto de prestações mínimas sem as quais se poderá afirmar que o indivíduo se encontra em situação de indignidade” (Frias e Lopes, 2015, p. 663). e a definição a partir de propriedades adquiridas (em especial, a autonomia pessoal)”. A propriedade intrínseca deriva do marco fundamental religioso, resultado da tradição judaico-cristã que confere ao ser humano uma condição especial na criação, uma vez que ele teria sido “feito à imagem e semelhança de Deus” e por isso sua dignidade lhe é inata (ibid.); a dignidade associada às condições externas está relacionada ao fundamento do marco histórico, especialmente após a segunda guerra mundial, e remete à indicação das tarefas do Estado na promoção da dignidade e da garantia de que existam certas condições mínimas no padrão de vida do ser humano, de maneira a impedir que ele a perca (torne-se indigno); e o terceiro significado de dignidade está relacionado ao marco filosófico e associa a dignidade humana à autonomia.
Por um lado, fica evidente que, quando se afirma que o ambiente construído afeta a dignidade humana, não está se falando sobre a dignidade intrínseca, uma vez que ela é o resultado de uma evolução da humanidade que reconhece uma igualdade humana sem distinções e sem possíveis hierarquizações raciais; essa dignidade é característica humana inalienável e inalterável. Por outro lado, sustentamos que, sobre as outras duas dimensões da dignidade humana apresentadas, é possível perceber como a atuação da espacialidade construída pode ser determinante tanto para a sua melhoria quanto para a sua degradação.
A discussão sobre dignidade associada às condições externas inicia-se com o raciocínio de que a dignidade humana pode ser entendida como o reflexo de condições mínimas necessárias à sua existência e que a ausência destas pode submeter certos indivíduos a “sentimentos e comportamentos abaixo do que eles são capazes, tratando-os como objetos ou como animais” (ibid., p. 661).
Luciano Coutinho traz a discussão para o âmbito da responsabilidade do ofício do arquiteto e urbanista:
Em uma primeira leitura, assumimos que os traços arquitetônicos são responsáveis por um tipo de formação da humanidade, não apenas em sentido psicológico, mas também em sentido fisiológico. Talvez meu leitor considere um exagero o último sentido, mas basta observarmos que uma localidade com esgoto aberto que obriga seus convivas2 2 () O termo conviva reflete a ideia de que os habitantes de um espaço não apenas o habitam passivamente, nem apenas o usufruem como seres impermeáveis; o termo reflete a consciência que precisa ser aprimorada de que, ao estar, habitar e conviver em espaços, somos todos agentes de sua transformação e somos por eles transformados. Cf. Coutinho (2021). a pisarem-no cotidianamente produzirá pés brutos, com fungos que os deformam. Esta leitura não é pejorativa aos locais mais necessitados, menos ainda a seus convivas, mas antes um grito de revolta contra a política da miséria, da qual os projetos e os planos arquitetônicos e urbanísticos das políticas públicas cumprem ainda, via de regra, o favorecimento dos mais economicamente privilegiados apenas. Em sentido psicológico, por exemplo, a simples ausência de uma ponte pode segregar de tal maneira uma parcela de uma comunidade que sua visão de si própria pode ser afetada e diminuída. Muitas vezes, o ponto alto de dignidade e de inclusão de uma parcela com esse tipo de característica de segregação encontra seu ponto alto no interior de um templo religioso. (Coutinho, 2021COUTINHO, L. (2021). Educação arquitetônica da humanidade. Brasília, Tanto Mar., pp. 48-49)
Nessa análise, feita com base na definição de dignidade associada às condições externas, Coutinho defende a importância de se entender o que precisa ser assumido conscientemente pelos planejadores de espacialidades urbanas para que se possa saber o que exatamente está sendo trabalhado quando se trata de cidades. Não é apenas organização e otimização de espaços, trata-se de alterar a dignidade dos seus convivas, buscando, por meio da arquitetura e do urbanismo, promover e ampliar sua percepção de dignidade. Ponto que, se espera, esteja demonstrado ao final deste artigo.
Para tanto é preciso antes refletir sobre a terceira definição – a dignidade associada à autonomia – e como ela se relaciona com o uso das ferramentas digitais no processo de projetação dos ateliês de arquitetura e urbanismo. A dignidade associada à autonomia tem suas bases no racionalismo iniciado por René Descartes e ampliada no século XIX pela filosofia alemã. Suas premissas sustentam que o ser humano possui dignidade porque é capaz de dar fins a si mesmo, em vez de se submeter a seus instintos. Por ser capaz de determinar seu modo de vida, ele torna-se autônomo; mas, para que essa capacidade não se reduza à realização de suas vontades, é preciso agir segundo a razão e de acordo com o dever.
São essas as bases que relacionam os conceitos de dignidade, razão e autonomia e, por conseguinte, a dignidade à capacidade de tomada de decisões. As criações artísticas na arquitetura são, entre outras coisas, as escolhas estéticas que são feitas no desenrolar dos projetos, e esse é exatamente o problema que está subjacente na análise da dignidade e da autonomia: entender que, ao associar autonomia ao desenvolvimento da racionalidade humana, a escolha passa a ser entendida como a capacidade de processar racionalmente inúmeras alternativas e de propor uma alternativa fruto das melhores recombinações dos dados. Nesse entendimento, os algoritmos e os processadores seriam os mais aptos a fazer essas escolhas, no entanto, no nosso entendimento, isso é um equívoco, ao menos quanto ao que se refere à criação artística. Os limites da razão nas escolhas relativas à criação artística de espaços arquitetônicos que abrigarão seres humanos que serão por eles impactados aparecem, primeiramente, quando se analisam as bases da filosofia racionalista e, posteriormente, quando se entendem as pesquisas neurocientíficas sobre emoções e tomadas de decisões.
Por isso, propomos aqui uma discussão sobre os limites da utilização dos softwares no processo criativo dos ateliês de arquitetura e urbanismo, tendo como base a problemática da diminuição da dignidade humana associada tanto às condições externas, submetendo os seres humanos a uma massificação de espaços e de pensamentos, quanto às propriedades adquiridas que, ao dialogarem diretamente com a autonomia, afetam a capacidade humana de tomada de decisões e de criação artística, contribuindo, não para a transformação da humanidade, mas, antes, para a manutenção das estruturas de manipulação e massificação.
Os limites do método: as bases da filosofia racionalista
A associação de autonomia à racionalidade humana foi bem desenvolvida pelos filósofos do século XIX, mas suas origens estão no século XVII com a filosofia moderna de René Descartes. Foi o francês que apresentou as bases para todo o pensamento metodológico, calcado na racionalidade da técnica matemática, que sustentam a premissa de que o que define o homem e determina sua capacidade de ser um fim em si mesmo é sua racionalidade, definida como sendo sua capacidade de suplantar todas as suas tendências instintivas, emocionais ou sentimentais por meio da força de argumentos lógicos, claros e distintos.
Não está sendo questionada, neste artigo, a importância da autonomia para a dignidade, visto que concordamos que aquela é uma dimensão fundamental desta. O que estamos tentando argumentar é que a incompreensão da abrangência e dos limites do que se entende por autonomia, cuja definição está ancorada na filosofia cartesiana, está induzindo o ser humano a aleijar-se, por acreditar que os softwares podem substituí-lo, uma vez que a eficácia tecnológica dessas ferramentas se tornou mais poderosa do que a do cérebro humano para o processamento de informações técnicas e de combinações de dados estritamente racionais. Com essa situação, dois fenômenos distintos estão acontecendo concomitantemente: a) as primeiras escolhas criativas para os projetos arquitetônicos e urbanísticos não estão mais sendo feitas pelos seres humanos, mas sim pelas sugestões dos softwares;3 3 () É depoimento comum, entre estudantes de arquitetura e profissionais da área, a escolha de deixarem de utilizar determinadas ideias (desenhos, entre outros) para projetos porque não dominam a maneira de colocá-las nos programas. Também é bastante comum o depoimento da aceitação para o início do projeto, o ponto de partida, de modelos disponíveis nos bancos de dados. Ao aceitarem abdicar de seus desenhos e aderirem com mais facilidade às “sugestões” disponíveis dos bancos de dados dos softwares, eles se submetem às escolhas preestabelecidas e padronizantes. Um exemplo muito bom dessa tese é o do software midjourney.com, cujo tutorial voltado a arquitetos pode ser conferido no site: https://youtu.be/KxIrqNNw5y4. e b) com isso, a dignidade humana associada à autonomia está sendo paulatinamente eliminada.
Debater sobre os limites da utilização das ferramentas matemáticas, notadamente sobre os softwares que substituem as pranchetas, envolve não a demonização daqueles em detrimentos destas, mesmo porque ambos são igualmente instrumentais. O que se apresenta é a discussão sobre os limites da percepção humana, quando do processo de criação arquitetônica.
A robustez do arcabouço metodológico pragmático da matemática (e de suas ferramentas) e a necessidade de atender a demandas e requisitos também práticos dificultam o entendimento em torno dos componentes artísticos que podem habitar espaços e edifícios arquitetônicos. Esse apelo técnico necessário e intrínseco à arquitetura parece insistir em impedir que a arquitetura tenha uma compreensão mais reflexiva dos limites de sua tecnicização, o que tem permitido. cada vez mais. que as ferramentas tecnológicas camuflem, distorçam e sobrepujem a capacidade arquitetônica de participar da criação artística, em sentido mais estético e menos técnico.
Um exemplo – mas não único – desse tipo de utilização excessiva no processo criativo arquitetônico pode ser observado no uso da plataforma Midjourney (midjourney.com). Essa plataforma aberta e gratuita se propõe a “criar”, por meio de recombinações, diversos projetos artísticos, dentre eles os de arquitetura. Os comandos são palavras, em uma determinada sequência, que geram em poucos minutos um novo “projeto”. Cada desenho gerado pertence ao seu criador, e ele possui direito de uso da imagem – sem custos. Para fins ilustrativo, apresentamos a imagem que foi criada pela autora, usando o software, a partir dos seguintes comandos: church like building with vitrals on top of a moutain, christian, modern, 8k render, photo realistic, ethereal, architecture (Figura 1) e, após o pedido de reprocessamento, surge a segunda sugestão (Figura 2). Todo o processo não demorou mais do que 5 minutos.
Umas das dificuldades para se compreender a problemática desses limites “criativos”, tendo em vista que, aparentemente, o desenho criado pelos softwares parece inovador, está na confusão entre inovação e colagem sofisticada. Chamamos de colagem sofisticada a combinação rebuscada de ideias já apresentadas à humanidade que só podem ser “construídas” pelo software porque se baseiam no que já existe e está dado no mundo artístico. A criação, a inovação, é de outra natureza, porque, além de representar um salto criativo – a criação de algo que não está posto no mundo ainda – possui outro objetivo muito mais difícil de ser alcançado:
[A] verdadeira expressão artística é aquela que, positiva ou negativamente, toca tão profundamente o espírito humano que, depois de nos tornarmos dela seu criador, buscamos mudar a nós próprios, a nossa realidade e até mesmo, em um sentimento mais naife e infantil, a realidade do mundo que nos cerca [...]. (Coutinho, 2021COUTINHO, L. (2021). Educação arquitetônica da humanidade. Brasília, Tanto Mar., p. 42)
A incompreensão sobre o que é criação artística em arquitetura aparece paradoxalmente, no entendimento de como se deu a formação das escolas de arquitetura no período moderno, quando o ensino de arquitetura buscava se tornar mais acessível.
Desde as primeiras escolas criadas4 4 () Segundo Kruft, a Academia Real de Arquitetura, criada em 1671 na França, foi a primeira instituição a exercer a prática sistemática do ensino de arquitetura, e, assim, a precursora das faculdades de arquitetura (Kruft, 1994, p. 128). para abordar especificamente a arquitetura, a formação dos arquitetos estava ligada majoritariamente à formação profissional técnica, baseada na filosofia natural e racional de René Descartes. A formação dos arquitetos incluía conhecimento de conceitos prévios que deveriam ser absorvidos e arquivados em sua bagagem pessoal para uma criação baseada em algo que já existia ou existiu como modelos pretéritos. Partia-se do pressuposto de que a grandeza e a perfeição seriam baseadas nas artes que já tivessem sido consideradas obras-primas na antiguidade (arte grega e romana) e se elaborava, a partir desses dados e do aprimoramento filosófico calcado na racionalidade, um conceito bem-definido de processo criativo em arquitetura: “[a]penas a matemática pode garantir certeza, enquanto a geometria é a base da beleza” (Kruft, 1994KRUFT, H. W. (1994). A history of architectural theory: from Vitruvius to the present. Nova York, Princeton Architectural Press., p. 129). Aprimorada e valorizada a cada dia em função da sua proximidade com a perfeição técnica, a arquitetura passou, a cada geração, a ser praticada segundo preceitos instrumentais e tecnicistas.
Se, desde Vitrúvio (Vitruvius, 2007VITRUVIUS, P. (2007). Tratado de Arquitetura/ VItrúvio. São Paulo, Martins Fontes.), há a preocupação por técnica, método e replicabilidade, vêm dele também os primórdios da associação entre beleza artística e harmonia geométrica. Essa busca por uma verdade que pudesse ser aplicada às mais diversas áreas do conhecimento humano foi declaradamente absorvida pelas escolas de arquitetura desde a sua fundação. A Academie Royale d’Architecture, fundada por Colbert em 1671 (Kruft, 1994KRUFT, H. W. (1994). A history of architectural theory: from Vitruvius to the present. Nova York, Princeton Architectural Press.), baseava todas as suas discussões nos princípios derivados da filosofia e das ciências naturais “no espírito da filosofia racionalista de Descartes, o princípio básico de todas as discussões era a razão” (ibid., p. 129). Mesmo quando François Blondel leva a questão sobre o “bom gosto em arquitetura” para ser discutida pela Academia, a conclusão provisória foi a de que “bom gosto era qualquer coisa que agradasse pessoas inteligentes” (ibid., p. 130). Ou seja, a questão estética estava submetida à autoridade de uma inteligência associada com o racionalismo filosófico.
Avançando no tempo, vemos J. L. Durand (Durand, 1805) publicar, em 1805, um compêndio de lições sobre arquitetura baseado predominantemente na racionalidade e funcionalidade da obra edificada.5 5 () Segundo Kruft, as diversas edições e traduções de Précis de leçons d’architecture (Durand, 1805) fizeram dele o mais significativo tratado de arquitetura da primeira metade do século XIX (Kruft, 1994, p. 273). A arte é definida, por ele, como uma sucessão aprimorada de aplicações técnicas.
A Arquitetura é ao mesmo tempo uma ciência e uma arte; como ciência ela exige conhecimentos, como arte ela exige talentos. O talento não é outra coisa senão a aplicação correta e fácil dos conhecimentos e essa correção e essa facilidade só podem ser adquiridas pelo exercício contínuo, por múltiplas aplicações. Pode-se, nas ciências, conhecer perfeitamente uma coisa depois que se ocupar uma única vez, mas nas artes só se pode saber bem fazer depois de ter feito um número mais ou menos considerável de vezes. (Ibid., p. 1)
Durand era professor na escola Politécnica de Paris e, como tal, tinha a preocupação maior na formação de novos arquitetos. Ele procurou ampliar a discussão sobre o lado estético da arquitetura, mas, ainda assim, o associou à utilidade: “A arquitetura não pode ter por objetivo o agradar, mas sim a utilidade” (ibid., p. 5). A utilidade é uma questão que recai também na racionalidade da observação da economicidade e da disposição.
A disposição é em todos os casos a única coisa da qual deve se ocupar o arquiteto, pois que essa disposição é tão conveniente e tão econômica quanto ela pode ser, isso levará ao nascimento de uma outra espécie de decoração arquitetônica verdadeiramente feita para nos agradar, pois que ela apresentará a imagem fiel de nossas necessidades satisfeitas, satisfação à qual a Natureza uniu os prazeres mais verdadeiros. (Ibid., p. 7)
As discussões sobre a estética da arquitetura passaram a orbitar as bases metafísicas e filosóficas da racionalidade de Descartes (Kruft, 1994KRUFT, H. W. (1994). A history of architectural theory: from Vitruvius to the present. Nova York, Princeton Architectural Press., pp. 158-159), e, mesmo em meados do século XX, a percepção sobre arquitetura ainda refletia essa fundamentação.
Um dos maiores arquitetos do século XX, Le Corbusier (1887-1965), reflete a criação pelos elementos racionais. Nas anotações de seu diário, quando de uma viagem pelo Mediterrâneo, em 1912, ele deixou anotado seu fascínio por alguns elementos que mais tarde se tornariam registros de sua arquitetura mundialmente reconhecida. A respeito de “retas, ruas asfaltadas, ‘a magia da geometria’, casas sobre pilotis e sobre o Parthenon, sobre o qual elogiou a simetria matemática” (Kruft, 1994KRUFT, H. W. (1994). A history of architectural theory: from Vitruvius to the present. Nova York, Princeton Architectural Press., p. 396).
Essa progressão de compreensões sobre a arquitetura está ancorada em uma discussão filosófica importante que é a discussão sobre a verdade. A filosofia trata da busca pelo conhecimento. Por isso a busca pela verdade, ou ao menos as buscas pelas premissas que podem comprovar que uma informação recebida é verdadeira, se torna uma busca filosófica permanente.
Diante da tendência da técnica (softwares) de propor que suas premissas de verdade sejam passíveis de aplicação também no ambiente da criação artística da arquitetura, a discussão passa a demandar a revisão dos fundamentos filosóficos que a sustentam, buscando explicação para o porquê de a verdade estar ligada a uma única e absoluta compreensão, determinada por um tipo de certeza.
Em se tratando de pesquisa sobre a verdade, há uma questão que permanece subjacente a todo trabalho: a diferença entre verdade e verdade-certeza. O pensamento comum, na atualidade, é que o conhecimento da verdade acarreta automaticamente a certeza. A correspondência entre verdade e certeza prepondera em grande parte porque as ferramentas que foram desenvolvidas para medir e quantificar os fenômenos no mundo possibilitavam a previsão dos eventos, sua repetição, e indicavam a constância e a permanência de uma verdade supramaterial.
No entanto, é perfeitamente possível estar certo sobre um ponto e ele, ainda assim, não corresponder à verdade.6 6 () A respeito de qualquer sentença, há sempre, no mínimo, três possibilidades: ela pode ser verdadeira; ela pode ser falsa; ou ela pode ser não verdadeira, o que não é o mesmo que ser falsa. Uma sentença não verdadeira pode conter elementos que tenham correspondência com a percepção sensível e racional do fenômeno ou objeto observado, e, no entanto, a compreensão do que se vê pode ser distorcida pela relação entre observador e observado, entre sujeito e objeto (Afonso, 2019, p. 27). A discussão sobre os movimentos dos planetas e a teoria do heliocentrismo7 7 () O modelo de Claudio Ptolomeu para a explicação dos movimentos dos planetas era complexo, mas permitia prever corretamente a posição dos planetas. A busca pelo ajuste entre o modelo calculado e o que se observava, somado à necessidade de sustentar a estrutura filosófica que mantinha a Terra no centro do cosmos, fazia com que, ao surgirem divergências entre o esperado e o observado, promovessem-se ajustes matemáticos no cálculo das órbitas dos deferentes ou dos epiciclos. Como resultado, o que se sabia é que o modelo calculava corretamente a posição dos planetas nas diversas épocas do ano. Apesar de conseguir prever com precisão e certeza a posição dos planetas, o modelo não expressava verdades sobre estes. A diferença entre verdade e verdade-certeza é que a última está ancorada na previsibilidade matemática e é, portanto, restrita à racionalidade, já a primeira abrange o que está além da racionalidade, inclusive além da capacidade de percepção humana. são exemplos para demonstrar a diferença entre verdades, e foi de certa maneira a causa que levou René Descartes a propor sua filosofia para buscar ao mesmo tempo libertar as buscas científicas da censura da Igreja Católica, permitir que o conhecimento sobre as verdades estivesse acessível a todas as pessoas e propor um método que garantisse que as informações correspondessem à certeza e, portanto, à verdade. O exercício de pensar um modelo diferente para a verdade que vá além da correção matemática exige uma mudança de paradigma.
Uma definição tradicional de verdade bastante aceita ainda nos dias de hoje vem do latim e remete a uma visão técnica: veritas est adaequatio rei et intellectus.8 8 () “verdade é a adequação da coisa e do intelecto” (Tomás, De veritate. Art. 1); trad. de Roberto Busa (Aquino, 2007, p. 315). Essa definição pressupõe um tipo de adequação do objeto ao intelecto, portanto, à razão. Nesse paradigma, a verdade mostra-se essencialmente imutável, permanente e dissociada da materialidade, algo que está além das percepções sensoriais. Pela sua imaterialidade, a essência dessa verdade só pode ser alcançada pela razão intelectiva, que, em Tomás de Aquino, dá-se por um processo teológico, apesar de suas tentativas de racionalização da filosofia medieval. René Descartes, entretanto, altera, nesse princípio, a ideia de que a matemática orienta a razão do sujeito para levar seu intelecto a reconhecer, na coisa, a verdade. A concepção de verdade e de seu instrumento infalível de apreensão foi apresentada de forma fundamentada por Descartes, que altera o método teológico da ligação entre coisa e razão, mediado por Deus, para um método racionalista que propõe a ligação entre coisa e razão, mediado pelo sujeito (Descartes, 2015). Por meio dos seus princípios metafísicos, Descartes constrói as bases sólidas da metodologia científica, e com ela o paradigma de verdade que é adotado até hoje.
Porém a proposta original de Descartes não era fazer um tratado de filosofia nem apresentar uma nova fundamentação da metafísica ocidental: ele queria encontrar bases filosóficas que sustentassem as teorias dele para sua obra de física (Descartes, 2009). O trabalho principal de Descartes era sua teoria elaborada para explicar os fenômenos do mundo, utilizando-se do método que ele desenvolveu e, sobretudo, da nova ferramenta: a geometria analítica, na qual o vazio espacial não existia.
Quando Galileu foi condenado, Descartes suspendeu a publicação de algumas obras,9 9 () Descartes ficou profundamente abalado com a condenação de Galileu já que este era amigo do Papa, mas nem o pontífice conseguiu suplantar o tribunal da Santa Inquisição. As pesquisas de Descartes estavam muito próximas às de Galileu e, por essa razão, ele percebeu que, para poder apresentá-las, precisaria antes construir bases filosóficas que libertassem a ciência da igreja. Essa foi a proposta do método e da sua primeira obra Discurso do método. Por isso, foi escrita em francês (e não em latim) e distribuída ao grande público (não aos doutores). Descartes buscava a democratização e a liberdade do conhecimento (Afonso, 2019). que já estavam prontas, e lançou as fundamentações metafísicas que viabilizariam sua obra como um todo. Ele queria mostrar que suas teorias eram compatíveis com os princípios doutrinários da Igreja Católica e que, uma vez debatidas e aceitas, abririam espaço para que ele apresentasse sua obra.
O significado disso tudo, para a discussão sobre os limites da criação artística pelos softwares (matemática), aparece na observação da base fundamental da filosofia de Descartes: o seu método fundamentava-se na existência de um espaço contínuo. Logo, com seu método, seria possível, dentro de um universo pleno, a explicação de todas as coisas, conhecidas e desconhecidas, bastando, para isso, decompor os eventos de forma ordenada e encadeada até encontrar uma estrutura mínima básica unitária e, a partir dela, recompor os fenômenos para a construção da verdade-certeza sobre aquele mesmo universo.
Essa decomposição em busca da unidade mínima era um processo que se assemelhava ao percurso por uma grande corrente, elo por elo, até chegar à unidade de uma ideia (da qual não se pudesse mais duvidar por ser evidente por si mesma) e, a partir dela, voltar por sequências logicamente encadeadas e ter a certeza sobre a verdade do objeto.
Por essa explicação do que significava o seu método, pode-se entender a necessidade de homogeneidade que ele coloca no mundo, nos espaços das ideias e essencialmente no seu instrumento matemático mais importante para planejar o espaço: no Plano Cartesiano. Ele é construído pelo cruzamento de duas linhas ortogonais, no qual o espaço está homogeneamente dividido, e as curvas serão traçadas e referenciadas até encontrar uma unidade básica universal para, sobre ela, quantificar o evento. Tudo encadeado, sem saltos.
Dentro do Plano Cartesiano de Descartes, não existe a possibilidade da criação absoluta, representada pelo salto do 0 para o 1,10 10 () A origem do Plano Cartesiano é, para Descartes, a letra “O” de origine (origem em francês). O ponto 0 (zero) na sua origem foi uma extrapolação interpretativa posterior. de forma a passar da substância pensante para a substância extensa de forma ôntica. Essa questão fora decidida, para Descartes, dentro do mistério da criação divina, do homem e de todas as coisas, e seria assunto para a teologia, não aplicável ao método. A questão do salto, tendo sido colocada no âmbito da res pensante, não seria alcançável pelo método.
Aí a problemática surge: a intuição artística, o salto criativo que é simbolizado pela passagem do zero para a unidade, não era da alçada do método. Simplesmente o método não foi pensado para atuar nesse âmbito.11 11 () Descartes, em uma carta a Mersenne, explica como a discussão sobre beleza não pode ser definida em termos únicos e universais: “You ask whether there’s a discoverable essence of beauty. That’s the same as your earlier question as to why one sound is more pleasing than another, except that the word ‘beauty’ seems most at home with the sense of sight. But in general ‘beautiful’ and ‘pleasing’ each signify merely a relation between our judgement and an object; and because men’s judgements are so various, there can’t be any definite standard of beauty or pleasingness” (Descartes, 2018, p. 13; grifos nossos). Para Descartes, não é que não se pensaria mais em descobertas e criações, mas apenas que, dentro do mundo físico que ele teorizou, o método serviria para validar, dentro da verdade-certeza, o que fosse proposto, tendo como ponto de partida os elementos que já estariam dados e dispostos no mundo. As “criações” advindas pelo método, pela geometria e pelas ferramentas técnicas que a utilizasse (incluindo o que atualmente são os softwares), não seriam originárias em seu sentido absoluto, seriam apenas as “re-criações” baseadas nas recombinações possíveis pelas descobertas das leis obtidas no método, impossíveis para Descartes de ultrapassar os limites da racionalidade humana.
Quando Pascal, Leibniz e depois Newton demonstraram que o espaço não é contínuo, isto é, que existe o vazio e que as teorias da física de Descartes eram insustentáveis, era de se esperar que a validade das ferramentas que ilustravam essa hipótese de mundo também recebesse uma relativização nas suas pretensões absolutas. No entanto, quando a experimentação comprovou a existência do vazio e a teoria do espaço pleno foi invalidada, nem a validade da geometria analítica, nem o método científico, de Descartes, foram revisitados filosoficamente.
Contudo, essa é uma leitura que merece maior atenção. A validade do método e a certeza dos resultados que ele traz indicam que ele tem validade na extensividade, mas não mais no absoluto da verdade que ultrapassa a realidade ôntica. A possibilidade que sustentava o caráter de absoluta validade para a verdade do método não poderia mais ser admitida, pois a homogeneidade que seria condição essencial para a continuidade do encadeamento da unidade mínima não existia mais, mas a validade relativa que o método trazia para a extensividade se mantinha-se e progrediu de outra maneira.
Dessa relativização, surgem várias novas contribuições de outros pensadores que progrediram paulatinamente para uma algebrização da realidade – mas não de forma abrupta – inicialmente, em progressos suaves, para ampliar o alcance da matemática, posteriormente, para tentar ultrapassar seus limites (Brunschvicg, 1993BRUNSCHVICG, L. (1993). Les étapes de la philosophie mathématique. Paris, Librairie scientifique et technique Albert Blanchard.). Foi quando a robustez dos resultados do instrumento matemático se tornou mais forte do que a do conjunto de pensamentos filosóficos que a limitavam em sua pretensão de verdade absoluta, que ela iniciou sua própria jornada (ibid.) de pretensão de definição conceitual absoluta de verdade. A matemática libertava-se das amarras filosóficas que a sustentavam, iniciando uma jornada de deturpação do seu alcance, buscando acessar áreas da existência humana que não pertencem à razão.
Paradoxalmente é, por meio do desenvolvimento de tecnologias e de pesquisas baseadas no método, mas conduzidas por cientistas que conhecem seus limites, que os primeiros momentos da criação artística são agora atribuídos a elementos fisiológicos desenvolvidos pela evolução humana ao longo de milênios, que estão associados às emoções e aos sentimentos. Estes, juntamente com outros elementos essenciais à sobrevivência dos seres vivos primitivos, são pesquisados pela neurociência e compõem o que Antônio Damásio chama de marcadores somáticos, determinantes antes mesmo que qualquer processamento consciente possa ser feito pela mente humana, de nossas decisões.
Os limites da razão: as bases neurocientíficas das emoções e sentimentos
Não se deve combater o método científico, mesmo porque a história da humanidade mostra que só se mantiveram em pé as ideias, filosofias e pensamentos políticos que abraçaram os avanços que a inteligência humana conquistou com muito esforço, portanto a discussão sobre a criação artística deve ser capaz de lidar com a técnica e superá-la, e não a negar. Nesse ponto específico é que percebemos como a busca científica bem conduzida consegue, por seus próprios meios, encontrar caminhos para responder a esse dilema, inclusive apontando os limites da razão. As atuais pesquisas na nova fronteira científica, a neurociência, trazem a cada dia uma abundância de informações sobre as mais diferentes áreas e, dentre elas, destacamos as que estão sendo feitas pela equipe do Dr. Antônio Damásio.
Em sua obra O erro de Descartes (Damasio, 2012DAMASIO, A. (2012). O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras.), Damásio apresenta o resultado de pesquisas sobre a capacidade humana de tomar decisões. Nessa obra, ele apresenta o conceito dos marcadores somáticos e de como eles seriam os primeiros responsáveis pela capacidade humana de decidir, sendo esses marcadores elementos da organização fisiológica humana que compõem nossa estrutura muito antes da existência de qualquer capacidade de processamento consciente. Segundo Damásio (ibid.), até suas pesquisas, acreditava-se que a capacidade humana de escolher estava exclusivamente associada à sua capacidade de raciocinar, entendida como o conjunto que engloba conhecimento, atenção, memória, linguagem impecável, execução de cálculos, capacidade de executar abstrações e exercícios de lógica (ibid.). Porém suas pesquisas apontaram para um caminho totalmente diferente. Ao invés de apontar a razão como a primeira instância na determinação do que seria a essência humana, o neurocientista defende que “o sistema de raciocínio evoluiu como uma extensão do sistema emocional automático, com a emoção desempenhando vários papéis no processo de raciocínio” (ibid., p. 16).
A compreensão dessa hipótese é fundamental para entender como os espaços que estão sendo construídos, tendo por bases as sugestões “criativas” dos algoritmos, representam um risco à autonomia humana, podendo tornar, a longo prazo, seus convivas seres massificados, manipuláveis e com dignidade diminuída.
Emoções, sentimentos e os marcadores somáticos
Para entender o que são e como funcionam os marcadores somáticos (ibid.), é necessário entender como são apresentadas as definições de emoção e sentimento. A diferença fundamental relaciona-se à consciência das alterações corporais; segundo Damásio, as emoções apresentam-se como reações ou comportamentos corporais e subdividem-se em emoções primárias e emoções secundárias; já os sentimentos podem ou não ser originados por emoções. De maneira geral, “todas as emoções geram sentimentos, mas nem todos os sentimentos se originam de emoções” (ibid., p. 138), e é sobre essa divisão que se poderá entender como os marcadores somáticos atuam no auxílio da tomada de decisões.
As emoções primárias estão associadas a uma pré-programação inata da espécie humana e, entre as mais básicas, estão raiva, medo, alegria, tristeza e nojo (ibid., p. 144). Essas emoções se apresentam de maneira comum a todos os serem humanos saudáveis, e é sobre esse tipo que as demais emoções poderão se desenvolver. Segundo o neurocientista, esse primeiro sistema de emoções provavelmente foi desenvolvido ao longo da evolução e está associado a um conjunto de respostas que, de maneira extremamente eficiente, comanda as reações do corpo para garantir sua sobrevivência. Contudo esse sistema primário de emoções não é suficiente para explicar a enorme variedade de emoções que se desencadeiam no corpo, chamadas emoções secundárias e que, diferentemente das primeiras, acontecem em um nível consciente (ibid.).
Segundo Damásio (ibid.), esse segundo grupo de emoções está associado a outros mecanismos de processamento que acontecem, primeiramente, em nível consciente e, posteriormente, são detectados pelo sistema límbico que, por sua vez, desencadeia as reações corporais. Outra característica desse grupo de emoções é que, ao contrário do primeiro, ele possui elementos e características de um conhecimento adquirido. Resumidamente, a proposta de Damásio para o processamento desse segundo grupo de emoções é a seguinte: inicialmente são feitas considerações deliberadas e conscientes (como, por exemplo, a notícia da morte de um amigo), a partir dessa informação, formam-se imagens mentais12 12 () A definição de imagens mentais remete ao conjunto de imagens perceptivas e imagens evocadas sobre as quais Damásio trata no capítulo 5 de sua obra : “Em suma: as imagens são baseadas diretamente nas representações neurais, e apenas nessas, que ocorrem nos córtices sensoriais iniciais e são topograficamente organizadas” (Damasio, 2012, p. 103). que podem ser não verbais ou verbais, localizadas em diversos córtices sensoriais de maneira autônoma. Após a formação dessas imagens, em nível não consciente, as redes no córtex frontal reagem automaticamente e involuntariamente, mandando sinais para o sistema límbico.13 13 () “O sistema límbico responde pelos comportamentos instintivos, pelas emoções profundamente arraigadas e pelos impulsos básicos, como sexo, ira, prazer e sobrevivência. Forma um elo entre os centros de consciência superiores no córtex cerebral e o tronco encefálico, que regula os sistemas corporais.” Informação disponível em: http://bio-neuro-psicologia.usuarios.rdc.puc-rio.br/sistema-l%C3%ADmbico.html. Acesso em: 12 out 2022. Aqui, no entanto, é importante destacar que essa reação às imagens formadas pela informação recebida acontece em função de como experiências anteriores estiveram associadas a certas respostas emocionais, ou seja, a reação que uma pessoa terá depende de como outras situações anteriores e semelhantes foram por ela processadas (ibid.). Trata-se, portanto, de um processamento adquirido e não inato e que pode variar muito ou pouco em relação às outras pessoas.
Essa estrutura de interdependência entre os níveis de processamento das emoções se baseia na teoria do monitoramento dinâmico do corpo – homeostase – (ibid.). Nele, as informações sobre os diversos estados do corpo, as diversas decisões que devem ser tomadas para a manutenção e sobrevivência, estão todas sendo recebidas e suas respostas alteradas em tempo real. A importância desse processamento aparece mais evidente ao se abordar como os sentimentos se utilizam desses processamentos.
Ainda de acordo com Damásio (ibid.), os sentimentos podem ou não ser originados das emoções, podendo ser divididos em sentimentos de emoções universais básicas (cuja origem estaria nas emoções primárias), sentimentos de emoções universais sutis (cuja origem estaria nas emoções secundárias) e sentimentos de fundo, com origem em estados de background do corpo. Estes últimos seriam os sentimentos que correspondem “aos estados do corpo que ocorrem entre as emoções” (ibid., p. 145) e são comparados ao próprio sentimento de existir. Esses sentimentos de fundo funcionam como uma base dinâmica que está relativamente estável quando o corpo está em equilíbrio. Embora nunca esteja estática, trabalha com poucas alterações, permitindo que o corpo possua clareza (embora não consciência) de seu estado a cada momento. Sobre esse pano de fundo, é que os outros tipos de sentimentos irão se manifestar, e é a comparação entre o estado de fundo e os demais estados que permite a construção de informações que serão processadas pelas partes racionais e conscientes (ibid., p. 148). O mecanismo pelo qual acontece esse processamento é descrito por Damásio como uma comparação entre imagens (as de fundo e as que surgem pelo processamento das emoções); segundo ele, essas imagens são geradas e conservadas por circuitos neurais distintos e mantêm-se, assim, para poder haver uma espécie de justaposição, na qual as diferenças apontam as informações.
Nas pesquisas desenvolvidas pela equipe do neurocientista, esse mecanismo de processamento que associa emoções, sentimento e processamento cognitivo se mostrou anterior ao processamento cognitivo consciente. As pesquisas com pacientes com lesões cerebrais permitiram a observação de como as emoções e os sentimentos atuam no processamento cognitivo e racional humano, especialmente com relação à tomada de decisões.
A partir da análise do paciente Eliot e do estudo de caso de Phineas Gage14 14 () Phineas Gage foi um homem que perdeu parte do seu cérebro em um acidente. Apesar de não ter perdido nenhuma de suas funções motoras, cognitivas, de memória ou de raciocínio abstrato, não conseguiu mais tomar decisões ou fazer escolhas sociais. Elliot é um paciente com os mesmos sintomas, adquiridos após uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro. Cf. Introdução e Parte 1 de “O Erro de Descartes” (Damasio, 2012). (ibid.), foi possível entender que o processo de tomada de decisões não está relacionado com o processamento exclusivamente racional humano, mas que precisa previamente de um processamento emocional/sentimental. Foi essa a constatação que levou à teoria dos marcadores somáticos proposta por Antônio Damásio. Os marcadores somáticos são as indicações corporais que provêm do “uso de sentimentos gerados a partir de emoções secundárias” (ibid., p. 163) e são utilizados constantemente para a tomada de decisões. Segundo Damásio esses marcadores funcionam como os primeiros “filtros” para avaliar as inúmeras alternativas que podem ser escolhidas, e, depois dessa primeira seleção emocional, é que as alternativas seguem para que a parte racional possa escolher entre um número menor de alternativas. Essa função envolvendo sentimentos e emoções é o que caracteriza um funcionamento normal de um ser humano e, como mostram as pesquisas com pacientes com lesões cerebrais, é uma atividade essencial para que a autonomia possa ser exercida (ibid.).
Demostra-se, assim, que a dignidade associada à autonomia ancorada na capacidade de processamento de uma racionalidade fria e altamente funcional, um modelo de racionalidade que elimina as considerações emocionais e sentimentais como sugerida pelo método e que é a base da construção dos softwares e algoritmos utilizados em diversas áreas, não é uma atividade humana equilibrada. Seria antes o modo de funcionamento de um ser humano com lesão cerebral15 15 () “O que a experiência com doentes como Elliot sugere é que a estratégia fria defendida por Kant, entre outros, tem muito mais a ver com a maneira como doentes com lesões pré-frontais tomam suas decisões do que como a maneira como pessoas normais tomam decisões” (Damasio, 2012, p. 162). e que, por isso, apesar de ter importância e certo valor para a execução de tarefas repetitivas e mecanizadas, para o desenvolvimento de criações artísticas em que a subjetividade das decisões e das escolhas marca a busca do ser humano para superar a sua própria realidade, ela é a antítese do que se busca.
Tendo discorrido sobre a racionalidade e os marcadores somáticos, resta retomar a discussão sobre o último ponto relativo à dignidade humana: a dignidade associada às condições externas. O cerne dessa questão, para a discussão deste artigo, é que os marcadores somáticos são desenvolvidos a partir das emoções secundárias e que, portanto, são adquiridos ao longo de diversas experiências de vida, incluindo o ambiente físico:
Os marcadores-somáticos são, portanto, adquiridos por meio da experiência, sob o controle de um sistema interno de preferências e sob a influência de um conjunto externo de circunstâncias [...]
O conjunto de circunstâncias externas abrange os objetos, o meio ambiente físico e os acontecimentos em relação aos quais os indivíduos devem agir [...]. (Ibid., p. 167; grifos nossos)
Logo, as bases que são utilizadas para o processamento das escolhas feitas pelos seres humanos, aquelas que se relacionam com sua autonomia e sua dignidade, estão baseadas entre outros fatores na espacialidade que o abriga, especialmente na infância e adolescência (ibid., p. 168). A determinação dessa espacialidade trará consequências para as bases emocionais que serão armazenadas na forma de imagens mentais e que farão com que os sentimentos advindos dessas emoções secundárias formem os primeiros “filtros” de suas escolhas cognitivas.16 16 () Um outro aspecto importante sobre a espacialidade na formação dos marcadores somáticos e por conseguinte seu impacto na dignidade humana diz respeito às espacialidades precárias, como cortiços e favelas, e o que elas impõem aos seus moradores. Essa discussão profunda e pertinente aponta para a importância da formação desses marcadores somáticos em ambientes edificados, no extremo da ausência de qualquer tipo de planejamento ou uso da razão. Isso evidencia a complexidade da natureza humana que possui e deve usar de sua racionalidade para o desenvolvimento e a garantia de dignidade e, ao mesmo tempo, deve se prevenir contra o racionalismo por excesso de razão, o que acaba por a comprometer a autonomia humana. A esse respeito, conferir o artigo “Cortiços: a humilhação e a subalternidade” (Kowarick, 2014), assim como a discussão de Coutinho (2021), especificamente no capítulo 6.
As implicações disso são demasiadamente importantes para serem minimizadas. A espacialidade ou o meio ambiente no qual os seres humanos habitam é um dos fatores que possuem impacto na formação da estrutura emocional que servirá de base para estruturar os mecanismos de seleção (marcadores somáticos) que filtrarão, dentre as inúmeras alternativas possíveis, aquelas que serão apresentadas à parte racional e cognitiva, para que as escolhas sobre diversos assuntos sejam feitas, de maneira individual e/ou coletiva. É certo que os marcadores somáticos não tomam as decisões e que é essencial a atuação da racionalidade, como já foi anteriormente descrita, mas o ponto central é que o arcabouço das informações cognitivas adquiridas pela instrução formal faz parte da segunda instância das decisões, quando já foram previamente filtradas pelos processamentos emocionais desenvolvidos e armazenados na forma dos marcadores somáticos. Certo também, como deixa registrado Damásio, que esse processamento não é estático e que pode ser alterado ao longo de toda a vida, mas sua formação principal é feita pela cultura, espacialidade e emotividade da primeira época da vida.
Uma espacialidade construída, baseada em sugestões de algoritmos matemáticos, impacta diretamente a dignidade humana. Essa afirmativa é também passível de análise sob o ponto de vista de como o resultado de edificações feitas dentro dessa racionalidade excessiva afeta o desenvolvimento emocional de seus convivas e, assim, impacta também sua dignidade associada às condições externas.
Partindo das pesquisas neurocientíficas de Damásio dedicadas às emoções, outros pesquisadores têm se dedicado às pesquisas de estéticas, e especificamente envolvendo arquitetura. Alexander Coburn, Oshin Vartanian e Anjan Chatterjee têm sustentado que a experiência estética arquitetônica tem uma influência significativa na vida humana (Coburn, Vartanian e Chatterjee, 2017). Segundo eles, as emoções que são desencadeadas, ao se deparar com uma bela arquitetura, são em grande medida mediadas pelo circuito de recompensas do cérebro (ibid.), que, de acordo com os estudos de Damásio (2012), são os primeiros formadores de imagens mentais (emoções) que servirão de bases para o desenvolvimento cognitivo. Nesse estudo, não estavam sendo avaliadas as qualidades estéticas da arquitetura, mas sim os efeitos neurais que avaliações subjetivas sobre beleza arquitetônica desencadeavam no cérebro. O objetivo não é adentrar as discussões sobre o belo (embora as pesquisas de Semir Zeki (Zeki, 1998) e Tomohiro Ishizu (Ishizu e Zeki, 2011ISHIZU, T.; ZEKI, S. (2011). Toward a brain-based theory of beauty. Plos ONE, v. 6, n.7, pp. 1-10.) sejam instigantes ao apontarem para uma base fisiológica neural comum à espécie humana na experiência do belo), mas apenas apontar como a associação das imagens que são formadas pelas emoções de segunda ordem, relacionadas à sobrevivência, é influenciada fundamentalmente pela arquitetura.
Segundo Coburn, Vartanian e Chatterjee (Coburn, Vartanian e Chatterjee, 2017), as respostas da maioria dos seres humanos aos espaços construídos dialogam com decisões de aceitação ou rejeição e que, possivelmente, relacionam-se com os anos de evolução humana e luta por sobrevivência (Vartanian et al., 2013VARTANIAN, O.; NAVARRETE, G.; CHATTERJEE, A.; BRORSON FICH, L.; LEDER, H.; MODRONO, C.; NADAL, M.; ROSTRUP, N.; SKOV, M. (2013). Impact of contour on aesthetics judgement and approach-avoidance decisions in architecture. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110 (Supplement 2). Disponível em: https://doi.org/10.1073/pnas.1301227110.
https://doi.org/10.1073/pnas.1301227110...
; Coburn A. et al., 2020). Por isso mesmo, as primeiras reações a um ambiente são influenciadas por um processo automático e inconsciente (Ulrich, 1983ULRICH, R. S. (1983). Aesthetic and affective response to natural envinonment. Human Behavior & Environment: Advances in Theory & Research, n. 6, pp. 85-125.), o que permite inferir que há uma relação direta entre a configuração física desses ambientes e a maneira como nos sentimos e agimos em função deles (Vartanian et al., 2013VARTANIAN, O.; NAVARRETE, G.; CHATTERJEE, A.; BRORSON FICH, L.; LEDER, H.; MODRONO, C.; NADAL, M.; ROSTRUP, N.; SKOV, M. (2013). Impact of contour on aesthetics judgement and approach-avoidance decisions in architecture. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110 (Supplement 2). Disponível em: https://doi.org/10.1073/pnas.1301227110.
https://doi.org/10.1073/pnas.1301227110...
).
Considerações finais
A arquitetura é apontada como uma responsável direta pela construção e formação das bases emocionais que influenciarão os convivas, individualmente e coletivamente. Recuperando as ideias de Coutinho a esse respeito, é possível aprofundar a questão da necessidade de se recuperar a importância da experiência estética para o desenvolvimento social e, nesse aspecto específico, reposicionar a arquitetura no centro basilar dessa questão.
A racionalidade humana é apenas uma forma de inteligência no cosmos. Mas uma coisa podemos dizer de nossa espécie: nós temos o potencial de pensar a nós próprios [...].
[E]sta possibilidade de pensar-se a si próprio dá ao ser humano a possibilidade de buscar o autoconhecimento, tornando-o capaz de pensar-se em um todo maior.
É nesse ponto que os primeiros grandes arquitetos buscaram, além do conforto material, dado pela ilusão do controle da natureza, o conforto psíquico.
A intuição sublime das psychai de nossos ancestrais passou a vislumbrar novas possibilidades de realidade. Suas representações estéticas [...] podiam propor, a partir de uma concepção criativa, certas soluções e modificações aos espaços habitáveis e também à vida psíquica dos que habitavam tais espaço.
Assim, a arquitetura cumpria a função dupla de guardar o ser humano contra as intempéries da natureza [...] e de alterar a própria realidade conhecida [...]. (Coutinho, 2021COUTINHO, L. (2021). Educação arquitetônica da humanidade. Brasília, Tanto Mar., pp. 92-93)
A questão é entender o que está sendo problematizado com as sugestões de um projeto feito pelo equivalente a um processamento racional puro. Os problemas de se edificar espacialidades provenientes de decisões feitas pelos algoritmos, cujas bases estão na racionalidade pura, aparecem de duas maneiras perversas e que se autoalimentam: a primeira refletirá no tipo de formação emocional e de processamento de sentimentos desas pessoas que viverão nesses ambientes; a segunda diz respeito à aceitação da perda da autonomia criativa que os arquitetos estão empreendendo ao fazerem seus projetos dessa maneira.
As bases para a primeira situação problemática estão apresentadas na explicação de como as espacialidades compõem o sistema dos marcadores somáticos. Ao habitarem espaços projetados por decisões puramente racionais, a tendência é a de que essas pessoas adquiram uma certa homogeneidade de percepções sensoriais e, a depender das premissas utilizadas no momento da elaboração dos códigos dos softwares utilizados, essas percepções podem ser utilizadas para a redução das características de diferenciação e identidade. Em uma sociedade altamente consumista e individualista, a concepção de espaços que servem para uma formatação emocional conformista e para a manutenção dos sistemas vigentes corrobora não para uma transformação, mas antes para a manutenção das estruturas. As bases das escolhas sendo formadas na infância e adolescência, predominantemente, impedem ou impõem um alto custo emocional aos seus convivas para que busquem alternativas diferentes das que estejam estruturadas desde as suas bases. A longo prazo, as pessoas que assumirão os papeis de projetistas e tomadores de decisões estarão de certa maneira alimentados pelas espacialidades que ajudaram a formar seus marcadores somáticos e tenderão a eliminar, de maneira inconsciente, as alternativas que pareçam discordar dos padrões culturais e sociais com os quais encontra segurança e satisfação.
A segunda problemática, decorrente da aceitação das sugestões dos softwares, é mais complicada e dialoga explicitamente como o que se entende por criação artística. O processo de escolhas criativas humanas é intrincado e utiliza-se tanto das bases emocionais quanto dos arcabouços cognitivos desenvolvidos ao longo da vida. Pode-se imaginar o processo criativo como sendo um processo complexo e singular de escolhas, mas não de escolhas aleatórias. O que se caracteriza por escolhas criativas se baseia na seleção de relações entre elementos que, embora sejam conhecidos de todos, parecem não ter relação entre si. O artista e o inventor são aqueles que desenvolvem uma capacidade singular de conseguir fazer as escolhas de elementos que, ainda que distantes entre si, revelam relações intrincadas e evidentes de causalidades que transformam o modo de se enxergar o mundo; mas essas escolhas não acontecem simplesmente de maneira lógica e metodologicamente encadeadas. O físico nuclear Leo Szilard17 17 () “The creative scientist has much in common with the artist and the poet. Logical thinking and analytical ability are necessary attributes for a scientist, but they are far from sufficient for creative work. Those insights in science that have led to a breakthrough were not logically derived from preexisting knowledge: The creative processes on which the progress of science is based operate on the level of the subconscious” (Lanouette, 2013, p. 27). observou que lógica e capacidade analítica são características necessárias, mas não são suficientes para um trabalho criativo.18 18 () A complexidade dos elementos não quantitativos no processo de criação artística envolve outros fatores como o subconsciente. Para entender como esses elementos contribuem para o processo de criação arquitetônica, conferir o trabalho Albergaria (2022). Albergaria (2022)ALBERGARIA, C. S. (2022). O reconhecimento do desenho como desígnio na arquitetura à luz da psique. Dissertação de mestrado. Brasília, Universidade de Brasília. aprofunda a discussão da criação artística e do subconsciente na perspectiva freudiana e explica que o arcabouço de memórias do artista serve para que a ideia latente – que se encontra no subconsciente – possa ter um “material” para se manifestar no consciente. Segundo ela, as ideias estão em transição na nossa psique (ibid.), e a passagem do material que está no subconsciente para o consciente só acontece porque
“a primeira [ideia] é efetuada em algum material que permanece desconhecido, enquanto a última [...] é, além disso, colocada em vinculação com representações verbais” (apud Freud, 1923/2011, pp. 23-24). As representações verbais são os resíduos de lembranças, ou seja, os traços mnêmicos, qualquer coisa [...] que deseja se tornar consciente, ou já foi consciente um dia, ou deve se associar com algo que também já foi consciente. (Ibid., p. 103)
A percepção sobre a distância entre as colagens sofisticadas de softwares como o utilizado na plataforma Midjourney e o surgimento da nova ideia aparece na fundamentação de Albergaria. As memórias de imagens, projetos e desenhos da humanidade seriam os meios, a necessária matéria-prima para a manifestação do novo que originariamente é desconhecido e só pode se manifestar por meio das imagens armazenadas; mas o salto criativo possui uma base mais complexa e de fundo emocional, uma discussão já empreendida em outro trabalho no qual argumento mais aprofundadamente que o salto criativo possui vínculos estreitos com a emoção (Afonso, 2019AFONSO, C. (2019). Arquitetura e criação artística: o erro da verdade-certeza em Descartes. Dissertação de mestrado. Brasília, Universidade de Brasília.).
Fica evidente, dessa maneira, que as percepções entre as conexões criativas só aparecem de maneira transformadora para aqueles que estão preparados cognitivamente, com alto desenvolvimento de conhecimentos e técnicas, de maneira a permitir a fusão entre intuição e razão, porém, sem o processamento emocional, essas conexões são praticamente impossíveis. As escolhas feitas no âmbito estritamente racional, como já foi mostrado anteriormente, tornam-se infinitas combinações aleatórias e sem relações realmente inovadoras. Para se atingir a inovação, é necessário o processamento prévio emocional, feito por diversas estratificações dos marcadores somáticos que são desenvolvidos ao longo de inúmeras experiências emocionais, tornadas sentimentos. Esse é o ponto em que acontecem os processos criativos.
Ao renunciarem ao processo criativo inicial em seus projetos, os arquitetos e urbanistas abdicam das suas capacidades pessoais de escolherem e buscarem conexões que possam expressar inovações em suas criações e, concomitantemente, aceitam que esses espaços carreguem informações massificadas, permitindo que seus convivas se tornem manipuláveis e potencialmente diminuídos em sua dignidade. Esse é o maior impacto de se aceitar as sugestões dos softwares, a deliberada escolha por abdicar da capacidade humana de desenvolver suas aptidões emocionais e cognitivas em busca de novas ligações e relações que permitem as grandes transformações humanas em busca de uma sociedade mais digna.
Referências
- AFONSO, C. (2019). Arquitetura e criação artística: o erro da verdade-certeza em Descartes. Dissertação de mestrado. Brasília, Universidade de Brasília.
- ALBERGARIA, C. S. (2022). O reconhecimento do desenho como desígnio na arquitetura à luz da psique. Dissertação de mestrado. Brasília, Universidade de Brasília.
- AQUINO, T. (2007). Quaestiones disputatae de veritate proemium et art. 1. Disponível em: www.aquinate.com.br: http://www.corpusthomisticum.org/qdv01.html Acesso em: jun 2019.
» www.aquinate.com.br:» http://www.corpusthomisticum.org/qdv01.html - BRUNSCHVICG, L. (1993). Les étapes de la philosophie mathématique. Paris, Librairie scientifique et technique Albert Blanchard.
- CHATTERJEE, A.; VARTANIAN, O. (2014). Neuroaesthetics. Trends in Cognitive Sciences, v. 18, n. 7, pp. 370-375. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2014.03.003
» http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2014.03.003 - CINZA, D.; VITTORIO, G. (2009). Neuroaesthetics: a review. Current Opinion in Neurobiology, v. 19, pp. 682-687. DOI: 10.1016/j.conb.2009.09.001.
- COBURN, A.; VARTANIAN, O.; CHATTERJEE, A. (2017). Buildings, beauty, and the brain: a neuroscience of architectural experience. Journal of Cognitive Neuroscience, v. 29, n. 2, pp. 1521-1531. DOI: 10.1162/jocn_a_01146.
- COBURN, A.; VARTANIAN, O.; KENETT, Y. N.; NADAL, M.; HARTUNG, F.; HAYN-LEICHSENRING, G.; CHATTERJEE, A. (2020). Psychological and neural responses to architectural interiors. Cortex, v. 126, pp. 217-241. DOI: http://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.01.009
» http://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.01.009 - COUTINHO, L. (2021). Educação arquitetônica da humanidade. Brasília, Tanto Mar.
- DAMASIO, A. (2012). O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras.
- DAMASIO, A. (2018). A estranha ordem das coisas: as origens dos sentimentos e da cultura. São Paulo, Companhia das Letras.
- DESCARTES, R. (2009). O mundo (ou tratado da luz) e o homem. Campinas, Unicamp.
- DESCARTES, R. (2015). Meditações metafísicas. São Paulo, Folha de S.Paulo.
- DESCARTES, R. (2018). Selected Correspondence of Descartes, in the version by Jonathan Bennett presented at www.earlymoderntexts.com. Some texts from early modern philosophy. Disponível em: http://www.earlymoderntexts.com/authors/descartes Acesso em: 12 set 2019.
» http://www.earlymoderntexts.com/authors/descartes - DURAND, J. (1805). Precis des leçons d'architecture (second volume). Paris, Ecole Polytechnique.
- FRIAS, L.; LOPES, N. (2015). Considerações sobre o conceito de dignidade humana. Revista Direito GV 22. São Paulo, v. 11, n. 2, pp. 649-670.
- FRIEDMAN, M. (2011). “Descartes e Galileu: copernicianismo e o fundamento metafísico da física”. In: BROUGHTON, J.; CARRIERO, J. Descartes. Porto Alegre, Penso.
- GAUKROGER, S. (2011). “Vida e obra”. In: BROUGHTON, J.; CARRIERO, J. Descartes. Porto Alegre, Penso.
- ISHIZU, T.; ZEKI, S. (2011). Toward a brain-based theory of beauty. Plos ONE, v. 6, n.7, pp. 1-10.
- KOWARICK, L. (2013). Cortiços: a humilhação e a subalternidade. Tempo Social [online], v. 25, n. 2 pp. 49-77. Disponível em: DOI https://doi.org/10.1590/S0103-20702013000200004 Acesso em: 9 nov 2022.
» https://doi.org/10.1590/S0103-20702013000200004 - KRUFT, H. W. (1994). A history of architectural theory: from Vitruvius to the present. Nova York, Princeton Architectural Press.
- LANOUETTE, W. (2013). Genius in the shadows. Nova York, Skyhorse Publishing.
- LEDOUX, J. E.; DAMASIO, A. R. (2014). “Emoções e sentimentos”. In KANDEL,: E. R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSEL, T. M.; SIEGELBAUM, S. A.; HUDSPETH, A. J. Princípios de Neurociências. Porto Alegre, AMGH, pp. 938-951.
- ONU (1948). Declaração Universal dos Direitos Humanos (resolução 217 A III). Nova York.
- SCHERER, K. R. (1994). “Emotions serves to decouple stimulus and response”. In: EKMAN, P.; DAVIDSON, R. J. The nature of emotion. Nova York, Oxford University Press, pp. 127-130.
- ULRICH, R. S. (1983). Aesthetic and affective response to natural envinonment. Human Behavior & Environment: Advances in Theory & Research, n. 6, pp. 85-125.
- VARTANIAN, O.; NAVARRETE, G.; CHATTERJEE, A.; BRORSON FICH, L.; LEDER, H.; MODRONO, C.; NADAL, M.; ROSTRUP, N.; SKOV, M. (2013). Impact of contour on aesthetics judgement and approach-avoidance decisions in architecture. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110 (Supplement 2). Disponível em: https://doi.org/10.1073/pnas.1301227110
» https://doi.org/10.1073/pnas.1301227110 - VITRUVIUS, P. (2007). Tratado de Arquitetura/ VItrúvio. São Paulo, Martins Fontes.
- ZEKI, S. (1998). Art and the Brain. Daedalus, pp. 71-103.
- ZEKI, S. (2001). Creativity and the Brain. Science, v. 293, pp. 51-52.
Notas
-
1
() “O mínimo existencial consiste em um conjunto de prestações mínimas sem as quais se poderá afirmar que o indivíduo se encontra em situação de indignidade” (Frias e Lopes, 2015FRIAS, L.; LOPES, N. (2015). Considerações sobre o conceito de dignidade humana. Revista Direito GV 22. São Paulo, v. 11, n. 2, pp. 649-670., p. 663).
-
2
() O termo conviva reflete a ideia de que os habitantes de um espaço não apenas o habitam passivamente, nem apenas o usufruem como seres impermeáveis; o termo reflete a consciência que precisa ser aprimorada de que, ao estar, habitar e conviver em espaços, somos todos agentes de sua transformação e somos por eles transformados. Cf. Coutinho (2021)COUTINHO, L. (2021). Educação arquitetônica da humanidade. Brasília, Tanto Mar..
-
3
() É depoimento comum, entre estudantes de arquitetura e profissionais da área, a escolha de deixarem de utilizar determinadas ideias (desenhos, entre outros) para projetos porque não dominam a maneira de colocá-las nos programas. Também é bastante comum o depoimento da aceitação para o início do projeto, o ponto de partida, de modelos disponíveis nos bancos de dados. Ao aceitarem abdicar de seus desenhos e aderirem com mais facilidade às “sugestões” disponíveis dos bancos de dados dos softwares, eles se submetem às escolhas preestabelecidas e padronizantes. Um exemplo muito bom dessa tese é o do software midjourney.com, cujo tutorial voltado a arquitetos pode ser conferido no site: https://youtu.be/KxIrqNNw5y4.
-
4
() Segundo Kruft, a Academia Real de Arquitetura, criada em 1671 na França, foi a primeira instituição a exercer a prática sistemática do ensino de arquitetura, e, assim, a precursora das faculdades de arquitetura (Kruft, 1994KRUFT, H. W. (1994). A history of architectural theory: from Vitruvius to the present. Nova York, Princeton Architectural Press., p. 128).
-
5
() Segundo Kruft, as diversas edições e traduções de Précis de leçons d’architecture (Durand, 1805DURAND, J. (1805). Precis des leçons d'architecture (second volume). Paris, Ecole Polytechnique.) fizeram dele o mais significativo tratado de arquitetura da primeira metade do século XIX (Kruft, 1994KRUFT, H. W. (1994). A history of architectural theory: from Vitruvius to the present. Nova York, Princeton Architectural Press., p. 273).
-
6
() A respeito de qualquer sentença, há sempre, no mínimo, três possibilidades: ela pode ser verdadeira; ela pode ser falsa; ou ela pode ser não verdadeira, o que não é o mesmo que ser falsa. Uma sentença não verdadeira pode conter elementos que tenham correspondência com a percepção sensível e racional do fenômeno ou objeto observado, e, no entanto, a compreensão do que se vê pode ser distorcida pela relação entre observador e observado, entre sujeito e objeto (Afonso, 2019AFONSO, C. (2019). Arquitetura e criação artística: o erro da verdade-certeza em Descartes. Dissertação de mestrado. Brasília, Universidade de Brasília., p. 27).
-
7
() O modelo de Claudio Ptolomeu para a explicação dos movimentos dos planetas era complexo, mas permitia prever corretamente a posição dos planetas. A busca pelo ajuste entre o modelo calculado e o que se observava, somado à necessidade de sustentar a estrutura filosófica que mantinha a Terra no centro do cosmos, fazia com que, ao surgirem divergências entre o esperado e o observado, promovessem-se ajustes matemáticos no cálculo das órbitas dos deferentes ou dos epiciclos. Como resultado, o que se sabia é que o modelo calculava corretamente a posição dos planetas nas diversas épocas do ano. Apesar de conseguir prever com precisão e certeza a posição dos planetas, o modelo não expressava verdades sobre estes. A diferença entre verdade e verdade-certeza é que a última está ancorada na previsibilidade matemática e é, portanto, restrita à racionalidade, já a primeira abrange o que está além da racionalidade, inclusive além da capacidade de percepção humana.
-
8
() “verdade é a adequação da coisa e do intelecto” (Tomás, De veritate. Art. 1); trad. de Roberto Busa (Aquino, 2007AQUINO, T. (2007). Quaestiones disputatae de veritate proemium et art. 1. Disponível em: www.aquinate.com.br: http://www.corpusthomisticum.org/qdv01.html. Acesso em: jun 2019.
www.aquinate.com.br:... , p. 315). -
9
() Descartes ficou profundamente abalado com a condenação de Galileu já que este era amigo do Papa, mas nem o pontífice conseguiu suplantar o tribunal da Santa Inquisição. As pesquisas de Descartes estavam muito próximas às de Galileu e, por essa razão, ele percebeu que, para poder apresentá-las, precisaria antes construir bases filosóficas que libertassem a ciência da igreja. Essa foi a proposta do método e da sua primeira obra Discurso do método. Por isso, foi escrita em francês (e não em latim) e distribuída ao grande público (não aos doutores). Descartes buscava a democratização e a liberdade do conhecimento (Afonso, 2019AFONSO, C. (2019). Arquitetura e criação artística: o erro da verdade-certeza em Descartes. Dissertação de mestrado. Brasília, Universidade de Brasília.).
-
10
() A origem do Plano Cartesiano é, para Descartes, a letra “O” de origine (origem em francês). O ponto 0 (zero) na sua origem foi uma extrapolação interpretativa posterior.
-
11
() Descartes, em uma carta a Mersenne, explica como a discussão sobre beleza não pode ser definida em termos únicos e universais: “You ask whether there’s a discoverable essence of beauty. That’s the same as your earlier question as to why one sound is more pleasing than another, except that the word ‘beauty’ seems most at home with the sense of sight. But in general ‘beautiful’ and ‘pleasing’ each signify merely a relation between our judgement and an object; and because men’s judgements are so various, there can’t be any definite standard of beauty or pleasingness” (Descartes, 2018DESCARTES, R. (2018). Selected Correspondence of Descartes, in the version by Jonathan Bennett presented at www.earlymoderntexts.com. Some texts from early modern philosophy. Disponível em: http://www.earlymoderntexts.com/authors/descartes. Acesso em: 12 set 2019.
http://www.earlymoderntexts.com/authors/... , p. 13; grifos nossos). -
12
() A definição de imagens mentais remete ao conjunto de imagens perceptivas e imagens evocadas sobre as quais Damásio trata no capítulo 5 de sua obra : “Em suma: as imagens são baseadas diretamente nas representações neurais, e apenas nessas, que ocorrem nos córtices sensoriais iniciais e são topograficamente organizadas” (Damasio, 2012DAMASIO, A. (2012). O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras., p. 103).
-
13
() “O sistema límbico responde pelos comportamentos instintivos, pelas emoções profundamente arraigadas e pelos impulsos básicos, como sexo, ira, prazer e sobrevivência. Forma um elo entre os centros de consciência superiores no córtex cerebral e o tronco encefálico, que regula os sistemas corporais.” Informação disponível em: http://bio-neuro-psicologia.usuarios.rdc.puc-rio.br/sistema-l%C3%ADmbico.html. Acesso em: 12 out 2022.
-
14
() Phineas Gage foi um homem que perdeu parte do seu cérebro em um acidente. Apesar de não ter perdido nenhuma de suas funções motoras, cognitivas, de memória ou de raciocínio abstrato, não conseguiu mais tomar decisões ou fazer escolhas sociais. Elliot é um paciente com os mesmos sintomas, adquiridos após uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro. Cf. Introdução e Parte 1 de “O Erro de Descartes” (Damasio, 2012DAMASIO, A. (2012). O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras.).
-
15
() “O que a experiência com doentes como Elliot sugere é que a estratégia fria defendida por Kant, entre outros, tem muito mais a ver com a maneira como doentes com lesões pré-frontais tomam suas decisões do que como a maneira como pessoas normais tomam decisões” (Damasio, 2012DAMASIO, A. (2012). O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras., p. 162).
-
16
() Um outro aspecto importante sobre a espacialidade na formação dos marcadores somáticos e por conseguinte seu impacto na dignidade humana diz respeito às espacialidades precárias, como cortiços e favelas, e o que elas impõem aos seus moradores. Essa discussão profunda e pertinente aponta para a importância da formação desses marcadores somáticos em ambientes edificados, no extremo da ausência de qualquer tipo de planejamento ou uso da razão. Isso evidencia a complexidade da natureza humana que possui e deve usar de sua racionalidade para o desenvolvimento e a garantia de dignidade e, ao mesmo tempo, deve se prevenir contra o racionalismo por excesso de razão, o que acaba por a comprometer a autonomia humana. A esse respeito, conferir o artigo “Cortiços: a humilhação e a subalternidade” (Kowarick, 2014), assim como a discussão de Coutinho (2021)COUTINHO, L. (2021). Educação arquitetônica da humanidade. Brasília, Tanto Mar., especificamente no capítulo 6.
-
17
() “The creative scientist has much in common with the artist and the poet. Logical thinking and analytical ability are necessary attributes for a scientist, but they are far from sufficient for creative work. Those insights in science that have led to a breakthrough were not logically derived from preexisting knowledge: The creative processes on which the progress of science is based operate on the level of the subconscious” (Lanouette, 2013LANOUETTE, W. (2013). Genius in the shadows. Nova York, Skyhorse Publishing., p. 27).
-
18
() A complexidade dos elementos não quantitativos no processo de criação artística envolve outros fatores como o subconsciente. Para entender como esses elementos contribuem para o processo de criação arquitetônica, conferir o trabalho Albergaria (2022)ALBERGARIA, C. S. (2022). O reconhecimento do desenho como desígnio na arquitetura à luz da psique. Dissertação de mestrado. Brasília, Universidade de Brasília..
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
27 Mar 2023 -
Data do Fascículo
May-Aug 2023
Histórico
-
Recebido
6 Jul 2022 -
Aceito
2 Out 2022