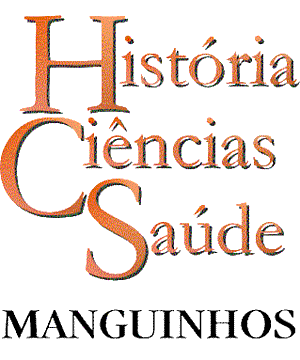Resumo
Os primeiros casos de leishmaniose cutânea e mucocutânea autóctones das Américas foram descritos em 1909, e em 1934 a leishmaniose visceral irrompeu como problema de saúde pública na região. O Brasil tem hoje o maior número de casos da leishmaniose tegumentar americana e, junto com a Índia, a mais elevada incidência de leishmaniose visceral. A produção de conhecimentos e os esforços para controlar essas doenças mobilizaram, em nível global, profissionais de saúde, populações urbanas e rurais, instituições governamentais e agências internacionais. Recuperam-se aqui alguns desses agrupamentos, redes de troca e cooperação, incertezas e polêmicas, identificando-se mudanças na abordagem das leishmanioses do Novo Mundo.
história da leishmaniose cutânea e mucocutânea; história da leishmaniose visceral no Brasil; Instituto de Patologia Experimental do Norte (Instituto Evandro Chagas
Abstract
The first autochthonous cases of cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis in the Americas were described in 1909, but visceral leishmaniasis only erupted as a public health problem in the region in 1934. Today Brazil is the country with the most cases of American tegumentary leishmaniasis, and alongside India has the highest incidence of visceral leishmaniasis. Knowledge production and efforts to control these diseases have mobilized health professionals, government agencies and institutions, international agencies, and rural and urban populations. My research addresses the exchange and cooperation networks they established, and uncertainties and controversial aspects when notable changes were made in the approach to the New World leishmaniases.
history of cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis; history of visceral leishmaniasis in Brazil; Instituto de Patologia Experimental do Norte (Instituto Evandro Chagas
A leishmaniose é a única doença tropical negligenciada em crescimento, e o Brasil, o país no continente americano com maior número de casos de suas três formas: a leishmaniose cutânea, a mucocutânea e a visceral ( WHO, 2017WHO. World Health Organization. Leishmaniasis: fact sheet. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs375/en/>. Acesso em: 7 ago. 2017. 2017.
http://www.who.int/mediacentre/factsheet...
; OMS, 2010OMS. Organização Mundial de Saúde. Trabalhando para superar o impacto global de doenças tropicais negligenciadas: primeiro relatório da OMS sobre doenças tropicais negligenciadas. Genebra: World Health Organization. 2010. ). Neste artigo mostro de que forma a leishmaniose visceral se impôs como problema de saúde pública no Brasil e quais eram as mais recentes pesquisas no tocante a essa e outras leishmanioses nos anos 1960, quando passaram a figurar na agenda da saúde internacional.
A produção de conhecimento da medicina ocidental sobre as diferentes enfermidades que seriam agrupadas como “leishmaniose” no início do século XX está associada à expansão colonial europeia nos séculos XVIII e XIX. Na Índia, os registros sobre o kala-azar, a doença que afetava os órgãos internos, principalmente baço e fígado, e que viria a ser conhecida como leishmaniose visceral, multiplicaram-se a partir de meados do século XIX, à medida que recrudesciam epidemias muito letais que chegaram a despovoar várias zonas e aldeias daquela colônia britânica. Ela foi associada a princípio à malária ou à ancilostomíase, e passou a integrar o complexo das leishmanioses no começo do século XX ao mesmo tempo que doenças dermatológicas conhecidas em várias partes do mundo por vários nomes alusivos às circunstâncias de tempo e lugar em que eram adquiridas: mal de Aleppo, botão de Biskra, botão da Bahia etc. A expressão “botão do Oriente” foi proposta nos anos 1870 para facilitar as pesquisas médicas sobre sua natureza.1 1 A esse respeito, ver Dutta (2009 , p.93-112; 2016, p.72-76); Jogas Jr. (2017, p.1051-1070); Benchimol, Jogas Jr. (2020). A leishmaniose – esse termo tão problemático quando usado no singular – desafiava um preceito pasteuriano básico: o de agente etiológico específico a cada doença, pois doenças que nada tinham em comum eram causadas por protozoários indiferenciáveis com os recursos técnicos disponíveis à época (e ainda por bom tempo). As leishmanioses tornaram-se objetos de intensa produção científica em diversas partes do mundo. A partir de 1909, médicos latino-americanos passaram a ter participação importante nessa rede internacional com seus trabalhos sobre as singulares manifestações na pele e nas mucosas da doença que, na região, apresentava outra particularidade: era adquirida somente em zonas florestais, e não em centros urbanos, como no Velho Mundo. A aceitação na década de 1930 do conceito de “leishmaniose tegumentar americana” indica a projeção conquistada pelos latino-americanos na rede internacional da medicina tropical. No tocante à leishmaniose visceral, a singularidade das Américas residiu por bom tempo na ausência dessa forma da doença. Houve, é certo, um diagnóstico feito pelo médico paraguaio Luis Enrique Migone Mieres (1913)MIERES, Luis Enrique Migone. Un cas de kala-azar a Assunción (Paraguay). Bulletin de la Societé de Pathologie Exotique , v.6, n.2, p.118-120. 1913. num indivíduo que havia trabalhado na construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Essa ferrovia, quatro anos antes, fora palco de um surto de “úlcera de Bauru”, então reconhecida − pela primeira vez nas Américas − como leishmaniose cutânea e mucocutânea autóctone.2 2 Os trabalhos de Antonio Carini e Ulysses Paranhos, respectivamente diretor e assistente de pesquisa do Instituto Pasteur de São Paulo, e de Adolpho Carlos Lindemberg, responsável pela Seção de Dermatologia da Santa Casa de Misericórdia e pesquisador do Instituto Bacteriológico de São Paulo, são analisados em detalhes em Jogas Jr. (2017, p.1051-1070) e em Benchimol e Jogas Jr. (2020). O caso de leishmaniose visceral observado no Paraguai e dois outros diagnosticados depois na Argentina ficaram como eventos isolados, em gritante contraste com centenas de casos de leishmaniose tegumentar descritos pelos médicos latino-americanos, aventando-se a hipótese de visceralização da doença dermatológica.
A leishmaniose visceral irrompeu como problema de saúde pública somente em 1934. O Serviço de Febre Amarela criara há pouco um laboratório para analisar fragmentos de fígado que centenas de postos de viscerotomia espalhados pelo Brasil retiravam de pessoas falecidas de febres suspeitas. Em lâminas negativas para febre amarela, o patologista Henrique Penna (1934)PENNA, Henrique A. Leishmaniose visceral no Brasil. O Brasil Médico , v.48, n.46, p.949-952. 1934. identificou Leishmania. Dessa forma, 41 óbitos foram subitamente relacionados à leishmaniose visceral.
Com as fichas desses casos post mortem , Evandro Chagas (1905-1940), filho de Carlos Chagas, encontrou o primeiro paciente diagnosticado em vida no Nordeste do Brasil. Em nota publicada logo a seguir (março de 1936), esse pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz apresentava a leishmaniose visceral do Brasil como possivelmente diferente daquela observada no Velho Mundo, não obstante fosse impossível diferenciar a Leishmania encontrada no Brasil, a L. donovani , agente do calazar na Índia e em outras partes da Ásia, e a L. infantum, o parasita incriminado por Charles Nicolle em 1908 como o causador da leishmaniose visceral infantil na região mediterrânea ( Chagas, 1936CHAGAS, Evandro. Primeira verificação em indivíduo vivo da leishmaniose visceral no Brasil (Nota prévia). O Brasil Médico , v.11, n.50, p.221-222. 1936. ; ver também Chagas et al., 1937CHAGAS, Evandro et al. Leishmaniose visceral americana (Nova entidade mórbida do homem na América do Sul): relatório dos trabalhos realizados pela Comissão Encarregada do Estudo da Leishmaniose Visceral Americana em 1936. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz , v.32, p. 321-385. 1937. ).3 3 Sobre os estudos de Evandro Chagas a respeito da leishmaniose visceral, ver Gualandi (2013) , Deane (1986 , p.53-67) e Benchimol et al. (2019 , p.611-626).
À frente de uma Comissão Encarregada do Estudo da Leishmaniose Visceral Americana,4 4 Da Comissão faziam parte três pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, Aristides Marques da Cunha, Gustavo de Oliveira Castro, Leoberto de Castro Ferreira, e o argentino Cecílio Romaña. Evandro Chagas teve apoio financeiro do Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Rockefeller e de um empresário brasileiro, Guilherme Guinle. A relação de Evandro Chagas com esses patrocinadores de suas atividades é analisada por Barreto (2012) . Evandro Chagas visitou outros lugares no Nordeste, mas logo deslocou sua investigação para o Pará, no Norte do Brasil.5 5 Em Belém do Pará, outros personagens foram incorporados à sua equipe: a enfermeira inglesa Agnes Stewart Waddel, que viria a se tornar sua segunda esposa; os paraenses Leônidas e Gladstone Deane, Felipe Nery-Guimarães e Maria von Paumgartten, que viria a se casar com Leônidas Deane. Ela continuou a ter como bússola os laudos produzidos pelos patologistas do Serviço de Febre Amarela. Evandro Chagas faria grandes esforços para demonstrar a teoria quase apriorística da suposta autoctonia e especificidade da “leishmaniose visceral americana”. Procurou repetir o feito dos que haviam logrado estabelecer o conceito da leishmaniose tegumentar americana e também o do pai, o descobridor, em 1909, da afamada tripanossomíase americana. Certamente foi influenciado pela ebulição científica provocada pela descoberta da febre amarela silvestre em que teve participação o patologista Henrique Penna ( Soper et al., 1933SOPER, Fred L. et al. Yellow fever without Aedes aegypti: study of a rural epidemic in the Valle do Chanaan, Espírito Santo, 1932 . American Journal of Hygiene , v.18, p.555-587. 1933. ).
Segundo Evandro Chagas e seus colaboradores, a leishmaniose visceral americana ocorria em indivíduos de diferentes idades (especialmente aqueles casos diagnosticados postumamente por meio de viscerotomias), ao passo que a do Mediterrâneo incidia preferencialmente em crianças. A doença americana ocorria exclusivamente em áreas rurais em estreito contato com matas, diferentemente do calazar, que se manifestava sob a forma de intensas epidemias urbanas na Índia. Cães eram os principais reservatórios do agente da leishmaniose visceral mediterrânea, mas não podiam desempenhar igual papel em doença tão esparsa quanto a americana. Só animais silvestres atuando como reservatórios primários podiam explicar o perfil epidemiológico da leishmaniose visceral americana.
Ao incriminar uma nova espécie, Leishmania chagasi , como seu agente causal, Evandro Chagas seguia o exemplo de Gaspar de Oliveira Vianna (1911)VIANNA, Gaspar. Sobre uma nova espécie de Leishmania (Nota preliminar). O Brasil Médico , v.25, n.41, p.411. 1911. , patologista do Instituto Oswaldo Cruz que havia descrito a Leishmania braziliensis , uma das muitas soluções aventadas para dar sentido às singularidades da leishmaniose tegumentar nas Américas.6 6 O nome original – Leishmania brasilienses – foi corrigido para L. braziliensis pelo próprio Vianna em artigo publicado em 1914, mas até os anos 1960 encontra-se em muitos trabalhos científicos Leishmania brasiliensis, com “s”. As hipóteses de Vianna e Chagas foram respaldadas pela subsunção daquele debate médico a ideologias nacionalistas, pois espécies autóctones de protozoários redundavam em incremento do capital simbólico dos investigadores latino-americanos na rede científica internacional da medicina tropical. A validação da Leishmania braziliensis está ligada também à interpretação de cerâmicas pré-colombianas que exibiam figuras humanas com lesões no nariz e na boca e que foram consideradas provas da ancestralidade da leishmaniose mucocutânea na região. Mas não foi consensual a interpretação desses achados arqueológicos. Uma caudalosa controvérsia, desde o final do século XIX, mobilizou arqueólogos, etnólogos, naturalistas e médicos do Velho e do Novo Mundo, em desacordo sobre as patologias ou práticas que aquelas cerâmicas e também múmias, ossadas e outros artefatos pré-colombianos testemunhavam. Para fundamentar seus pontos de vista, tais especialistas usavam por vezes fotografias e outras representações iconográficas de seu próprio tempo para ilustrar os efeitos de cada doença em debate. Ele tem grande valor heurístico, pois revela o magma complexo de patologias do qual teve de se desgarrar a leishmaniose tegumentar durante a sua constituição como nova doença autóctone do continente americano, como mostra o estudo de Benchimol e Jogas Jr. (2020).
É preciso lembrar ainda a projeção adquirida por Gaspar Vianna por conta da descoberta em 1912 de que o tártaro emético, um antimonial trivalente, era eficaz no tratamento das leishmanioses, apesar de sua toxidez. O medicamento logo foi adotado em vários países e colônias e teve grande impacto nos índices de mortalidade do calazar na Índia.7 7 “Tratamento da leishmaniose pelo tártaro emético” foi uma comunicação apresentada numa sessão da Sociedade Brasileira de Dermatologia no âmbito do sétimo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, em Belo Horizonte, em abril de 1912 ( Vianna, 1912 ). Na Índia, o tártaro emético foi substituído a partir de 1922 pela ureastibamina , antimonial pentavalente desenvolvido por Upendranath Brahmachari. Outros compostos antimoniais, como a Fuadina, seriam fabricados por empresas farmacêuticas como a Bayer. Sobre esse tema, ver, entre outros, Brahmachari (1940), Marsden (1985) e o quarto capítulo da tese de doutorado de Jogas Jr. (2019, p.145-175): “Caminhos para o tratamento: os compostos antimoniais e a terapêutica da leishmaniose tegumentar americana”.
A teoria de Evandro Chagas sobre a leishmaniose visceral americana deve-se em larga medida ao fato de suas pesquisas se terem concentrado na Amazônia, onde essa modalidade da doença teve, até os anos 1980, expressão menor em comparação com o Nordeste do Brasil ou mesmo com a ocorrência de leishmaniose cutânea e mucocutânea no Norte do país, intensa desde o começo da economia extrativista da borracha. E a escolha da Amazônia pode ser atribuída ao fato de terem sido bem-sucedidas “somente lá” as articulações políticas de Evandro Chagas que resultaram na criação, em Belém do Pará, do Instituto de Patologia do Norte (Ipen) para abrigar seus estudos.8 8 Sobre essa questão, ver: Gualandi (2013) , Barreto (2012) e Deane (1986) .
Num lugarejo chamado Piratuba foram encontrados os primeiros casos vivos de leishmaniose visceral da Amazônia, identificada depois em três outros municípios do Pará: Marapanim e Soure, no litoral, por viscerotomia; e Moju, por investigação clínica.9 9 Os casos diagnosticados por viscerotomia no Pará somaram 14 de 1932 a 1940; Evandro Chagas e sua equipe identificaram oito casos em vida. Esses casos corroboravam a ideia de que a doença não ocorria em cidades nem em várzeas, isto é, zonas com grandes vias aquáticas e terrenos alagados, e sim em zonas de mata com terreno seco e alta concentração de mamíferos silvestres. Foram encontrados no Pará sete cães e um gato naturalmente infectados. Num roedor silvestre (sauiá ou Phyllomy ssp.), granulações sugeriram Leishmania , mas não se conseguiu ir além das suspeitas. As espécies mais frequentes do díptero suspeito de ser o transmissor da leishmaniose visceral na região eram o Phlebotomus longipalpis ( Lutzomyia longipalpis ) e o Phlebotomus intermedius ( Lutzomyia intermedia) , mas seu papel não foi demonstrado conclusivamente.10 10 O sangue de um cão infectado foi sugado por fêmeas de P. longipalpis , e em duas foram encontradas leishmânias idênticas às das culturas do protozoário ( Ferreira et al., 1938 ). O Phlebotomus intermedius também foi infectado usando-se animais com leishmânias. E foi com esse díptero que Agnes Chagas e Wladimir Lobato Paraense conseguiram o primeiro resultado positivo de transmissão da leishmaniose visceral (a um hamster) por intermédio de Phlebotomus (Paraense, Chagas, 1940; Chagas, 1939 ).
Evandro Chagas estabeleceu frutíferas conexões com médicos da Argentina. Em 1935, ele participou, na cidade de Mendoza, da nona Reunião da Sociedade Argentina de Patologia Regional do Norte (SAPRN), que homenageou seu pai, num momento crucial da história de sua descoberta: posta no limbo como mal de magnitude supostamente limitada, a doença de Chagas teria seu verdadeiro alcance epidemiológico revelado graças a uma conjuntivite conhecida como “sinal de Romaña”, descoberta então por um integrante daquela sociedade argentina, Cecilio Félix Romaña. Ele se integrou à comissão chefiada por Evandro Chagas e participou da construção da descoberta da leishmaniose visceral americana.
O aliado internacional de maior peso do cientista brasileiro foi Saul Adler, médico nascido na Bielorrússia e educado na Inglaterra, que, em 1923, começou a trabalhar na Universidade Hebraica, em Jerusalém.11 11 Adler assumiu a direção do departamento de parasitologia, mais tarde incorporado à Hadassah Medical School, inaugurada logo depois da criação do Estado de Israel, em 1948. Baseio-me principalmente em Shortt (1967) e Telkes (1988) . Com o entomologista Oskar Theodor, estudou as espécies reconhecidas ou controversas de Leishmania ; desenvolveu engenhosos métodos sorológicos para diferenciá-las; investigou os vetores conhecidos e supostos do parasita e a zoogeografia das leishmanioses na região mediterrânea. Já existiam robustas evidências sobre a participação dos flebótomos em sua transmissão. Em 1921, no Instituto Pasteur da Argélia, Edmond e Étienne Sergent e seus colaboradores demonstraram que o Phlebotomus papatasi era capaz de transmitir o botão de Biskra, nome que tinha a leishmaniose cutânea naquela cidade argelina: conseguiram produzir uma lesão cutânea num voluntário pela inoculação de um triturado dessas moscas naturalmente infectadas ( Sergent et al., 1921SERGENT, Edmond et al. Transmission de clou de Biskra par le phlébotome (Phlebotomus papatasi Scop.). Comptes Rendus Hebdomanires des Séances de l’Academie des Sciences de Paris , v.173, n.21, p.1030-1032. 1921. ; 1926).12 12 Autores como Dedet (2007) e Théodoridès (1997) consideram essa a primeira prova de que flebótomos são vetores de leishmaniose. Killick-Kendrick (2013) privilegia a demonstração feita por Swaminath, Shortt e Anderson (1942). Com técnica semelhante, Henrique Aragão, no Instituto Oswaldo Cruz, mostrou que o Phlebotomus intermedius ( Lutzomyia [ Nyssomyia ] intermedia ) estava implicado na transmissão da Leishmania braziliensis .13 13 Aragão publicou nota a esse respeito em 1922 e trabalho mais completo nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz em 1927. Como vimos, outra espécie descrita por Lutz e Neiva (1912) – Phlebotomus longipalpis (atualmente Lutzomyia longipalpis ) – seria associada à transmissão da leishmaniose visceral por Evandro Chagas e sua equipe, em 1936-1937. Ainda nos anos 1920, Adler e Theodor conseguiram transmitir a L. infantum para o homem por meio do Phlebotomus papatasii ,14 14 Os experimentos consistiram em triturar moscas naturalmente infectadas e em introduzir esse material na pele escarificada de voluntários humano (Adler, Theodor, 1925a; 1925b; 1926). mas nem os europeus que estudavam as leishmanioses na região mediterrânea, nem os britânicos e indianos que investigavam o calazar na Ásia conseguiam transmitir o parasita experimentalmente a voluntários humanos por meio da picada de moscas previamente alimentadas em pacientes com a doença (a prova decisiva).
Somente em 1942, em Assam, um dos estados indianos mais afetados pela leishmaniose visceral, Henry Edward Shortt e sua equipe conseguiram provar que humanos contraíam o calazar ao serem picados por P. argentipes previamente infectados em doentes. Como mostram Killick-Kendrick (2013KILLICK-KENDRICK, Robert. The race to discover the insect vector of kala-azar: a great saga of tropical medicine 1903-1942. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique , v.106, p.131-137. 2013. , p.134-135) e Desowitz (1991DESOWITZ, Robert S. The malaria capers: tales of parasites and people. New York: W.W. Norton. 1991. , p.17-18), isso se deveu em larga medida a uma inovação técnica fundamental. Chagas, Adler e outros pesquisadores vinham seguindo o método adotado no estudo da relação malária/mosquito, de sucessivas refeições de sangue, mas com as Leishmania isso dava lugar a flebótomos não infectantes. No entanto, surpreendentemente, uma dieta de passas (ou seja, de açúcar) em seguida à refeição de sangue infectante fazia com que os flagelados se multiplicassem de forma intensa no corpo do inseto.
Em trabalho publicado pouco tempo antes do desfecho das experiências de Shortt, Adler (1940a) fazia interessante balanço das tentativas frustradas de infectar experimentalmente o homem. As mais recentes eram então as de Evandro Chagas e seus colaboradores.15 15 Adler citava Cunha e Chagas, “Estudos sobre o parasito”, parte 3 (p.329-337) do relatório produzido por Chagas et al. (1937) sobre os trabalhos realizados durante 1936.
Em setembro de 1939, o pesquisador da Universidade Hebraica enviou a Evandro Chagas os originais de um artigo que logo foi publicado (em inglês) nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Adler, 1940b). “Até agora foi impossível diferenciar a L. chagasi da L. infantum por qualquer teste de laboratório” – escreveu Adler (1940b, p.173) –, mas a diferenciação podia ser estabelecida com outros argumentos. No Velho Mundo, L. infantum e L. donovani tinham sua distribuição “rigorosamente confinada” a espécies de flebótomos do grupo major . Nenhuma espécie desse grupo fora encontrada no Novo Mundo. A sinonímia entre L. chagasi e L. infantum pressupunha a exportação desta última para o continente americano. Argumentava, porém, Adler que a existência de L. braziliensis na América pré-colombiana (baseada nos achados arqueológicos referidos acima) e de espécie aparentada no Velho Mundo, a L. tropica , num período em que não havia comunicação entre os dois continentes era prova da antiguidade da Leishmania como parasita do homem. A exportação da L. infantum para o continente americano era considerada improvável porque (e eu o cito): “Até o presente não se tem provas da formação de novos focos de L. infantum nem mesmo no Velho Mundo onde a doença é ‘notavelmente estática em sua distribuição’” (Adler, 1940b, p.174; destaque meu).
Em 8 de novembro de 1940, aos 35 anos, Evandro Chagas morreu em um desastre de avião na baía de Guanabara. Houve desaceleração nos estudos sobre a leishmaniose visceral, mas teve início o primeiro grande inquérito epidemiológico sobre leishmaniose tegumentar americana realizado por Samuel Barnsley Pessôa (1898-1976), chefe do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Nas regiões endêmicas do interior paulista, as ações desenvolvidas pela Comissão de Estudos da Leishmaniose, criada por convênio firmado entre o Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina de São Paulo e o Departamento de Saúde do Estado de São Paulo, prolongaram-se por dois anos e meio (1939 a 1941) até ser abruptamente interrompidas pelo governo do estado, em larga medida devido aos incômodos que causavam aos grandes proprietários rurais, especialmente aqueles que loteavam partes de suas propriedades para formar sítios ou assentamentos urbanos em áreas que eram então desmatadas. O inquérito epidemiológico liderado por Samuel Pessôa mostrou que a incidência das formas mucosas era bem mais elevada do que se imaginava. Mostrou também que a participação das mulheres entre as vítimas da leishmaniose era mascarada pelo fato de que eram em geral os homens, os provedores das famílias, que iam às cidades maiores em busca de assistência médica, e somente aí se produziam registros sobre a doença. A Comissão levou a assistência às zonas rurais e tratou de mais de nove mil pacientes com lesões cutâneas ou graves lesões mucosas. Experiências consideradas promissoras foram feitas com uma vacina preparada com culturas mortas de diferentes cepas de Leishmania braziliensis .
Das 34 espécies de flebotomíneos identificadas no estado de São Paulo, verificou a comissão que apenas três – Phlebotomus whitmani , P. pessoai e P. migonei ( Lutzomyia whitmani Antunes e Coutinho, 1939; Lutzomyia pessoai Coutinho e Barretto, 1940; e Lutzomyia migonei França, 1920) – pareciam desempenhar papel importante na transmissão da leishmaniose cutânea e mucocutânea. Constituíam essas espécies a quase totalidade da fauna flebotômica nas zonas de alta e baixa endemicidade, as quais foram delimitadas com mais precisão.
Além dos cerca de sessenta trabalhos veiculados em diferentes periódicos nacionais, Samuel Pessôa e um de seus discípulos e colaboradores, Mauro Pereira Barretto, publicaram, em 1948, Leishmaniose tegumentar americana , livro premiado que se tornou um clássico sobre o tema e que contribui decisivamente para sedimentar esse conceito de largo uso principalmente entre os especialistas latino-americanos.16 16 Sobre a trajetória profissional e o pensamento político de Samuel Pessôa, ver: Hochman (2015) e Paiva (2015) . Os estudos do parasitologista da Universidade de São Paulo sobre as leishmanioses são analisados em Benchimol, Jogas Jr. (2020).
No pós-guerra, o nacionalismo desenvolvimentista foi abraçado por muitos professores e investigadores das escolas médicas tradicionais ou daquelas que vinham sendo criadas em diversas partes do Brasil, assim como pelos sanitaristas, que encontravam promissoras perspectivas profissionais nos serviços de saúde criados após a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Mário Pinotti, o chefe do Serviço Nacional de Malária, dirigiu a equipe responsável pela formulação do programa de saúde de Juscelino Kubitschek, que se elegeu em 1956 prometendo “50 anos de progresso em 5 de governo”.17 17 A esse respeito, ver: Hochman (2009) . Previam-se melhorias nas condições de vida dos trabalhadores rurais com a erradicação ou controle de doenças endêmicas no interior do país, segundo estratégias que variavam conforme as peculiaridades biológicas e sociais de cada doença e a disponibilidade de antibiótico, inseticida, vacina ou outra técnica preventiva ou curativa. Influíam também as prioridades estabelecidas numa conjuntura em que as agências internacionais de saúde desempenhavam papel cada vez mais importante nas decisões dos governos do Brasil e de outros países.
Em contraste com o número crescente de diagnósticos da leishmaniose tegumentar, os casos in vivo de leishmaniose visceral permaneciam baixos. Desde o primeiro diagnóstico, feito em 1912, 34 casos tinham sido reconhecidos em pacientes vivos. No continente americano, tinham sido descritos 35 casos vivos apenas. As viscerotomias apontavam 314 óbitos, mais disseminados de 1934 a 1950 (Deane, Deane, 1955b) .
Mas, em 1953, irrompeu no Nordeste do Brasil uma epidemia que alterou drasticamente esse quadro. Em apenas cinco anos (1953 a 1957), o total de casos in vivo na região saltou de 34 para 1.832, a maioria (81,38%) no estado do Ceará. No continente americano subiu para 2.179 (1.840 registrados em vida e 339 post mortem ), porém mais de 98% desse total (2.145 casos) pertencia ao Nordeste do Brasil ( Deane, 1958DEANE, Leônidas de Mello. Epidemiologia e profilaxia do calazar americano. Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais , v.10, n.4, p.431-444. 1958. ).
A região vinha sofrendo uma seca devastadora, e milhares de flagelados partiam à procura de comida, teto e trabalho. Na imprensa, entre os médicos e no seio do povo fala-se muito agora em “calazar”. Investigações feitas então mostraram o que passava despercebido há muito tempo. A epidemia de 1953 mostrou que o pequeno número de diagnósticos feitos anteriormente, em vez de traduzir a raridade da doença, era consequência da falta de assistência médica à população rural e do desconhecimento dos médicos que atuavam no interior. Foi instituída a Campanha contra a Leishmaniose Visceral no Ceará, sob a direção de Joaquim Eduardo Alencar, um dos fundadores, em 1947, da Faculdade de Medicina do Ceará, onde lecionava parasitologia. Depois de visitar a região convulsionada, Samuel Pessôa enviou para lá dois de seus assistentes, Leônidas Deane (1914-1993) e sua mulher, Maria von Paumgartten Deane (1916-1995), ex-integrantes da equipe de Evandro Chagas.
Logo encontraram uma raposa ( Lycalopex vetulus ) repleta de Leishmania (Deane, Deane, 1954). Julgaram que tivessem sido os primeiros a encontrar um hospedeiro silvestre do protozoário responsável pela leishmaniose visceral, mas logo souberam que três investigadores russos tinham acabado de verificar na Ásia Central (Tajiquistão) que o chacal ( Canis aureus ) também desempenhava esse papel (Latyshev, Kryukova, Povalishina, 1951).18 18 Esse e outros artigos de investigadores soviéticos eram resumidos e/ou comentados pelo parasitologista britânico Cecil Arthur Hoare (1954) . Se esses achados corroboravam o reservatório silvestre que Evandro Chagas tanto buscara, as demais observações feitas no Nordeste do Brasil abalaram seriamente a teoria proposta por ele nos anos 1930. Tinha-se agora uma doença que independia das matas; podia ocorrer em zonas urbanas e mesmo nas zonas rurais, onde era predominante, tinha caráter “focal”. A transmissão urbana foi comprovada por indivíduos e, sobretudo, por cães que aí se infectavam.19 19 De 188 doentes que residiam na área escolhida para a investigação dos Deane, 177 se haviam infectado em zona rural (96%) e sete (4%) na cidade de Sobral. Esse número cresceria para 14 em setembro de 1955.
A distribuição dos casos rurais, majoritários, concentrava-se em áreas que o povo chamava de boqueirões e pés de serra, vales estreitos entre serras ou no sopé delas. Já no árido sertão e no alto das verdejantes serras, a frequência da infecção era baixa, e os casos, esparsos e esporádicos. A área endêmica logo foi alargada em consequência de investigações feitas por médicos do Nordeste e do Norte em vales úmidos de rios, inicialmente o do rio Jaguaribe, depois às margens do rio Piancó na Paraíba (Alencar, Holanda, Cavalcante, 1956; Alencar, 1962ALENCAR, Joaquim Eduardo de. Investigações em torno de foco de calazar na Paraíba. Revista de Malariologia e Doenças Tropicais , v.14, n.4, p.367-369. 1962. ).20 20 Sobre a campanha do gambiae , ver Anaya (2020) .
E como foi combatido o calazar? Como em outras partes do mundo, por meio da dedetização domiciliária.21 21 Um estudo foi importante para calibrar o uso do DDT no combate ao Phlebotomus longipalpis: Deane, Deane, Alencar (1955). Pelo menos até 1960, o uso do inseticida no Ceará continuou a ter caráter experimental, já que foi aplicado num grupo de 14 municípios, mas em outro não, de maneira a se avaliar a eficácia relativa das outras medidas profiláticas ( Alencar, 1961 ). Os flebótomos desapareciam das casas tratadas; nos abrigos de animais domésticos, a ação do inseticida durava menos; e, ao ar livre, era inútil. A transmissão intradomiciliária da leishmaniose visceral pôde ser reduzida pois o P. longipalpis sugava mais à noite, quando a população humana estava recolhida às casas, mas a transmissão extradomiciliária era o calcanhar de aquiles daquela estratégia profilática. Medidas antilarvárias tão importantes na febre amarela e malária não eram aplicáveis ao calazar. Larvas e pupas de P. longipalpis tinham sido encontradas na terra ao pé de árvores, não em ambientes aquáticos. Os criadouros dessa e de outras espécies de flebotomíneos eram na verdade mal conhecidos ainda.
As dedetizações eram feitas pelo Serviço Nacional de Malária, e este agia em função dos hábitos dos Anopheles , que não eram os mesmos dos Phlebotomus . “A dedetização não foi feita na medida do que era necessária” – queixou-se Alencar (1961ALENCAR, Joaquim Eduardo de. Profilaxia do calazar no Ceará. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo , v.3, n.4, p.177-178. 1961. , p.178) –, “nem também o foi na época aconselhável, aquela que antecede a queda das chuvas, após as quais a densidade de flebótomos aumenta, e com isso o contágio se intensifica”.
A campanha contra o calazar envolveu também a descoberta e eliminação dos casos caninos. Numa entrevista que nos concedeu, Filipe Dantas-Torres (29 nov. 2016), veterinário e pesquisador do Instituto Aggeu Magalhães (Fundação Oswaldo Cruz), comentou que possivelmente só Brasil e China empreenderam matança de cães em tão larga escala para o controle da leishmaniose. De fato, em sua tese de livre-docência sobre a leishmaniose canina, Alencar (1959)ALENCAR, Joaquim Eduardo de. Calazar canino: contribuição para o estudo da epidemiologia do calazar no Brasil. Tese (Livre-docência da Cadeira de Parasitologia) – Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará, Fortaleza. 1959. tomava a experiência chinesa como sua principal referência, pois lá a luta contra o calazar apoiara-se principalmente na destruição do hospedeiro intermediário da Leishmania donovani . Suas principais fontes eram Chung (1940)CHUNG, Huei-lan. On the relationship between canine and human kala-azar in Peiping and the identity of Leishmania donovani and Leishmania canis. Chinese Medical Journal , v.37, n.6, p.501-523. 1940. , que aconselhava a eliminação de todos os cães doentes, e uma comunicação sobre as realizações da nova China no tratamento e na prevenção do calazar apresentada por Lu e colaboradores (1955) num encontro científico patrocinado pela Academia de Ciências Médicas da União Soviética e o Ministério de Saúde Pública da República Soviética Socialista Uzbeque em setembro de 1954, em Tashkent.
Alencar e os médicos que trabalhavam na campanha brasileira contra o calazar não tinham dúvidas de que as condições socioeconômicas dos trabalhadores rurais no Nordeste do Brasil eram em larga medida responsáveis pela epidemia em curso. Uma declaração atribuída a Alencar (1961, p.175-176) resume bem esse ponto de vista: “A leishmaniose é uma doença de cães e daqueles que levam uma vida de cão”. Assim, a profilaxia devia incluir a melhoria das condições de vida das populações afetadas. Na prática, porém, as ações relacionadas aos hospedeiros humanos limitaram-se ao tratamento sistemático com antimoniais pentavalentes, especialmente o Glucantime (Rhône-Poulenc-Rohrer) e o Solustibosan (Bayer), que eram fornecidos gratuitamente a hospitais e postos de saúde.
Em 1958, o ministro de Saúde do governo de Juscelino Kubitschek prometia aniquilar cinco endemias: bouba, doença de Chagas, bócio, tracoma e leishmaniose.22 22 A matéria publicada no Correio da Manhã tinha um longo título: “Ministro Mário Pinotti promete ao Brasil doente dias melhores: as novas gerações não mais sofrerão de cinco terríveis flagelos – Evitar que morram 500 mil crianças por ano – Saneamento básico e assistência hospitalar – O combate à tuberculose, lepra, câncer, doenças mentais e melhoria do sanitarista – O programa do novo titular da pasta da Saúde” (Ministro..., 8 jul. 1958). Naquele mesmo ano, a 15aConferência Sanitária Pan-americana, em Porto Rico, aprovava resolução declarando livres do Aedes aegypti , vetor da febre amarela urbana, o Brasil, a zona do Canal do Panamá e outros nove países. Ainda em 1958, o Brasil engajava-se oficialmente na campanha mundial de erradicação da malária. São eventos marcantes daquela era de otimismo sanitário que, uma década depois, começaria a dar lugar às incertezas que vivemos atualmente. Ao mesmo tempo disseminavam-se pelo país as ações contra as endemias rurais. Os estudos feitos então mostram que a emigração de nordestinos aumentava a incidência das leishmanioses em outras regiões do Brasil. Aumentou o número de diagnósticos feitos tanto por médicos interioranos como das grandes cidades, para onde migravam contingentes cada vez maiores de trabalhadores rurais do Nordeste. Aumentou também a consciência de que casos isolados de leishmaniose visceral tinham de ser investigados, já que era provável sua ligação com novas áreas endêmicas.
Os inquéritos epidemiológicos foram viabilizados pela transformação nos aparatos de saúde pública em níveis federal e estadual, e pelo adensamento da malha institucional capaz de abrigar os estudos sobre as leishmanioses e outras endemias rurais. As faculdades de medicina de São Paulo e Ribeirão Preto (esta última criada também em 1947) e o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, eram os principais polos dessa rede. Dela faziam parte o Instituto de Medicina Preventiva da Universidade do Ceará, o Instituto de Belém do Pará, agora chamado Evandro Chagas, e três centros de pesquisa criados em finais dos anos 1950 por um braço importante do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), o Instituto Nacional de Endemias Rurais (INERu): o Núcleo de Pesquisas da Bahia (depois chamado Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz), o Centro de Pesquisas de Belo Horizonte (que viria a se chamar Centro de Pesquisas René Rachou) e o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, em Recife, derivado de iniciativas de Evandro Chagas. Os trabalhos realizados nessas instituições (desde os anos 1970 subordinadas à Fundação Oswaldo Cruz) tinham em mira principalmente a esquistossomíase, a doença de Chagas e a malária, mas a leishmaniose visceral ganhou importância em estudos envolvendo estreita cooperação com as universidades de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais.
Um marco na consolidação dessa rede de pesquisas foi a Jornada sobre Calazar, realizada em Salvador, em 1960 (Notas Médicas, 1 nov. 1960; 10 nov. 1960; 23 nov. 1960). Os especialistas interessados nessa endemia (mas que trabalhavam também com outras) lá se reuniram pela primeira vez. E em 12 de novembro, primeiro dia da jornada, fundaram a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (Notas Médicas, 20 nov. 1960).
Medicina tropical no contexto da Guerra Fria
A medicina tropical ganhava renovada importância também no cenário internacional, porque as doenças que eram tradicionalmente de sua alçada passaram a ser vistas como importantes obstáculos às políticas de desenvolvimento (e seus subprodutos) que tinham em mira retirar países como o Brasil de sua condição “subdesenvolvida” e, principalmente, evitar que saíssem de suas órbitas no mundo capitalista por força do potencial de rebelião popular propiciado pela conjunção entre pobreza e doenças.
Contextualizemos isso com algumas rápidas pinceladas.
Nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial, de desencadeamento da Guerra Fria, mudaram e diversificaram-se os arranjos institucionais e alinhamentos políticos que caracterizavam o campo da saúde. A conformação de uma ordem geopolítica bipolar exacerbou antagonismos e condicionou o modo como se impôs uma concepção multilateral ou global de saúde.
A abordagem bilateral adotada pelos EUA durante a Segunda Guerra Mundial por meio da política da boa vizinhança foi consolidada com a criação ou o incentivo à criação de diferentes instituições e serviços de saúde. No Brasil, merecem destaque a manutenção do Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) como órgão estratégico para os interesses norte-americanos e brasileiros nas regiões Norte e Nordeste ( Campos, 2006CAMPOS, André L.V. de. Políticas internacionais de saúde na Era Vargas: o Serviço Especial de Saúde Pública (1942-1960). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2006. ); e as iniciativas das fundações Rockefeller e Kellogg e da Organização Sanitária Pan-americana (posteriormente denominada Organização Pan-americana de Saúde, Opas) em prol da organização ou reformulação do ensino médico no Brasil e em outros países latino-americanos com base no modelo norte-americano ou flexneriano (Edler, Pires-Alves, 2018; Kemp, Edler, 2004; Cueto, 2015CUETO, Marcos. Saúde global: uma breve história. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2015. ). Esse modelo valorizava a articulação pesquisa-ensino-prática clínica e atribuía às tecnologias e práticas especializadas grande poder de “solucionar” os problemas de saúde da região. Tal crença teve seu ponto alto nas já referidas campanhas de erradicação ou controle da malária e de outras doenças com base em inseticidas, quimioterápicos e em formas de ação verticalizadas. O otimismo sanitário reinante no pós-guerra foi um fator importante de mobilização no campo médico e uma das chaves para as articulações multilaterais que levaram ao desenho da saúde internacional no período, em que sobressaem duas agências. A Organização Sanitária Pan-americana e a Organização Mundial da Saúde (OMS) desempenharam importante papel nas reflexões sobre saúde e desenvolvimento e na proposição de agendas para o enfrentamento de doenças e outros problemas sanitários em âmbito mundial ou regional. A partir de 1947, sob a liderança de Fred Lowe Soper, sanitarista de grande prestígio devido à sua atuação nas campanhas contra a febre amarela e a malária na região, a Opas deu grande importância à capacitação de recursos humanos em saúde e à proposição de estratégias para os governos dos países latino-americanos enfrentarem problemas de saúde comuns. Tal engajamento se deu, por exemplo, por intermédio da organização de conferências sanitárias pan-americanas, a começar pela de 1947, dedicada ao tema da saúde internacional e seus desafios ( Lima, 2002LIMA, Nísia Trindade. O Brasil e a Organização Pan-americana da Saúde: uma história em três dimensões. In: Finkelman, Jacobo (Org.). Caminhos da saúde no Brasil . Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. p.24-116. 2002. ; Cueto, 2015CUETO, Marcos. Saúde global: uma breve história. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2015. ).
A OMS, por sua vez, fomentou as discussões sobre saúde e desenvolvimento, principalmente durante a gestão do brasileiro Marcolino Gomes Candau, que foi eleito em 1953 seu segundo diretor-geral, sendo reeleito para quatro mandatos sucessivos, até 1973. A retirada da União Soviética e dos países a ela alinhados do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), incluída a OMS, entre 1949 e 1956, reforçou a percepção de que era esse sistema dominado pelos interesses dos EUA (Brown, Cueto, Fee, 2006). Além de articular grandes campanhas de erradicação ou controle de doenças e de planejar estratégias regionais e multilaterais de saúde, a OMS exerceu papel fundamental na reformulação do sistema de validação dos conhecimentos médicos e sanitários por meio das assembleias mundiais da saúde, de conferências internacionais e de relatórios e pareceres produzidos por especialistas recrutados por ela para opinar sobre temas específicos.
Nessa conjuntura do pós-guerra, as ideias sobre as doenças tropicais e sobre a capacidade de a medicina transformar a condição subdesenvolvida de países como o Brasil foram fortemente influenciadas por uma visão economicista do planejamento em saúde baseada nas análises de autores como Charles-Edward Amory Winslow (1955)WINSLOW, Charles Edward. Lo que cuesta la enfermedad y lo que vale la salud . Washington: Organización Mundial de la Salud; Oficina Sanitaria Panamericana. 1955. e Gunnar Myrdal (1952)MYRDAL, Gunnar. Les aspects économiques de la santé. Chronique de l’Organisation Mondiale de la Santé , v.6, n.7-8, p.224-242. 1952. acerca do círculo vicioso de pobreza e doença. Segundo esses autores, só seria possível alcançar o desenvolvimento socioeconômico combatendo-se as doenças de massa que o bloqueavam.
Em 13 de março de 1961, o presidente John F. Kennedy proferiu célebre discurso na Casa Branca, perante os embaixadores latino-americanos, lançando a Aliança para o Progresso, programa de assistência ao desenvolvimento da América Latina formalizado cinco meses depois, quando os EUA e 22 outras nações do hemisfério, entre elas o Brasil, assinaram a Carta de Punta del Este. A ideia de uma cooperação interamericana havia sido proposta em 1958 por Juscelino Kubitschek: a chamada Operação Pan-americana (OPA) baseava-se na ideia de que apenas a eliminação da miséria no continente conteria o comunismo e expandiria a democracia. A vitória da revolução socialista em Cuba, em janeiro de 1959, convenceu os formuladores da política hemisférica de Washington da necessidade de se mostrarem mais sensíveis às crescentes reivindicações de desenvolvimento econômico e progresso social levantadas na América Latina. Caducou (momentaneamente, como hoje se vê) a política tradicional baseada na suposição de que o capital privado, por si só, possibilitaria o crescimento econômico da região.
A Carta de Punta del Este reconhecia a imperiosa necessidade de transformações sociais, econômicas e políticas no continente. As metas da Aliança para o Progresso eram, a curto prazo, promover mudanças na vida diária das massas latino-americanas mal-alojadas, mal-vestidas, mal-alimentadas e analfabetas e, a mais longo prazo, reformas que assegurassem o desenvolvimento socioeconômico e a elevação do nível de vida em cada país, mediante planos nacionais de desenvolvimento, integração econômica, estabilização dos preços das matérias-primas e saneamento financeiro. Na reunião havida na cidade uruguaia, em agosto de 1961, os EUA comprometeram-se a fornecer, nos dez anos seguintes, parte substancial dos 20 bilhões de dólares que a América Latina precisaria complementar com recursos próprios.
Ao longo desse decênio, abalado por uma sucessão de golpes militares, a Aliança para o Progresso recebeu inúmeras críticas tanto de especialistas, que atacavam as deficiências de sua estrutura e a irrealidade de suas metas, como de setores liberais e de esquerda que a encaravam como instrumento dos interesses econômicos e estratégicos dos EUA (Kramer, s.d.; Aliança..., s.d.).
Em 1962, o ano da crise dos mísseis e da exacerbação da Guerra Fria, foi concluído nos EUA um estudo abrangente sobre as doenças dos trópicos e sobre os recursos lá disponíveis para sua pesquisa e seu controle.23 23 Há duas versões, uma completa ( Tropical health: a report on a Study of Needs and Resources ), com 540 páginas, outra resumida ( Tropical health: summary report on a Study of Needs and Resources ), com 121 páginas. Serão referidas aqui como NAS (1962a; 1962b). O estudo patrocinado pela National Academy of Sciences e pelo National Research Council tinha o apoio dos mais importantes órgãos de saúde dos EUA (Office of the Surgeon General, National Institutes of Health, US Public Health Service e a Rockefeller Foundation). Seu Comitê Consultor, presidido por Albert B. Sabin, era formado por um time da pesada que unia saúde, indústria e negócios. Os argumentos com que justificavam a relevância do estudo revelam claramente a preocupação com preservar uma potência com ambições imperiais dos perigos que a ameaçavam: os movimentos de descolonização, as revoluções e o comunismo.
Os trópicos abrigavam quase a metade da população mundial, centenas de milhões de pessoas a viver na pobreza, mas “cada vez menos dispostas a gastar suas curtas vidas a sonhar com as recompensas do além, desejosas de uma vida melhor aqui e agora” (NAS, 1962a, p.VII). O mundo tropical era visto assim como um barril de pólvora prestes a explodir. Os movimentos de descolonização exigiam uma redefinição no modo como a medicina tropical fora praticada até então. A relação das antigas metrópoles com suas colônias, por meio de serviços e institutos de pesquisa com interesse e jurisdição limitada aos domínios de cada metrópole, perdera a razão de ser. A nova ordem mundial, constituída sob a liderança dos EUA, exigia deste país novos papéis em escala global.
O comitê chefiado por Sabin propunha um Programa Nacional para Pesquisa em Saúde Tropical, a cargo da Academia Nacional de Ciências e do Conselho Nacional de Pesquisa, com o objetivo de articular e fortalecer os programas existentes, especialmente em campos que recebiam pouca ou nenhuma atenção, e de estimular o treinamento de pesquisadores no país e no exterior.
Os autores de Tropical health: a report on a Study of Needs and Resources polemizavam com uma corrente malthusiana que não via com bons olhos melhorias “prematuras” na saúde pública das regiões tropicais, pois isso intensificaria o já acelerado crescimento populacional para muito além do que as economias locais eram capazes de suportar. Para Sabin e seus pares, o controle das doenças de massa levaria ao aumento da proporção e produtividade de trabalhadores adultos no âmbito da população total, dando-lhes “mais força e ambição” para explorar novas terras ou recuperar aquelas abandonadas ou consideradas impenetráveis por causa de doenças (NAS, 1962a, p.IX) – justamente, observo eu, o fator mais propício à disseminação das leishmanioses e de doenças que viriam a ser chamadas de emergentes.
Leishmanioses: propostas da época
Para analisar o que havia de mais avançado no tocante às leishmanioses na época, foram consultados Leônidas Deane, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Marshall Hertig, do Gorgas Memorial Laboratory (Panamá) e Philip Edmund Clinton Manson-Bahr, médico britânico então ligado ao Departamento de Saúde de Nairóbi, Quênia.24 24 Na lista dos consultores consta também P.C. Sen Gupta, da Escola de Medicina Tropical de Calcutá, na Índia, mas o livro não traz seu parecer. A súmula dos pareceres produzida pelo relator Willard H. Wright encontra-se em NAS (1962b, p.59-60) e em NAS (1962a, p.376-377). O parecer de Leônidas M. Deane encontra-se em 1962a (p.505); o de Marshall Hertigem em 1962a (p.505-508); e o de Philip Edmund Clinton Manson-Bahr, em 1962a (p.508). Mas, antes de examinarmos seus pareceres, precisamos trazer à cena outra iniciativa: em 1960, a OMS encomendou a Percy Cyril Claude Garnham, professor da London School of Hygiene and Tropical Medicine, um estudo sobre os problemas que colocavam em escala mundial a leishmaniose, a amebíase, as tripanossomíases e a toxoplasmose, doenças às quais aquela agência dera pouca importância até então. Com relação às leishmanioses, salta aos olhos o contraste entre a fixidez do cenário epidemiológico desenhado por Adler nos anos 1930 e sua fluidez nos anos 1960.
Observações feitas na Rússia e no Irã tinham demonstrado a existência de duas formas clínicas da leishmaniose cutânea ou botão do Oriente, a seca e a úmida. Diferiam epidemiológica e sorologicamente. A forma clássica era a seca, das cidades; a úmida, mais grave, ocorria em zonas rurais, estepes e desertos (Garnham, 21 jun. 1960, p.13).25 25 Os nomes minor e major foram propostos em 1915 por uma missão organizada para estudar as doenças tropicais dos homens e dos animais no Turkmenistão, à época, província da Rússia czarista. A expedição estabeleceu que os “botões”, designados lá por nomes locais e encarados pelos médicos da região como doenças diferentes, representavam uma só entidade mórbida (Yakimoff, Schockov, 1915). Nos anos 1940, três investigadores soviéticos (Latyshev, Kryukova e Mirzoian) fundamentaram a existência das duas “raças” de Leishmania tropica a partir das diferenças clínicas e epidemiológicas das afecções que produziam e de diferenças imunobiológicas. Kryukova mostrou que os dois parasitas podiam ser diferenciados pela inoculação em gerbilos e camundongos brancos: esses animais eram refratários à L. tropica minor (tipo seco), mas a causadora do tipo úmido ( L. t. major ) produzia infecções neles. Referências a seus trabalhos podem ser encontrados na obra valiosíssima de Heyneman, Hoostraal e Djigounian (1980). Da bacia do Mediterrâneo, principalmente Itália e norte da África, o botão do Oriente tinha se expandido para regiões limítrofes. A cada ano milhares de casos ocorriam no Iraque, Irã, Líbano, Síria, Rússia meridional, Paquistão e nordeste da Índia. Segundo Garnham, uma lenta expansão através do Saara levara a leishmaniose cutânea ao Sudão, à Etiópia, África Ocidental Francesa, Nigéria e Gana. A floresta equatorial parecia bloquear o avanço para o sul, mas era indispensável saber se havia ou não perigo de difusão generalizada da doença na África (Garnham, 21 jun. 1960, p.12-13).
Na leishmaniose visceral, Garnham distinguia a forma clássica ( kala-azar ); a forma mediterrânea ou “infantil”; as formas do Sudão e da África oriental e ainda as formas ditas aberrantes. Diferiam suas características epidemiológicas, e eram ainda em larga medida desconhecidos os vetores e reservatórios do agente causal. A principal zona de incidência do calazar era o subcontinente indiano – Índia e Paquistão, este país recém-desmembrado do primeiro com o fim do império colonial britânico na região. A doença reinava em outras partes da Ásia – Butão, China, Turquestão, Rússia meridional –, no Oriente Médio, no litoral e nas ilhas do Mediterrâneo e estava se disseminando pela África: atingira o Quênia pelo Egito e Sudão, o norte da Nigéria e a África Ocidental Francesa pelo Saara. Como mostramos anteriormente, nos anos 1950 o total de casos no continente americano ascendera de 35 para 2.179. Esses números impressionam por sua rápida escalada, mas empalidecem quando comparados a dados fragmentários compilados por Garnham (1960GARNHAM, Percy Cyril Claude. Problemes que posent a l’echelle mondialle la leishmaniose, l’amibiase, la trypanosomiases et la toxoplasmose, par le Professeur P.C.C. Garnham, consultant de l’OMS. World Health Organization, MHO/PA/101.60 - D60.2161 (WHO Records and Archives, Geneva). 21 jun. 1960. , p.11): nos hospitais e dispensários de Bengala Ocidental, 38.848 casos em 1951; dez mil no Sudão em 1959. No Quênia, uma epidemia de menor proporção em 1960 causara cerca de mil óbitos. A rapidez com que a leishmaniose visceral se tornara um problema de grande magnitude no Sudão e na África oriental causara surpresa a todos e se temia que a doença viesse a se espalhar por toda a África subsaariana.
Entre os especialistas consultados para o estudo norte-americano havia consenso quanto ao fato de que o calazar recuara em consequência das aspersões de DDT feitas pelos programas de erradicação da malária. Mas temiam esses especialistas o reaparecimento dos flebotomíneos e da doença quando fossem interrompidas as aspersões. Lembremos que já fazia água a campanha internacional de erradicação da malária, em larga medida devido à resistência ao DDT apresentada pelos Anopheles . Iniciativas foram tomadas à época para avaliar a verdadeira dimensão do problema e as alternativas. Richard Fay, da Divisão de Saneamento Ambiental da OMS, pediu a Leônidas Deane que investigasse a suscetibilidade do Phlebotomus longipalpis ao DDT e ao Dieldrin. Os experimentos realizados por um técnico do Centro de Pesquisas de Belo Horizonte sob a supervisão de Leônidas Deane (19 abr. 1960) levaram à conclusão de que esses inseticidas continuavam eficazes na destruição do principal transmissor da leishmaniose visceral nas Américas, fato que “naturalmente retira do problema da medida da susceptibilidade aos inseticidas o caráter de urgência com que ele se apresenta em relação aos anofelinos” ( Falcão, 1963FALCÃO, Alberto Rocha. Susceptibilidade ao DDT e ao Dieldrin, de uma população normal de Phlebotomus longipalpis, de Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira de Malariologia e Medicina Tropical , v.15, n.3, p.411-415. 1963. , p.411).26 26 Em carta a Falcão, Deane (7 nov. 1959) enviava cópia da que escrevera a Fay, da OMS, três dias antes, sobre as provas de suscetibilidade de Phlebotomus longipalpis ao Dieldrin. O Fundo Leônidas Deane conserva apenas os resultados das experiências com o DDT.
Hertig propunha o controle sistemático da leishmaniose visceral no Velho e no Novo Mundo, mas a Manson-Bahr parecia pouco provável que o DDT viesse a afetar a incidência do calazar na África oriental. Ela havia, na verdade, aumentado no Sudão, em seguida a algumas operações para controle da malária. Para o investigador britânico, a epidemiologia do calazar lá era diferente e ainda se sabia muito pouco sobre reservatórios, vetores e outros aspectos da doença.
Trabalhos feitos no Peru mostravam que era possível obter-se boa proteção contra a uta – uma das formas da leishmaniose tegumentar americana – aplicando-se o DDT em habitações e estábulos e em superfícies próximas, como muros de pedra e troncos de árvores. No Peru, os Phlebotomus transmitiam tanto a uta como a verruga peruana (fase da doença de Carrion ou bartonelose), tendo caído a incidência de ambas. Mas o controle da leishmaniose tegumentar entre populações que viviam em zonas de florestas era um problema ainda sem solução. No Panamá se tinha verificado que, separando-se as habitações da floresta por um espaço desmatado, obtinha-se certo grau de proteção. Quando Hertig visitou a Costa Rica com o entomologista Alexander Graham Bell Fairchild, a convite do governo desse país e da International Cooperation Administration (ICA), ele sugeriu o uso experimental de DDT em florestas.27 27 A International Cooperation Administration (ICA), agência norte-americana responsável por programas de assistência externa e segurança não militar, antecessora da US Agency for International Development (Usaid), operou de 30 de junho de 1955 a 4 de setembro de 1961.
Cabe mencionar que desafio prático semelhante ocorria com a malária das florestas ou das bromélias, descrita por Adolpho Lutz (1903LUTZ, Adolpho. Waldmosquitos und Waldmalaria. Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, v.33, n.4, p.282-292. [Reeditado em: Benchimol, Jaime Larry; Sá, Magali Romero. Adolpho Lutz: obra completa, v.2, livro 1: febre amarela, malária e protozoologia. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. p.733-743. 2005]. 1903. , p.282-292) e estudada nos anos 1950, no Brasil e na África, por Deane e Garnham, tendo eles mantido estreita colaboração a esse respeito. Em 1954, essa forma de malária vitimou cerca de quatrocentas pessoas em Trinidad, maior e mais populosa das 23 ilhas que formam Trinidad e Tobago, colônia britânica que só se tornaria independente em 1962. Lá, o programa de erradicação da doença teve como alvo principal o Anopheles bellator , que se reproduz na água acumulada em bromélias. Funcionários do Departamento de Saúde de Trinidad e Tobago procuraram destruir bromélias lançando sobre elas sulfato de cobre ( Malaria..., 1954MALARIA... Malaria eradication and bromeliad control in Trinidad. Foto de Maxine Rude. Fonds Photos, WHO/5822 (WHO Records and Archives, Geneva). 1954. ). Em certas áreas florestais do Brasil, como Santa Catarina, inseticidas, larvicidas e outras substâncias químicas para a destruição de bromélias foram também aspergidas, causando graves danos ambientais só mais tarde reconhecidos ( Thiago, 2003THIAGO, Paulo de Tarso S. História da malária em Santa Catarina . Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2003. , p.43).
Segundo os especialistas consultados pelos organizadores de Tropical health: a report , permaneciam parcial ou integralmente sem solução os dois aspectos essenciais de todas as formas de leishmaniose: os reservatórios de Leishmania e os meios de transmissão das doenças que causavam no homem. Tinham-se evidências de que todas as leishmanioses eram transmitidas por Phlebotomus , mas não necessariamente só por eles. No Quênia, por exemplo, investigava-se o papel dos cupins.28 28 Garnham considerava possível a transmissão mecânica por carrapatos e moscas de estábulos; o contágio pela via digestiva ou respiratória e, mais raramente, por infecção congênita ou venérea. Para Leônidas Deane, era premente a necessidade de se determinar as espécies vetoras de Phlebotomus de cada região e de se estudar sua bionomia: domesticidade, longevidade, variação sazonal, preferências alimentares etc.
Outro problema fundamental em aberto eram os hospedeiros naturais de Leishmania , a começar pelo homem. As formas clínicas chamadas de aberrantes manifestavam-se muito tempo depois da aparente cura de casos de leishmaniose cutânea ou visceral. Portanto, era crucial saber se esses pacientes eram ou não infectantes. Os métodos diagnósticos não davam conta do problema e com frequência não eram específicos, ocorrendo reações cruzadas com doença de Chagas e outras infecções.
Os estudos sobre os reservatórios deviam ser estendidos a animais silvestres. Para o calazar, os Deane tinham incriminado as raposas selvagens, e pesquisadores soviéticos, os chacais. Ronald B. Heisch havia descoberto há pouco no Quênia Leishmania em roedores. Na região mediterrânea e na China, cães domésticos infectados eram considerados os principais reservatórios.29 29 Adler e Theodor (1957) fizeram revisão da literatura sobre o papel do cão como importante hospedeiro reservatório de Leishmania donovani em áreas de calazar no Mediterrâneo, China, Cáucaso e América do Sul; e dos chacais também. Já na Índia, por razões ainda não explicadas, os cães não eram infectados, supondo-se que lá o homem fosse o único reservatório.
Quanto à leishmaniose cutânea do Velho Mundo, tinha-se verificado que o cão era sensível à inoculação da L. tropica minor , o agente da forma clássica ou seca, das cidades, mas não interferia na transmissão da doença rural, do tipo úmido. Roedores do deserto infectados – especialmente o gerbilo ( Rhombomys opimus ) – tinham sido encontrados no Turcomenistão,30 30 Verificou-se no Turcomenistão, país da Ásia Central, que focos de infecções humanas por L. tropica estavam associados a gerbilos e esquilos terrestres silvestres infectados. O Phlebotomus caucasicus e P. papatasii , vivendo em covas dos roedores, mantinham a infecção entre eles. O P. Papatasii parecia ser o vetor do parasita do roedor para o homem (Latyschev, Kryukova, 1941; Shekhanov, Suvorova, 1960). no Irã e na Ásia central soviética. Para Garnham e os demais participantes dessa discussão, era necessário estudar melhor a leishmaniose cutânea do Velho Mundo como zoonose.
Essa questão impunha-se com mais força na leishmaniose cutânea e mucocutânea do Novo Mundo, quase sempre associada a florestas. Para muitos investigadores latino-americanos, o cão era um animal dificilmente infectável pela L. braziliensis .31 31 Resultados pouco conclusivos foram obtidos por Pedroso (1913 ; 1923) e Leônidas e Maria Deane (1955a) no Brasil; por Mazza (1926 , 1927 ) e Romaña et al. (1949) na Argentina; e por Felix Pifano (1940) na Venezuela. Mais numerosas na literatura eram as observações negativas, como as de Migone (1913) no Paraguai; Gordon e Young (1922) , no Amazonas; e Pessôa e Barretto (1948) e Forattini, Pattoli, Aun (1953) em São Paulo. Boa análise dessa literatura encontra-se em Forattini (1960b) e Pessôa (1961) . O papel do cão na leishmaniose visceral foi analisado em duas teses substanciais: Joaquim Eduardo Alencar (1959) , Calazar canino: contribuição para o estudo da epidemilogia do calazar no Brasil ; e Zigman Brener (1957) , Calazar canino em Minas Gerais . Os resultados mais promissores foram obtidos por Aristides Herrer (1948HERRER, Aristides. Nota preliminar sobre leishmaniosis natural en perros. Revista de Medicina Experimental , v.7, p.62-69. 1948. ; 1949-1951), do Instituto Nacional de Higiene e Saúde Pública de Lima. Em zona do Peru onde grassava a uta , 40% dos 469 cães examinados por ele estavam infectados.32 32 Em 1951, o médico peruano publicou quatro artigos sobre a uta: tratavam ainda dos cães procedentes de zonas endêmicas, da infecção experimental de raposas, da epidemiologia da uta e do papel dos flebótomos na transmissão dessa leishmaniose cutânea (Herrer, 1951a; 1951b; 1951c; 1951d). Quanto a animais silvestres, Émile Brumpt, desde a terceira edição, em 1922, estampava em seu Précis de parasitologie – publicado inicialmente em 1910 – a foto de uma cotia ( Dosyprocta azarae ) que vira em zona endêmica de São Paulo com úlceras idênticas às da leishmaniose, mas nas quais não conseguira encontrar parasitas. Pedro Weiss, do Instituto de Higiene y Salud Publica de Lima, examinara 750 animais em regiões do Peru onde era endêmica a espúndia, sem chegar a um resultado positivo. Pessôa e Barretto (1948)PESSÔA, Samuel Barnsley; BARRETTO, Mauro Pereira. Leishmaniose tegumentar americana . Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde/Serviço de Documentação; Imprensa Nacional. 1948. tampouco tiveram sucesso nos exames feitos em cotias, ratos do banhado, macacos, porcos-do-mato etc. Oswaldo Paulo Forattini e colaboradores, da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo, examinaram 928 espécimes de animais da floresta e obtiveram hemoculturas positivas para Leishmania somente em três: um roedor silvestre ( Kannabateomys amblyonyx amblyonyx ); uma paca ( Cuniculus paca paca ) e uma cotia ( Dasyprocta azarae ) (Forattini, 1960b).33 33 À mesma época publicavam trabalhos sobre a leishmaniose tegumentar no território do Amapá ( Forattini et al., 1959 ; Forattini, 1960c) e no sul do estado de Mato Grosso (Forattini, 1960a). No Panamá, permaneciam igualmente incertos os reservatórios silvestres de Leishmania .34 34 Os achados sobre hospedeiros silvestres no Panamá são analisados em Lainson e Shaw (1973) .
Esse problema tinha estreita relação com outro, objeto da primeira pergunta que Leônidas Deane faz em seu parecer: “Qual é a posição sistemática das diferentes Leishmania do homem?” (NAS, 1962a, p.505).
Leishmania donovani (Laveran, Mesnil, 1903), L. tropica (Wrigth, 1905) e L. braziliensis (Gaspar Vianna, 1911VIANNA, Gaspar. Sobre uma nova espécie de Leishmania (Nota preliminar). O Brasil Médico , v.25, n.41, p.411. 1911. ) designavam os parasitas da leishmaniose visceral humana e canina, do botão do Oriente e da leishmaniose tegumentar americana, respectivamente. Nomes específicos ou subespecíficos foram dados a Leishmania isoladas em certas regiões, especialmente no continente americano, fraturando nesse caso a soberania da L. braziliensis.
A essa tendência a associar manifestações singulares das leishmanioses a espécies singulares de Leishmania opunham-se os defensores da “unidade leishmanial”, para os quais haveria uma única espécie, variando seu comportamento e as síndromes clínicas que produziam conforme as condições ambientais locais e a espécie de animal ou inseto que hospedavam o parasita.
As tentativas para caracterizar espécies com base em atributos como morfologia, comportamento em culturas, infectividade para animais de laboratório, propriedades imunológicas não tinham conseguido resolver o problema. Até mesmo a localização no organismo era relativa, pois se tinha verificado o parasitismo da pele em certos casos de leishmaniose visceral. Podia ocorrer também a visceralização da L. tropica e L. braziliensis , mas apenas em animais de laboratório, argumentava Samuel Pessôa (1961PESSÔA, Samuel Barnsley. Classificação das leishmanioses e das espécies do gênero Leishmania. Arquivos de Higiene e Saúde Pública , v.26, n.87, p.41-50. 1961. , p.41), um “pluricista”. Para esse parasitologista, para os Deane, Garnham, Adler e outros, cada forma de leishmaniose tinha seu agente específico.
Em 1953, Francisco Biagi Filizola, da Universidad Nacional Autónoma de México, propôs a distinção de quatro variedades de leishmaniose tegumentar americana: forma mucocutânea das florestas úmidas tropicais (espúndia); forma cutânea seca, ou uta ; uma forma benigna chamada pian-bois ; e úlcera de los chicleros ( Biagi, 1953BIAGI, Francisco. Algunos comentários sobre las leishmaniasis y sus agentes etiológicos: Leishmania tropica mexicana, nueva subespécie. Medicina , v.33, n.683, p.401-406. 1953. ).35 35 Chefe do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da Facultad de Medicina na Unam, Biagi foi o primeiro médico mexicano a trabalhar na OMS. É autor de Enfermedades parasitarias , um clássico da parasitologia mexicana ( Bermúdez, 2013 ).
A doença mucocutânea ou espúndia, muito presente no Brasil e em outros países amazônicos, irrompia de forma epidêmica ao serem derrubadas as matas para a formação de vilas, fazendas, para a construção de estradas de ferro ou de rodagem ou quando pessoas se movimentavam pelas matas em tempos de guerra ou revolução. Nessa forma de leishmaniose, complicações nasais ocorriam em cerca de 80% dos casos, e, em cerca de 30%, havia lesões nas mucosas, com deformidades repulsivas, sendo frequente a morte por broncopneumonia séptica.
O peruano Pedro Weiss (1943)WEISS, Pedro. Epidemiologia e clínica de La leishmaniosis tegumentária en el Peru. Revista de Medicina Experimental , v.2, n.3, p.209-248. 1943. mostrou que a espúndia propagava-se nas mesmas zonas da malária, ao passo que a uta grassava nas regiões altas da cordilheira dos Andes, desprovidas de matas. Manifestava-se por lesões na pele sem acometimento metastático das mucosas. Doença rural, podia alastrar-se por zonas urbanas, afetava mais as crianças do que os adultos, e o cão era frequentemente parasitado, como na leishmaniose visceral mediterrânea ou infantil.
O pian-bois (em francês) ou bosch yaws (em holandês), forma benigna de leishmaniose cutânea, grassava no norte da América do Sul e na América Central (Guianas, Panamá, Costa Rica). Lesões ulceradas pequenas curavam-se espontaneamente e só em 5% dos casos havia invasão das mucosas. A úlcera de los chicleros do México (Yucatán) e Guatemala ou bay sore (úlcera da baía) das Honduras Britânicas só afetava as orelhas e podia desagregar progressivamente esse órgão.36 36 A epidemiologia dessa forma de leishmaniose foi estudada por Biagi e por Garnham e Lewis (1959) . A leishmaniose tegumentar difusa, muito semelhante à lepra lepromatosa, foi descrita em 1948, independentemente, por dois dermatologistas venezuelanos, Jacinto Convit, da Escola de Medicina da Universidade Central da Venezuela, e Pedro Lapenta, que viria a ser diretor do leprosário da ilha de Providencia (1949-1953); e por Luiz Prado Barrientos, catedrático de Doenças Tropicais na Universidade de San Andrés, em La Paz, Bolívia (Convit, Lapenta, 1948; Barrientos, 1948BARRIENTOS, Luiz Prado. Um caso atípico de leishmaniose cutâneo-mucosa (espúndia). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz , t.46, n.2, p.415-418. 1948. ).37 37 Convit (1958) considerou-a uma nova doença e descreveu suas características. Adaptou depois uma vacina contra a lepra para a leishmaniose. Sobre a leishmaniose difusa escreveram também os venezuelanos Medina e Romero (1959) . A leishmaniose tegumentar difusa caracterizava-se pela disseminação de lesões por todo o corpo de doentes com acentuada diminuição da resposta imunitária, sendo nula a ação dos antimoniais que tinham relativa eficácia nas outras leishmanioses.
A epidemiologia e as manifestações clínicas da leishmaniose tegumentar americana diferiam, assim, de tal maneira conforme os lugares que se era obrigado a admitir a intervenção de várias Leishmania . Biagi (1953)BIAGI, Francisco. Algunos comentários sobre las leishmaniasis y sus agentes etiológicos: Leishmania tropica mexicana, nueva subespécie. Medicina , v.33, n.683, p.401-406. 1953. relacionou a úlcera de los chicleros à subespécie L. tropica mexicana . Hervé Alexandre Floch (1954a; 1954b), do Institut Pasteur de la Guyane Française et du Territoire de l’Inini, incriminou a L. tropica guyanensis como o organismo causador do pian-bois e da uta . A espúndia seria devida à Leishmania tropica braziliensis . Em trabalho publicado em 1961, Samuel Pessôa propôs outra classificação que restaurava a soberania da Leishmania braziliensis ( Quadro 1 ).
Garnham e os especialistas de Tropical health: a report julgavam imprescindíveis estudos comparativos e assim defenderam a proposta feita por Saul Adler no sexto Congresso Internacional de Medicina Tropical e do Paludismo realizado em Lisboa, em 1958, de criação de centros de referência para manutenção de Leishmania isolados em diferentes partes do mundo.39 39 Várias cepas mantidas em culturas, hamsters e em congelamento profundo poderiam ser comparadas no tocante à morfologia – já se tinha a microscopia eletrônica! – ao comportamento imunológico e ao desenvolvimento em diferentes espécies de flebótomos e vertebrados. Para esses estudos seriam importantes tanto a sorologia específica como as reações em grupo, e a imunologia: imunidade cruzada e reação de Montenegro, testando-se a validade dessa técnica diagnóstica em outras leishmanioses além da cutânea americana. O teste de precipitação em agar poderia ser útil, e Deane fazia referência à expertise nessa técnica adquirida por Victor Nussensweig, seu colega no Departamento de Parasitologia da Universidade de São Paulo (NAS, 1962a, p.506). Em 1965, concretizou-se esse projeto que pode ser tomado como importante marco no envolvimento mais decidido da OMS com o problema das leishmanioses. Um acordo firmado por essa agência e a Hebrew University em Jerusalém deu origem ao primeiro WHO International Reference Centre for Leishmaniasis sob a direção de Adler (WHO, 1965).
Importante colaborador dele foi Marcello de Vasconcellos Coelho. Em 1961, quando esse médico paraibano assumiu a chefia do Laboratório de Leishmaniose do Centro de Pesquisas de Belo Horizonte, Adler esteve no Brasil e visitou essa instituição. Participou também do grupo de trabalho constituído por Amílcar Vianna Martins, diretor do DNERu, para analisar os problemas concernentes às leishmanioses e outras endemias rurais prevalentes no Brasil (DNERu, 1962). Marcello Coelho estagiou em seguida na Universidade Hebraica durante seis meses, com um Special Research Training Grant concedido pela OMS. Lá estudou com Adler técnicas de manutenção de amostras de Leishmania e, sobretudo, técnicas imunobiológicas usadas para decifrar a composição antigênica das várias cepas, tendo em mira a sua identificação específica.
Tanto Coelho como Adler apresentaram trabalhos no sétimo Congresso Internacional de Medicina Tropical e Malária, realizado no Rio de Janeiro, em setembro de 1963. O do professor da Hadassah Medical School, que faleceria três anos depois (26 de janeiro de 1966), tratava dos esforços para diferenciar L. braziliensis de L. mexicana e L. tropica por meio da comparação de seu comportamento em cultivos em meio semissólido feitos com soros homólogo e heterólogo ( Adler, 1963ADLER, Saul. Differentiation of Leishmania brasiliensis from L. mexicana and L. tropica. In: International Congress on Tropical Medicine and Malaria, 7., 1963, Rio de Janeiro. Proceedings... Rio de Janeiro: OMS (v.2, division A: tropical medicine: helminthic and protozoal infections). p.308-309. 1963. ).
Nas Honduras Britânicas, desde 1959, Ralph Lainson, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, e John Strangways-Dixon, entomologista da University of the West Indies, em Kingston, Jamaica, tentavam a transmissão experimental da Leishmania responsável pela úlcera de los chicleros via Phlebotomus . Várias espécies capturadas na natureza foram alimentadas em lesões em hamsters e, em seguida, realimentadas em voluntários humanos. Na segunda refeição de sangue, feita quatro dias depois do primeiro repasto em hamster infectado, o flebótomo40
40
No artigo publicado em 1963, o inseto era classificado como Phlebotomus paraensis Costa Lima, mas depois foi reclassificado como Lutzomyia pessoana . Trabalhos subsequentes realizados em Belize e na península de Yucatán indicaram que o vetor de L. mexicana era Lutzomyia olmeca .
transmitiu o parasita a um voluntário – J.S.D., justamente o companheiro de Lainson. A bem-sucedida experiência foi relatada em uma nota de pesquisa (Strangways-Dixon, Lainson, 1962). “Foi a primeira prova experimental da transmissão de uma Leishmania neotropical ao homem pela picada de um flebotomíneo” – lê-se em reportagem de Mun-Keat Looi (2011)LOOI, Mun-Keat. Life from a Wellcome Trust perspective, 75th stories: beautiful creatures: Ralph Lainson and his parasites. Wellcome Trust blog . Disponível em: <https://wellcometrust.wordpress.com/2011/06/02/75th-stories-beautiful-creatures-ralph-lainson-and-his-parasites/ralphlainson_wtvm050939/>. Acesso em: 16 nov. 2017. 2011.
https://wellcometrust.wordpress.com/2011...
e em relato de Shaw (2015SHAW, Jeffrey Jon. In memory of Ralph Lainson: a parasitologist of amazing abilities. Acta Tropica , v.150, n.2, p.224-226. 2015. , p.225). Por essa época, Garnham estava irritado com as restrições que a OMS impunha ao uso de humanos em medicina experimental, o que prejudicava seu programa de malária. “Tenho certeza de que era nisso que pensava” – escreveu Lainson (1995LAINSON, Ralph. The middle years at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. In: Baker, John R. et al. Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene , v.89, n.2, p.129-131. 1995. , p.129-130) –, “ao saber de nossa primeira transmissão experimental .... Garnham enviou a John Strangways-Dixon e a mim um telegrama curto, mas rebelde: ‘Congratulações pelo belo experimento humano que fizeram’”.
Saul Adler e especialmente P.C.C. Garnham foram personagens-chave na construção de uma nova rede internacional dedicada a esse complexo de doenças, que viria a conectar investigadores e equipes do Velho e do Novo Mundo com pouco contato entre si, com o apoio da OMS, Opas e de organizações como o Wellcome Trust. Estou estudando essa rede do ponto de vista das leishmanioses do Novo Mundo que adquiriram grande visibilidade com as pesquisas feitas por investigadores britânicos na América Central e em seguida no Brasil. Grandes empreendimentos no interior desse país após o golpe civil-militar de 1964 transformaram a leishmaniose tegumentar americana num problema seriíssimo na região amazônica ( Peixoto, 2017PEIXOTO, Cláudio de Oliveira. Leishmaniose tegumentar americana: história, políticas e redes de pesquisa no Amazonas (1970-2015). Dissertação (Mestrado em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia) – Instituto Leônidas e Maria Deane, Fiocruz, Manaus. 2017. ; Guerra et al., 2015GUERRA, Jorge Augusto de Oliveira et al. Tegumentary leishmaniasis in the State of Amazonas: what have we learned and what do we need? Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical , v.48, supl.1, p.12-19. 2015. ). Em 1965, no Instituto Evandro Chagas, Ralph Lainson e Jeffrey Shaw, discípulos de Garnham na London School of Hygiene and Tropical Medicine, fundaram a Wellcome Parasitology Unit. Lainson, Shaw e seus colaboradores no país e no exterior mostraram que as populações de parasitas, com seus respectivos vetores e hospedeiros vertebrados, era muito mais heterogênea do que se imaginava.41 41 Entre muitos trabalhos a esse respeito, ver Lainson (2010) . Philip Davis Marsden, originário também da London School of Hygiene and Tropical Medicine, começou a lecionar medicina tropical em 1967 na Universidade de Brasília e logo se tornou uma autoridade no controle das leishmanioses. Jorge Arias e Toby Vincent Barrett implantaram o Laboratório de Leishmaniose e Doença de Chagas no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) nos anos 1980.
As pesquisas sobre as leishmanioses foram dinamizadas pelo TDR, sigla do Programa Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais da OMS (WHO Special Program for Research and Training in Tropical Diseases). Concebido nos anos 1970, tinha como objetivo superar o fosso que havia entre os resultados obtidos pela ciência e o controle dessa e de outras doenças negligenciadas que acometiam populações pobres das Américas, da África e Ásia. Nos anos 1980, especialistas mobilizados pela OMS produziram inventários sobre os programas nacionais de controle das leishmanioses, em sua maioria muito precários, e começaram a publicar recomendações sobre como deveriam agir os Estados nacionais para levar a cabo o controle desse complexo de doenças em suas múltiplas frentes. Em maio de 2007, a 60aAssembleia Mundial de Saúde adotou uma resolução relativa ao controle das leishmanioses, na qual instava os Estados-membros a esforços mais consistentes para estabelecer inquéritos epidemiológicos, programas de controle, sistemas de vigilância e de obtenção e análise de dados, a busca ativa de casos e o acesso a meios de diagnóstico e tratamento. Deviam esses Estados promover com mais vigor a prevenção, que incluía maior consciência sobre as leishmanioses nas comunidades assim como a colaboração com países com os quais compartilhavam áreas endêmicas. A resolução também incitava a OMS a assumir a liderança no estabelecimento de programas efetivos de controle nas regiões afetadas ( WHO, 2007WHO. World Health Organization. Resolutions and decisions. WHA60.13: Control of leishmaniasis. Sixtieth World Health Assembly. Ninth plenary meeting: committee A, second report. Disponível em: <https://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_60.13_Eng.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 2007.
https://www.who.int/neglected_diseases/m...
). Minha intenção é analisar, em futuros trabalhos, as variáveis interfaces entre os programas de controle da OMS e da Opas e os países americanos que se viam às voltas com o recrudescimento tanto da leishmaniose visceral humana e canina como da leishmaniose tegumentar americana.
Considerações finais
Ralph Lainson faleceu em Belém, em 5 de maio de 2015. No dia 11 de agosto, Elizabeth Rangel, renomada especialista em insetos vetores de Leishmania , que, jovem ainda, estabelecera relação de trabalho com Lainson e Shaw e com Leônidas e Maria Deane, ambos já na Fundação Oswaldo Cruz, falou sobre leishmanioses e sobre esses personagens numa das palestras do terceiro Encontro Comemorativo da Semana Nacional de Controle e Combate às Leishmanioses do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz. Eu estava no auditório a tomar pé nessa área de pesquisa nova para mim. Ouvi comunicações excelentes, muito instrutivas, e saí profundamente impressionado com a quantidade de problemas e controvérsias que impregnam ainda esse “complexo” tão complexo de doenças. Não poderia haver melhor estímulo para um historiador afeito à história das ciências e da saúde.
No final do século XX, no Brasil e em outros países, todas as formas de leishmaniose que pareciam sob controle emergiram ou reemergiram em zonas rurais e urbanas devido a mudanças ambientais, migrações humanas, crescimento urbano caótico e outros processos socioeconômicos incidentes sobre largas porções dos territórios desses países.42 42 No tocante ao Pará, por exemplo, a situação da leishmaniose visceral não mudou muito nas décadas seguintes aos trabalhos realizados por Evandro Chagas e sua equipe, “porém, a partir dos anos 1980,” – lê-se em Silveira et al. (2016 , p.15) – “assumiu um perfil novo, reaparecendo com maior frequência nos focos rurais e em zonas suburbanas e urbanas de cidades de médio porte, como Santarém. ... Nas duas últimas décadas, o processo de expansão intensificou-se face aos fatores ambiental (desflorestamento), socioeconômico e a ocupação desordenada na periferia das cidades, onde a presença do vetor (Lutzomyia longipalpis) no peridomicílio humano, e do cão doméstico altamente suscetível à infecção, facilitaram sua disseminação. Hoje, a LVA [leishmaniose visceral americana] já alcança a Região Metropolitana de Belém (ilha de Cotijuba), capital do Pará”. A leishmaniose visceral adquiriu formas graves ao associar-se a infecções concomitantes, como a aids.
As leishmanioses foram então classificadas como doenças tropicais negligenciadas. Embora sejam de fato negligenciadas pelas políticas públicas e afetem populações negligenciadas, mobilizam uma das mais pujantes comunidades de pesquisa no Brasil. Isso em parte se deve ao fato de que muitas incertezas pairam ainda sobre os mecanismos de transmissão, as técnicas diagnósticas, o tratamento e a prevenção.
À mesma época, novos paradigmas mudaram a maneira de ver essas doenças tropicais, especialmente a biologia molecular, disciplina em que passaram a ser treinados contingentes cada vez mais numerosos de estudantes dos cursos de pós-graduação que se disseminavam pelo Brasil e outros países americanos. A biologia molecular teve grande impacto sobre a produção de conhecimentos a respeito de todas as formas da doença, incluindo o desenvolvimento de técnicas diagnósticas, de terapêuticos e vacinas.
A crescente especialização dos profissionais que lidam com as leishmanioses e outras doenças negligenciadas parece ter como contrapartida – com exceções, é claro –, uma inabilidade para perceber o problema holisticamente, como fazia a geração multivalente de P.C.C. Garnham, Samuel Pessôa e Leônidas Deane, bem mais sensível aos determinantes sociais e ambientais das leishmanioses e de outras doenças endêmicas. Por outro lado, mudanças consideráveis ocorreram nas normas éticas da pesquisa científica, e, assim, para as novas gerações de médicos e investigadores tornaram-se impensáveis práticas que eram corriqueiras até o pós-guerra na experimentação com humanos e animais. E isso acontece porque elas são também eventos culturais que dependem de categorias de pensamento e constructos verbais específicos a uma geração, os quais refletem a história do campo médico e da sociedade que o engloba.
AGRADECIMENTO
Este trabalho contou com financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), por meio do Programa Cientista do Nosso Estado, edital n.26/2014.
REFERENCES
- ADLER, Saul. Differentiation of Leishmania brasiliensis from L. mexicana and L. tropica. In: International Congress on Tropical Medicine and Malaria, 7., 1963, Rio de Janeiro. Proceedings... Rio de Janeiro: OMS (v.2, division A: tropical medicine: helminthic and protozoal infections). p.308-309. 1963.
- ADLER, Saul. Attempts to transmit visceral leishmaniasis to man: remarks on the histopathology of leishmaniasis. Transactions of the Royal Society of Topical Medicine and Hygiene , v.33, n.4, p.419-437. 1940a.
- ADLER, Saul. Notas sobre Leishmania chagasi. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz . v.35, n.1, p.173-175.1940b.
- ADLER, Saul; THEODOR, Oskar. Transmission of disease agents by phlebotomines and flies. Annual Review of Entomology , v.2, p.203-226. 1957.
- ADLER, Saul; THEODOR, Oskar. Further observations on the transmission of cutaneous leishmaniasis to man from Phlebotomus papatasii. Annals of Tropical Medicine and Parasitology , v.20, n.2, p.175-194. 1926.
- ADLER, Saul; THEODOR, Oskar. Letter to editor: The experimental transmission of cutaneous leishmaniasis to man from Phletotomuspapatasii. Nature , v.116, p.314-315. 1925a.
- ADLER, Saul; THEODOR, Oskar. The experimental transmission of cutaneous leishmaniasis to man from Phletotomus papatasii. Annals of Tropical Medicine and Parasitology , v.19, n.3, p.365-371. 1925b.
- ALENCAR, Joaquim Eduardo de. Investigações em torno de foco de calazar na Paraíba. Revista de Malariologia e Doenças Tropicais , v.14, n.4, p.367-369. 1962.
- ALENCAR, Joaquim Eduardo de. Profilaxia do calazar no Ceará. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo , v.3, n.4, p.177-178. 1961.
- ALENCAR, Joaquim Eduardo de. Calazar canino: contribuição para o estudo da epidemiologia do calazar no Brasil. Tese (Livre-docência da Cadeira de Parasitologia) – Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará, Fortaleza. 1959.
- ALENCAR, Joaquim Eduardo; HOLANDA, Daltro; CAVALCANTE, J.D.N. Calazar no Vale do Jaguaribe: Ceará, 1955. Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais , v.8, n.1, p.33-47. 1956.
- ALIANÇA... Aliança para o Progresso. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil/Fundação Getulio Vargas (CPDOC/FGV). Verbete sem autor. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/alianca-para-o-progresso-1> Acesso em: 24 out. 2019. s.d.
» http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/alianca-para-o-progresso-1> - ANAYA, Gabriel Lopes. O feroz mosquito africano no Brasil: o alastramento silencioso e a erradicação do Anopheles gambiae (1930-1940). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2020.
- ARAGÃO, Henrique de B.R. Leishmaniose tegumentar e sua transmissão pelos Phlebotomus. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz , v.20, n.2, p.177-186. 1927.
- ARAGÃO, Henrique de B.R. Transmissão de leishmaniose no Brasil pelo Phlebotomus intermedius. O Brasil Médico , v.36, n.1, p.129-130. 1922.
- BARRETO, Danielle C.S. Uma trajetória familiar na ciência: Evandro Chagas (1905-1940) e o estudo das endemias rurais no Brasil. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro. 2012.
- BARRIENTOS, Luiz Prado. Um caso atípico de leishmaniose cutâneo-mucosa (espúndia). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz , t.46, n.2, p.415-418. 1948.
- BENCHIMOL, Jaime Larry; JOGAS JR., Denis Guedes. Uma história das leishmanioses no Novo Mundo (fins do século XIX aos anos 1960) . Belo Horizonte: Fino Traço; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2020.
- BENCHIMOL, Jaime Larry et al. Leishmanioses: sua configuração histórica no Brasil com ênfase na doença visceral nos anos 1930 a 1960. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas , v.14, n.2, p.611-626. 2019.
- BERMÚDEZ, Kike. Dr. Francisco Biagi-Filizola . Parcialmente disponível em: <https://pt.scribd.com/document/124842282/Dr-Francisco-Biagi> Acesso em: 10 dez. 2017. 2013.
» https://pt.scribd.com/document/124842282/Dr-Francisco-Biagi> - BIAGI, Francisco. Algunos comentários sobre las leishmaniasis y sus agentes etiológicos: Leishmania tropica mexicana, nueva subespécie. Medicina , v.33, n.683, p.401-406. 1953.
- BRAHMACHARI, Upendranath. Gleanings from my research . v.1: Kala-azar, its chemotherapy. Calcutta: University of Calcutta. 1940.
- BRENER, Zigman. Calazar canino em Minas Gerais . Tese (Doutorado em Medicina) – Universidade de Minas Gerais, Belo Horizonte. 1957.
- BROWN, Theodore; CUETO, Marcos; FEE, Elizabeth. A transição da saúde pública ‘internacional’ para ‘global’ e a Organização Mundial da Saúde. História, Ciências, Saúde – Manguinhos , v.13, n.3, p.623-647. 2006.
- BRUMPT, Émile. Précis de parasitologie . Paris: Masson. 1922.
- CAMPOS, André L.V. de. Políticas internacionais de saúde na Era Vargas: o Serviço Especial de Saúde Pública (1942-1960). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2006.
- CHAGAS, Agnes Wadell. Infecção de Phlebotomus intermedius pela Leishmania chagasi. O Brasil Médico , v.53, n.1, p.1-2. 1939.
- CHAGAS, Evandro. Primeira verificação em indivíduo vivo da leishmaniose visceral no Brasil (Nota prévia). O Brasil Médico , v.11, n.50, p.221-222. 1936.
- CHAGAS, Evandro et al. Leishmaniose visceral americana (Nova entidade mórbida do homem na América do Sul): relatório dos trabalhos realizados pela Comissão Encarregada do Estudo da Leishmaniose Visceral Americana em 1936. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz , v.32, p. 321-385. 1937.
- CHUNG, Huei-lan. On the relationship between canine and human kala-azar in Peiping and the identity of Leishmania donovani and Leishmania canis. Chinese Medical Journal , v.37, n.6, p.501-523. 1940.
- CONVIT, Jacinto. Leishmaniasis tegumentaria difusa: nueva entidad clínico-patológica y parasitaria. Revista de Sanidad y Asistencia Social , v.23, n.1-2, p.1-28, fig.1-49. 1958.
- CONVIT, Jacinto; LAPENTA, Pedro. Sobre um caso de leishmaniose tegumentária de forma disseminada. Revista de La Policlinica , v.17, n.100, p.153-158. 1948.
- CUETO, Marcos. Saúde global: uma breve história. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2015.
- DANTAS-TORRES, Felipe. [Depoimento]. Entrevistador: Jaime L. Benchimol. Recife: Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz. Gravação digital (1h45min) (Departamento de Arquivo e Documentação; Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro). 29 nov. 2016.
- DEANE, Leônidas de Mello. História do Instituto Evandro Chagas: período 1936-1949. In: Instituto Evandro Chagas. Instituto Evandro Chagas: 50 anos de contribuição às ciências biológicas e à medicina tropical, v.1. Belém: Fundação Serviços de Saúde Pública. p.53-67. 1986.
- DEANE, Leônidas de Mello. Carta ao Dr. Richard Fay. Fundo Leônidas Deane, Série trajetória profissional – Docência USP, Parasitologia Médica, 1953-1964/Correspondências, 14.5 - LD/TP/19530617 (Departamento de Arquivo e Documentação, Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro). 19 abr. 1960.
- DEANE, Leônidas de Mello. Carta ao sr. Alberto Falcão. Fundo Leônidas Deane, Série trajetória profissional – Docência USP, Parasitologia Médica, 1953-1964/Correspondências, 14.5 – LD/TP/19530617 (Departamento de Arquivo e Documentação, Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro). 7 nov. 1959.
- DEANE, Leônidas de Mello. Epidemiologia e profilaxia do calazar americano. Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais , v.10, n.4, p.431-444. 1958.
- DEANE, Maria von Paumgarten; DEANE, Leônidas de Mello. Leishmaniose visceral urbana (no cão e no homem) em Sobral, Ceará. O Hospital , v.47, n.1, p.75-87. 1955a.
- DEANE, Maria von Paumgarten; DEANE, Leônidas de Mello. Observações sobre a transmissão da leishmaniose visceral no Ceará. O Hospital , v.48, n.3, p.95-114. 1955b.
- DEANE, Leônidas de Mello; DEANE, Maria von Paumgarten. Encontro de leishmanias nas vísceras e na pele de uma raposa, em zona endêmica de calazar, nos arredores de Sobral, Ceará. O Hospital , v.65, n.4, p.419-421. 1954.
- DEANE, Leônidas de Mello; DEANE, Maria von Paumgarten; ALENCAR, Joaquim E. Observações sobre o combate ao Phlebotomus longipalpis pela dedetização domiciliária, em área endêmica de calazar no Ceará. Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais , v.7, n.1, p.131-141. 1955.
- DEDET, Jean-Pierre. Les découvertes d’Edmond Sergent sur la transmission vectorielle des agents de certaines maladies infectieuses humaines et animales. Bulletin de la Societé de Pathologie Exotique , v.100, n.2, p.147-150. 2007.
- DNERu. Departamento Nacional de Endemias Rurais. Combate às endemias rurais no Brasil . (Relatórios dos Grupos de Trabalho reunidos em 1960 na cidade do Rio de Janeiro). Rio de Janeiro: Ministério da Saúde. 1962.
- DESOWITZ, Robert S. The malaria capers: tales of parasites and people. New York: W.W. Norton. 1991.
- DUTTA, Achintya Kumar. Pursuit of medical knowledge: Charles Donavan (1863-1951) on kala-azar in India. Journal of Medical Biography , v.16, p.72-76. 2016.
- DUTTA, Achintya Kumar. Kala-azar in British India. In: PATI, Biswamoy; HARRISON, Mark (Ed.). The social history of health and medicine in Colonial India . New York: Routledge. p.93-112. 2009.
- EDLER, Flavio; PIRES-ALVES, Fernando. A educação médica: do aprendiz ao especialista. In: Teixeira, Luiz Antônio; Pimenta, Tania; Hochman, Gilberto. História da saúde no Brasil . São Paulo: Hucitec. p.101-144. 2018.
- FALCÃO, Alberto Rocha. Susceptibilidade ao DDT e ao Dieldrin, de uma população normal de Phlebotomus longipalpis, de Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira de Malariologia e Medicina Tropical , v.15, n.3, p.411-415. 1963.
- FERREIRA, Leoberto de Castro et al. Notes on the transmission of visceral leishmaniasis. O Hospital , v.14, n.5, p.2-3. 1938.
- FLOCH, Hervé. Leishmania tropica guyanensis n. s.p.: agent de la leishmaniose tégumentaire des Guyanes e de l’Amérique Centrale. Archives de l’Institut Pasteur de la Guyane Française , v.15, n.328, p.1-4. 1954a.
- FLOCH, Hervé. Leishmania tropica guyanensis n. sp. : agent de la leishmaniose tégumentaire des Guyanes e de l’Amérique Centrale. Bulletin de la Societé de Pathologie Exotique , v.47, n.6, p.784-787. 1954b.
- FORATTINI, Oswaldo Paulo. Sobre a leishmaniose tegumentar na região sul do estado de Mato Grosso, Brasil. Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais , v.12, p.69-73. 1960a.
- FORATTINI, Oswaldo P. Sobre os reservatórios naturais da leishmaniose tegumentar americana. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo , v.2, n.4, p.195-203. 1960b.
- FORATTINI, Oswaldo Paulo. Notas sobre Phlebotomus do Território do Amapá, Brasil (Dyptera, Psychodidae). Studia Entomologica , v.3, n.1-4, p.467-480. 1960c.
- FORATTINI, Oswaldo Paulo; PATTOLI, Dino B.G.; AUN, José R. Algumas observações sobre o comportamento da Leishmania braziliensis em cães. Arquivos da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de S. Paulo , v.7, n.2, p.137-155. 1953.
- FORATTINI, Oswaldo Paulo et al. Leishmaniose tegumentar, no território do Amapá, Brasil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo , v.1, n.1, p.11-17. 1959.
- GARNHAM, Percy Cyril Claude. Problemes que posent a l’echelle mondialle la leishmaniose, l’amibiase, la trypanosomiases et la toxoplasmose, par le Professeur P.C.C. Garnham, consultant de l’OMS. World Health Organization, MHO/PA/101.60 - D60.2161 (WHO Records and Archives, Geneva). 21 jun. 1960.
- GARNHAM, Percy Cyril Claude; LEWIS, David J. Parasites of British Honduras with special reference to Leishmaniasis. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene , v.53, n.1, p.12-35. 1959.
- GORDON, Rupert Montgomery; YOUNG, Charles James. Parasites in dogs and cats in Amazonas. Annals of Tropical Medicine and Parasitology , v.16, n.3, p.297-300. 1922.
- GUALANDI, Frederico da Costa. Medicina tropical no Brasil: Evandro Chagas e os estudos sobre a leishmaniose visceral americana na década de 1930. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro. 2013.
- GUERRA, Jorge Augusto de Oliveira et al. Tegumentary leishmaniasis in the State of Amazonas: what have we learned and what do we need? Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical , v.48, supl.1, p.12-19. 2015.
- HERRER, Aristides. Estudios sobre leishmaniasis tegumentaria en el Peru, VI: relación entre leishmaniasis tegumentaria y Phlebotomus. Revista de Medicina Experimental , v.8, n.1-4, p.119-137. 1951a.
- HERRER, Aristides. Estudios sobre leishmaniasis tegumentária em el Peru, V: leishmaniasis natural em perros procedentes de localidades utógenas. Revista de Medicina Experimental , v.8, n.1-4, p.87-117. 1951b.
- HERRER, Aristides. Estudios sobre leishmaniasis tegumentária em el Peru, IV: observaciones epidemiológicas sobre la uta. Revista de Medicina Experimental , v.8, n.1-4, p.45-86. 1951c.
- HERRER, Aristides. Estudios sobre leishmaniasis tegumentária en el Peru, II: infección experimental de zorros com cultivos de leishmanias aisladas de casos de uta. Revista de Medicina Experimental , v.8, p.29-33. 1951d.
- HERRER, Aristides. Estudios sobre leishmaniasis tegumentaria en el Peru. Revista de Medicina Experimental , v.8, p.9-137. 1949-1951.
- HERRER, Aristides. Nota preliminar sobre leishmaniosis natural en perros. Revista de Medicina Experimental , v.7, p.62-69. 1948.
- HEYNEMAN, Donald; HOOSTRAAL, Harry; DJIGOUNIAN, Alice. Bibliography of leishmania and leishmanial diseases . Cairo: United States Naval Medical Research Unit Number Three (NAMRU-s). 2v. 1980.
- HOARE, Cecil Arthur. Summary of recent abstracts. Tropical Diseases Bulletin , v.51, n.1, p.37-40. 1954.
- HOCHMAN, Gilberto. Samuel Barnsley Pessôa e os determinantes sociais das endemias rurais. Ciência e Saúde Coletiva , v.20, n.2, p.425-431. 2015.
- HOCHMAN, Gilberto. “O Brasil não é só doença”: o programa de saúde pública de Juscelino Kubitschek. História, Ciências, Saúde – Manguinhos , v.16, supl., p.313-331. 2009.
- JOGAS JR., Denis Guedes. Leishmaniose tegumentar americana em perspectiva histórica e global (1876-1944) . Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro. 2019.
- JOGAS JR., Denis Guedes. Trópicos, ciência e leishmanioses: uma análise sobre circulação de saberes e assimetrias. História, Ciências, Saúde – Manguinhos , v.24, n.4, p.1051-1070. 2017.
- KEMP, Amy; EDLER, Flavio. A reforma médica no Brasil e nos Estados Unidos: uma comparação entre duas retóricas. História, Ciências, Saúde – Manguinhos , v.11, n.3, p.569-585. 2004.
- KILLICK-KENDRICK, Robert. The race to discover the insect vector of kala-azar: a great saga of tropical medicine 1903-1942. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique , v.106, p.131-137. 2013.
- KRAMER, Paulo. Punta del Este, Conferência de. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil/Fundação Getulio Vargas (CPDOC/FGV). Verbete. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/punta-del-este-conferencia-de Accessed 24.10.2019>. Acesso em: 10 jul. 2020. s.d.
» http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/punta-del-este-conferencia-de - LAINSON, Ralph. Espécies neotropicais de Leishmania: uma breve revisão histórica sobre sua descoberta, ecologia e taxonomia. Revista Pan-amazônica de Saúde , v.1, n.2, p.13-32. 2010.
- LAINSON, Ralph. The middle years at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. In: Baker, John R. et al. Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene , v.89, n.2, p.129-131. 1995.
- LAINSON, Ralph; SHAW, Jeffrey Jon. Leishmanias and leishmaniasis of the New World, with particular reference to Brazil. Paho Bulletin , v.7, n.4, p.1-19. 1973.
- LATYSCHEV, N.I.; KRYUKOVA, A.P. On the epidemiology of cutaneous leishmaniasis: the cutaneous leishmaniasis as a zoonotic of wild rodents in Turkmenia. Trudy Voenno Medicinskaya Akademia [Anais da Academia Médica Militar], n.25, p.229-241. 1941.
- LATYSHEV, N.I.; KRYUKOVA, A.P.; POVALISHINA, T.P. Essays on the regional parasitology of Middle Asia, I: leishmanioses in Tadjikistan: materials for the medical geography of Tadjik S.S.R. (Results of expedition in 1945-1947). Problems of Regional, General and Experimental Parasitology and Medical Zoology , v.7, p.35-62. Disponível em: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.941.8641&rep=rep1&type=pdf> Acesso em: 5 jul. 2017. 1951.
» http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.941.8641&rep=rep1&type=pdf> - LIMA, Nísia Trindade. O Brasil e a Organização Pan-americana da Saúde: uma história em três dimensões. In: Finkelman, Jacobo (Org.). Caminhos da saúde no Brasil . Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. p.24-116. 2002.
- LOOI, Mun-Keat. Life from a Wellcome Trust perspective, 75th stories: beautiful creatures: Ralph Lainson and his parasites. Wellcome Trust blog . Disponível em: <https://wellcometrust.wordpress.com/2011/06/02/75th-stories-beautiful-creatures-ralph-lainson-and-his-parasites/ralphlainson_wtvm050939/> Acesso em: 16 nov. 2017. 2011.
» https://wellcometrust.wordpress.com/2011/06/02/75th-stories-beautiful-creatures-ralph-lainson-and-his-parasites/ralphlainson_wtvm050939/> - LU, C.C. et al. New China’s achievements in the treatment and prevention of kala-azar. Chinese Medical Journal , v.73, n.2, p.91-99. 1955.
- LUTZ, Adolpho. Waldmosquitos und Waldmalaria. Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, v.33, n.4, p.282-292. [Reeditado em: Benchimol, Jaime Larry; Sá, Magali Romero. Adolpho Lutz: obra completa, v.2, livro 1: febre amarela, malária e protozoologia. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. p.733-743. 2005]. 1903.
- LUTZ, Adolpho; NEIVA, Arthur. Contribuição para o conhecimento das espécies do gênero Phlebotomus existentes no Brasil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz , v.4, n.1, p.84-95. [Republicado em Benchimol, Jaime Larry; Sá, Magali Romero (org.). Adolpho Lutz: obra completa, v.2, livro 4: entomologia. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. p.379-390. 2006]. 1912.
- MALARIA... Malaria eradication and bromeliad control in Trinidad. Foto de Maxine Rude. Fonds Photos, WHO/5822 (WHO Records and Archives, Geneva). 1954.
- MARSDEN, Philip Davis. Pentavalent antimonials: old drugs for new diseases. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical , v.18, p.187-198. 1985.
- MAZZA, Salvador. Leishmaniosis cutánea en el caballo y nueva observación de la misma en el perro. Boletin del Instituto de Clínica Quirúrgica , v.3, p.462-464. 1927.
- MAZZA, Salvador. Leishmaniosis tegumentária y visceral. Boletin del Instituto de Clínica Quirúrgica , v.2, p.209-216. 1926.
- MEDINA, Rafael; ROMERO, Jesus. Estudio clínico y parasitológico de una nueva cepa de Leishmania. Archivos Venezoelanos de Patología Tropical y Parasitología Medica , v.3, n.1, p.298-326. 1959.
- MIERES, Luis Enrique Migone. Un cas de kala-azar a Assunción (Paraguay). Bulletin de la Societé de Pathologie Exotique , v.6, n.2, p.118-120. 1913.
- MIGONE, Luis Enrique Migone. La bouba du Paraguay, leishmaniose américaine. Bulletin de la Société Pathologie Exotique , v.6, n.3, p.210-218. 1913.
- MINISTRO... Ministro Mário Pinotti promete ao Brasil doente dias melhores... Correio da Manhã , ano 58, n.20.024, Primeira Página. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/93453> Acesso em : 9 jun. 2017. 8 jul. 1958.
» http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/93453> - MYRDAL, Gunnar. Les aspects économiques de la santé. Chronique de l’Organisation Mondiale de la Santé , v.6, n.7-8, p.224-242. 1952.
- NAS. National Academy of Sciences. National Research Council. Division of Medical Sciences. Tropical health: a report on a Study of Needs and Resources. Washington: National Academy of Sciences; National Research Council. 1962a.
- NAS. National Academy of Sciences. National Research Council. Division of Medical Sciences.Tropical health: summary report on a Study of Needs and Resources.Washington: National Academy of Sciences; National Research Council. 1962b.
- NOTAS MÉDICAS. Jornada sobre o calazar em Salvador. Correio da Manhã , ano 60, n.20.756, Segundo Caderno, p.2. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/12442> Acesso em: 2 ago. 2017. 23 nov. 1960.
» http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/12442> - NOTAS MÉDICAS. Fundada a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Correio da Manhã , ano 60, n.20.754, Segundo Caderno, p.2. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/12312> Acesso em: 8 fev. 2017. 20 nov. 1960.
» http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/12312> - NOTAS MÉDICAS. Jornada sobre o calazar em Salvador. Correio da Manhã , ano 60, n.20.745, Segundo Caderno, p.2. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/11942> Acesso em: 2 ago. 2017. 10 nov. 1960.
» http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/11942> - NOTAS MÉDICAS. Jornada sobre o calazar em Salvador. Correio da Manhã , ano 60, n.20.738, Segundo Caderno, p.2. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/11645> Acesso em: 2 ago. 2017. 1 nov. 1960.
» http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/11645> - OMS. Organização Mundial de Saúde. Trabalhando para superar o impacto global de doenças tropicais negligenciadas: primeiro relatório da OMS sobre doenças tropicais negligenciadas. Genebra: World Health Organization. 2010.
- PAIVA, Carlos Henrique Assunção. Parasitologia engajada: ciência e ensino em Samuel Pessoa. In: Hochman, Gilberto; Lima, Nísia Trindade (Org.). Médicos intérpretes do Brasil . São Paulo: Hucitec. p.320-342. 2015.
- PARAENSE, Wladimir Lobato; CHAGAS, Agnes Waddel. Transmissão experimental da leishmaniose visceral americana pelo Phlebotomus intermedius: nota prévia. O Brasil Médico , v.54, n.12, p.179-180. 1940.
- PEDROSO, Alexandrino M. Infecção do cão pela Leishmania tropica. Revista de Medicina , v.4, n.24, p.42-44. 1923.
- PEDROSO, Alexandrino M. Leishmaniose local do cão. Anais Paulistas de Medicina e Cirurgia , v.1, n.2, p.33-39. 1913.
- PEIXOTO, Cláudio de Oliveira. Leishmaniose tegumentar americana: história, políticas e redes de pesquisa no Amazonas (1970-2015). Dissertação (Mestrado em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia) – Instituto Leônidas e Maria Deane, Fiocruz, Manaus. 2017.
- PENNA, Henrique A. Leishmaniose visceral no Brasil. O Brasil Médico , v.48, n.46, p.949-952. 1934.
- PESSÔA, Samuel Barnsley. Classificação das leishmanioses e das espécies do gênero Leishmania. Arquivos de Higiene e Saúde Pública , v.26, n.87, p.41-50. 1961.
- PESSÔA, Samuel Barnsley; BARRETTO, Mauro Pereira. Leishmaniose tegumentar americana . Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde/Serviço de Documentação; Imprensa Nacional. 1948.
- PIFANO, Felix. La leishmaniasis tegumentaria en el estado Yaracuy, Venezuela. Revista de la Policlínica , v.9, n.55, p.3639-3658. 1940.
- ROMAÑA, Cecílio et al. Leishmaniosis tegumentária em perros de Tucumán, II: foco domestico de leishmaniosis. Anales del Instituto de Medicina Regional , v.2, n.3, p.283-292. 1949.
- SERGENT, Edmond et al. Transmission expérimentale du bouton d’orient (clou de Biskra) à l’homme par Phlebotomus papatasi (Scopoli). Annales de l’Institut Pasteur de Paris , v.40, n.5, p.411-430.1926.
- SERGENT, Edmond et al. Transmission de clou de Biskra par le phlébotome (Phlebotomus papatasi Scop.). Comptes Rendus Hebdomanires des Séances de l’Academie des Sciences de Paris , v.173, n.21, p.1030-1032. 1921.
- SHAW, Jeffrey Jon. In memory of Ralph Lainson: a parasitologist of amazing abilities. Acta Tropica , v.150, n.2, p.224-226. 2015.
- SHEKHANOV, M.V.; SUVOROVA, L.G. Nature foci of cutaneous leishmaniasis in the southwest of Turkmenistan. (In Russian, abstract in English). Meditsiskaya Parazitologya I Parazitarnye Bolezni [Parasitologia Médica e Doenças Parasitárias], v.29, n.5, p.524-528. 1960.
- SHORTT, Henry Edward. Saul Adler 1895-1966: elected FRS 1957. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society , v.13, p.1-34. 1967.
- SILVEIRA, Fernando Tobias et al. Revendo a trajetória da leishmaniose visceral americana na Amazônia, Brasil: de Evandro Chagas aos dias atuais. Revista Pan-amazônica de Saúde , v.7, número especial, p.15-22. 2016.
- SOPER, Fred L. et al. Yellow fever without Aedes aegypti: study of a rural epidemic in the Valle do Chanaan, Espírito Santo, 1932 . American Journal of Hygiene , v.18, p.555-587. 1933.
- STRANGWAYS-DIXON, John; LAINSON, Ralph. Dermal leishmaniasis in British Honduras: transmission of L. brasiliensis by Phlebotomus especies. British Medical Journal , v.1, n.5274, p.297-299. 1962.
- SWAMINATH, C.S.; SHORTT, Henry Edward; ANDERSON, L.A.P. Transmission of Indian kala-azar to man by the bites of Phlebotomusargentipes. Indian Journal of Medical Research , v.30, n.3, p.473-477. 1942.
- TELKES, Eva. Dictionnaire biographique de la première génération de professeurs de l’Université Hébraïque de Jérusalem. Bulletin du Centre de Recherche Français à Jérusalem , v.2, p.39-51. Disponível em: <https://journals.openedition.org/bcrfj/4512> Acesso em: 23 maio 2018. 1988.
» https://journals.openedition.org/bcrfj/4512> - THÉODORIDÈS, Jean. Note historique sur la découverte de la transmission de la leishmaniose cutanée par les phlébotomes. Bulletin de la Societé de Pathologie Exotique , v.90, p.177-178. 1997.
- THIAGO, Paulo de Tarso S. História da malária em Santa Catarina . Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2003.
- VÉLEZ LÓPEZ, Lizardo R. Uta et espúndia. Bulletin de La Societé de Pathologie Éxotique , v.6, n.8, p.545. 1913.
- VIANNA, Gaspar. Parasitismo da célula muscular lisa pela Leishmania braziliensis. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz , v.6, n.1, p.39-42. 1914.
- VIANNA, Gaspar. Tratamento da leishmaniose pelo tártaro emético. Fala reproduzida na Quarta sessão ordinária da Sociedade Brasileira de Dermatologia realizada em 24 e 25 de abril de 1912, em Belo Horizonte, sob a presidência do professor Fernando Terra. Anais do VII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Arquivos Brasileiros de Medicina , v.2, n.3, p.422-436. 1912.
- VIANNA, Gaspar. Sobre uma nova espécie de Leishmania (Nota preliminar). O Brasil Médico , v.25, n.41, p.411. 1911.
- WEISS, Pedro. Epidemiologia e clínica de La leishmaniosis tegumentária en el Peru. Revista de Medicina Experimental , v.2, n.3, p.209-248. 1943.
- WHO. World Health Organization. Leishmaniasis: fact sheet. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs375/en/> Acesso em: 7 ago. 2017. 2017.
» http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs375/en/> - WHO. World Health Organization. Resolutions and decisions. WHA60.13: Control of leishmaniasis. Sixtieth World Health Assembly. Ninth plenary meeting: committee A, second report. Disponível em: <https://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_60.13_Eng.pdf> Acesso em: 26 nov. 2018. 2007.
» https://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_60.13_Eng.pdf> - WHO. World Health Organization. WHO Research Programme on Leishmaniasis. Service to research workers. WHO/LEISH/1.65 - D65-454 (WHO International Reference Centre for Leishmaniasis, Jerusalem). 1965.
- WINSLOW, Charles Edward. Lo que cuesta la enfermedad y lo que vale la salud . Washington: Organización Mundial de la Salud; Oficina Sanitaria Panamericana. 1955.
- YAKIMOFF, W.L.; SCHOCKOV, N.F. Leishmaniose cutanée (Bouton d’Orient) au Turkestan Russe. Reunion Biologique de Petrograd, séance de janvier 1915. Comptes Rendus Hebdomanaires des Séances et Mémoires de la Société de Biologie , v.67. p.107-109. 1915.
NOTAS
-
1
A esse respeito, ver Dutta (2009DUTTA, Achintya Kumar. Kala-azar in British India. In: PATI, Biswamoy; HARRISON, Mark (Ed.). The social history of health and medicine in Colonial India . New York: Routledge. p.93-112. 2009. , p.93-112; 2016, p.72-76); Jogas Jr. (2017, p.1051-1070); Benchimol, Jogas Jr. (2020).
-
2
Os trabalhos de Antonio Carini e Ulysses Paranhos, respectivamente diretor e assistente de pesquisa do Instituto Pasteur de São Paulo, e de Adolpho Carlos Lindemberg, responsável pela Seção de Dermatologia da Santa Casa de Misericórdia e pesquisador do Instituto Bacteriológico de São Paulo, são analisados em detalhes em Jogas Jr. (2017, p.1051-1070) e em Benchimol e Jogas Jr. (2020). O caso de leishmaniose visceral observado no Paraguai e dois outros diagnosticados depois na Argentina ficaram como eventos isolados, em gritante contraste com centenas de casos de leishmaniose tegumentar descritos pelos médicos latino-americanos, aventando-se a hipótese de visceralização da doença dermatológica.
-
3
Sobre os estudos de Evandro Chagas a respeito da leishmaniose visceral, ver Gualandi (2013)GUALANDI, Frederico da Costa. Medicina tropical no Brasil: Evandro Chagas e os estudos sobre a leishmaniose visceral americana na década de 1930. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro. 2013. , Deane (1986DEANE, Leônidas de Mello. História do Instituto Evandro Chagas: período 1936-1949. In: Instituto Evandro Chagas. Instituto Evandro Chagas: 50 anos de contribuição às ciências biológicas e à medicina tropical, v.1. Belém: Fundação Serviços de Saúde Pública. p.53-67. 1986. , p.53-67) e Benchimol et al. (2019BENCHIMOL, Jaime Larry et al. Leishmanioses: sua configuração histórica no Brasil com ênfase na doença visceral nos anos 1930 a 1960. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas , v.14, n.2, p.611-626. 2019. , p.611-626).
-
4
Da Comissão faziam parte três pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, Aristides Marques da Cunha, Gustavo de Oliveira Castro, Leoberto de Castro Ferreira, e o argentino Cecílio Romaña. Evandro Chagas teve apoio financeiro do Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Rockefeller e de um empresário brasileiro, Guilherme Guinle. A relação de Evandro Chagas com esses patrocinadores de suas atividades é analisada por Barreto (2012)BARRETO, Danielle C.S. Uma trajetória familiar na ciência: Evandro Chagas (1905-1940) e o estudo das endemias rurais no Brasil. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro. 2012. .
-
5
Em Belém do Pará, outros personagens foram incorporados à sua equipe: a enfermeira inglesa Agnes Stewart Waddel, que viria a se tornar sua segunda esposa; os paraenses Leônidas e Gladstone Deane, Felipe Nery-Guimarães e Maria von Paumgartten, que viria a se casar com Leônidas Deane.
-
6
O nome original – Leishmania brasilienses – foi corrigido para L. braziliensis pelo próprio Vianna em artigo publicado em 1914, mas até os anos 1960 encontra-se em muitos trabalhos científicos Leishmania brasiliensis, com “s”.
-
7
“Tratamento da leishmaniose pelo tártaro emético” foi uma comunicação apresentada numa sessão da Sociedade Brasileira de Dermatologia no âmbito do sétimo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, em Belo Horizonte, em abril de 1912 ( Vianna, 1912VIANNA, Gaspar. Tratamento da leishmaniose pelo tártaro emético. Fala reproduzida na Quarta sessão ordinária da Sociedade Brasileira de Dermatologia realizada em 24 e 25 de abril de 1912, em Belo Horizonte, sob a presidência do professor Fernando Terra. Anais do VII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Arquivos Brasileiros de Medicina , v.2, n.3, p.422-436. 1912. ). Na Índia, o tártaro emético foi substituído a partir de 1922 pela ureastibamina , antimonial pentavalente desenvolvido por Upendranath Brahmachari. Outros compostos antimoniais, como a Fuadina, seriam fabricados por empresas farmacêuticas como a Bayer. Sobre esse tema, ver, entre outros, Brahmachari (1940), Marsden (1985)MARSDEN, Philip Davis. Pentavalent antimonials: old drugs for new diseases. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical , v.18, p.187-198. 1985. e o quarto capítulo da tese de doutorado de Jogas Jr. (2019, p.145-175): “Caminhos para o tratamento: os compostos antimoniais e a terapêutica da leishmaniose tegumentar americana”.
-
8
Sobre essa questão, ver: Gualandi (2013)GUALANDI, Frederico da Costa. Medicina tropical no Brasil: Evandro Chagas e os estudos sobre a leishmaniose visceral americana na década de 1930. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro. 2013. , Barreto (2012)BARRETO, Danielle C.S. Uma trajetória familiar na ciência: Evandro Chagas (1905-1940) e o estudo das endemias rurais no Brasil. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro. 2012. e Deane (1986)DEANE, Leônidas de Mello. História do Instituto Evandro Chagas: período 1936-1949. In: Instituto Evandro Chagas. Instituto Evandro Chagas: 50 anos de contribuição às ciências biológicas e à medicina tropical, v.1. Belém: Fundação Serviços de Saúde Pública. p.53-67. 1986. .
-
9
Os casos diagnosticados por viscerotomia no Pará somaram 14 de 1932 a 1940; Evandro Chagas e sua equipe identificaram oito casos em vida.
-
10
O sangue de um cão infectado foi sugado por fêmeas de P. longipalpis , e em duas foram encontradas leishmânias idênticas às das culturas do protozoário ( Ferreira et al., 1938FERREIRA, Leoberto de Castro et al. Notes on the transmission of visceral leishmaniasis. O Hospital , v.14, n.5, p.2-3. 1938. ). O Phlebotomus intermedius também foi infectado usando-se animais com leishmânias. E foi com esse díptero que Agnes Chagas e Wladimir Lobato Paraense conseguiram o primeiro resultado positivo de transmissão da leishmaniose visceral (a um hamster) por intermédio de Phlebotomus (Paraense, Chagas, 1940; Chagas, 1939CHAGAS, Agnes Wadell. Infecção de Phlebotomus intermedius pela Leishmania chagasi. O Brasil Médico , v.53, n.1, p.1-2. 1939. ).
-
11
Adler assumiu a direção do departamento de parasitologia, mais tarde incorporado à Hadassah Medical School, inaugurada logo depois da criação do Estado de Israel, em 1948. Baseio-me principalmente em Shortt (1967)SHORTT, Henry Edward. Saul Adler 1895-1966: elected FRS 1957. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society , v.13, p.1-34. 1967. e Telkes (1988)TELKES, Eva. Dictionnaire biographique de la première génération de professeurs de l’Université Hébraïque de Jérusalem. Bulletin du Centre de Recherche Français à Jérusalem , v.2, p.39-51. Disponível em: <https://journals.openedition.org/bcrfj/4512>. Acesso em: 23 maio 2018. 1988.
https://journals.openedition.org/bcrfj/4... . -
12
Autores como Dedet (2007)DEDET, Jean-Pierre. Les découvertes d’Edmond Sergent sur la transmission vectorielle des agents de certaines maladies infectieuses humaines et animales. Bulletin de la Societé de Pathologie Exotique , v.100, n.2, p.147-150. 2007. e Théodoridès (1997)THÉODORIDÈS, Jean. Note historique sur la découverte de la transmission de la leishmaniose cutanée par les phlébotomes. Bulletin de la Societé de Pathologie Exotique , v.90, p.177-178. 1997. consideram essa a primeira prova de que flebótomos são vetores de leishmaniose. Killick-Kendrick (2013)KILLICK-KENDRICK, Robert. The race to discover the insect vector of kala-azar: a great saga of tropical medicine 1903-1942. Bulletin de la Société de Pathologie Exotique , v.106, p.131-137. 2013. privilegia a demonstração feita por Swaminath, Shortt e Anderson (1942).
-
13
Aragão publicou nota a esse respeito em 1922 e trabalho mais completo nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz em 1927. Como vimos, outra espécie descrita por Lutz e Neiva (1912)LUTZ, Adolpho; NEIVA, Arthur. Contribuição para o conhecimento das espécies do gênero Phlebotomus existentes no Brasil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz , v.4, n.1, p.84-95. [Republicado em Benchimol, Jaime Larry; Sá, Magali Romero (org.). Adolpho Lutz: obra completa, v.2, livro 4: entomologia. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. p.379-390. 2006]. 1912. – Phlebotomus longipalpis (atualmente Lutzomyia longipalpis ) – seria associada à transmissão da leishmaniose visceral por Evandro Chagas e sua equipe, em 1936-1937.
-
14
Os experimentos consistiram em triturar moscas naturalmente infectadas e em introduzir esse material na pele escarificada de voluntários humano (Adler, Theodor, 1925a; 1925b; 1926).
-
15
Adler citava Cunha e Chagas, “Estudos sobre o parasito”, parte 3 (p.329-337) do relatório produzido por Chagas et al. (1937)CHAGAS, Evandro et al. Leishmaniose visceral americana (Nova entidade mórbida do homem na América do Sul): relatório dos trabalhos realizados pela Comissão Encarregada do Estudo da Leishmaniose Visceral Americana em 1936. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz , v.32, p. 321-385. 1937. sobre os trabalhos realizados durante 1936.
-
16
Sobre a trajetória profissional e o pensamento político de Samuel Pessôa, ver: Hochman (2015)HOCHMAN, Gilberto. Samuel Barnsley Pessôa e os determinantes sociais das endemias rurais. Ciência e Saúde Coletiva , v.20, n.2, p.425-431. 2015. e Paiva (2015)PAIVA, Carlos Henrique Assunção. Parasitologia engajada: ciência e ensino em Samuel Pessoa. In: Hochman, Gilberto; Lima, Nísia Trindade (Org.). Médicos intérpretes do Brasil . São Paulo: Hucitec. p.320-342. 2015. . Os estudos do parasitologista da Universidade de São Paulo sobre as leishmanioses são analisados em Benchimol, Jogas Jr. (2020).
-
17
A esse respeito, ver: Hochman (2009)HOCHMAN, Gilberto. “O Brasil não é só doença”: o programa de saúde pública de Juscelino Kubitschek. História, Ciências, Saúde – Manguinhos , v.16, supl., p.313-331. 2009. .
-
18
Esse e outros artigos de investigadores soviéticos eram resumidos e/ou comentados pelo parasitologista britânico Cecil Arthur Hoare (1954)HOARE, Cecil Arthur. Summary of recent abstracts. Tropical Diseases Bulletin , v.51, n.1, p.37-40. 1954. .
-
19
De 188 doentes que residiam na área escolhida para a investigação dos Deane, 177 se haviam infectado em zona rural (96%) e sete (4%) na cidade de Sobral. Esse número cresceria para 14 em setembro de 1955.
-
20
Sobre a campanha do gambiae , ver Anaya (2020)ANAYA, Gabriel Lopes. O feroz mosquito africano no Brasil: o alastramento silencioso e a erradicação do Anopheles gambiae (1930-1940). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2020. .
-
21
Um estudo foi importante para calibrar o uso do DDT no combate ao Phlebotomus longipalpis: Deane, Deane, Alencar (1955). Pelo menos até 1960, o uso do inseticida no Ceará continuou a ter caráter experimental, já que foi aplicado num grupo de 14 municípios, mas em outro não, de maneira a se avaliar a eficácia relativa das outras medidas profiláticas ( Alencar, 1961ALENCAR, Joaquim Eduardo de. Profilaxia do calazar no Ceará. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo , v.3, n.4, p.177-178. 1961. ).
-
22
A matéria publicada no Correio da Manhã tinha um longo título: “Ministro Mário Pinotti promete ao Brasil doente dias melhores: as novas gerações não mais sofrerão de cinco terríveis flagelos – Evitar que morram 500 mil crianças por ano – Saneamento básico e assistência hospitalar – O combate à tuberculose, lepra, câncer, doenças mentais e melhoria do sanitarista – O programa do novo titular da pasta da Saúde” (Ministro..., 8 jul. 1958).
-
23
Há duas versões, uma completa ( Tropical health: a report on a Study of Needs and Resources ), com 540 páginas, outra resumida ( Tropical health: summary report on a Study of Needs and Resources ), com 121 páginas. Serão referidas aqui como NAS (1962a; 1962b).
-
24
Na lista dos consultores consta também P.C. Sen Gupta, da Escola de Medicina Tropical de Calcutá, na Índia, mas o livro não traz seu parecer. A súmula dos pareceres produzida pelo relator Willard H. Wright encontra-se em NAS (1962b, p.59-60) e em NAS (1962a, p.376-377). O parecer de Leônidas M. Deane encontra-se em 1962a (p.505); o de Marshall Hertigem em 1962a (p.505-508); e o de Philip Edmund Clinton Manson-Bahr, em 1962a (p.508).
-
25
Os nomes minor e major foram propostos em 1915 por uma missão organizada para estudar as doenças tropicais dos homens e dos animais no Turkmenistão, à época, província da Rússia czarista. A expedição estabeleceu que os “botões”, designados lá por nomes locais e encarados pelos médicos da região como doenças diferentes, representavam uma só entidade mórbida (Yakimoff, Schockov, 1915). Nos anos 1940, três investigadores soviéticos (Latyshev, Kryukova e Mirzoian) fundamentaram a existência das duas “raças” de Leishmania tropica a partir das diferenças clínicas e epidemiológicas das afecções que produziam e de diferenças imunobiológicas. Kryukova mostrou que os dois parasitas podiam ser diferenciados pela inoculação em gerbilos e camundongos brancos: esses animais eram refratários à L. tropica minor (tipo seco), mas a causadora do tipo úmido ( L. t. major ) produzia infecções neles. Referências a seus trabalhos podem ser encontrados na obra valiosíssima de Heyneman, Hoostraal e Djigounian (1980).
-
26
Em carta a Falcão, Deane (7 nov. 1959) enviava cópia da que escrevera a Fay, da OMS, três dias antes, sobre as provas de suscetibilidade de Phlebotomus longipalpis ao Dieldrin. O Fundo Leônidas Deane conserva apenas os resultados das experiências com o DDT.
-
27
A International Cooperation Administration (ICA), agência norte-americana responsável por programas de assistência externa e segurança não militar, antecessora da US Agency for International Development (Usaid), operou de 30 de junho de 1955 a 4 de setembro de 1961.
-
28
Garnham considerava possível a transmissão mecânica por carrapatos e moscas de estábulos; o contágio pela via digestiva ou respiratória e, mais raramente, por infecção congênita ou venérea.
-
29
Adler e Theodor (1957)ADLER, Saul; THEODOR, Oskar. Transmission of disease agents by phlebotomines and flies. Annual Review of Entomology , v.2, p.203-226. 1957. fizeram revisão da literatura sobre o papel do cão como importante hospedeiro reservatório de Leishmania donovani em áreas de calazar no Mediterrâneo, China, Cáucaso e América do Sul; e dos chacais também.
-
30
Verificou-se no Turcomenistão, país da Ásia Central, que focos de infecções humanas por L. tropica estavam associados a gerbilos e esquilos terrestres silvestres infectados. O Phlebotomus caucasicus e P. papatasii , vivendo em covas dos roedores, mantinham a infecção entre eles. O P. Papatasii parecia ser o vetor do parasita do roedor para o homem (Latyschev, Kryukova, 1941; Shekhanov, Suvorova, 1960).
-
31
Resultados pouco conclusivos foram obtidos por Pedroso (1913PEDROSO, Alexandrino M. Leishmaniose local do cão. Anais Paulistas de Medicina e Cirurgia , v.1, n.2, p.33-39. 1913. ; 1923) e Leônidas e Maria Deane (1955a) no Brasil; por Mazza (1926MAZZA, Salvador. Leishmaniosis tegumentária y visceral. Boletin del Instituto de Clínica Quirúrgica , v.2, p.209-216. 1926. , 1927MAZZA, Salvador. Leishmaniosis cutánea en el caballo y nueva observación de la misma en el perro. Boletin del Instituto de Clínica Quirúrgica , v.3, p.462-464. 1927. ) e Romaña et al. (1949)ROMAÑA, Cecílio et al. Leishmaniosis tegumentária em perros de Tucumán, II: foco domestico de leishmaniosis. Anales del Instituto de Medicina Regional , v.2, n.3, p.283-292. 1949. na Argentina; e por Felix Pifano (1940)PIFANO, Felix. La leishmaniasis tegumentaria en el estado Yaracuy, Venezuela. Revista de la Policlínica , v.9, n.55, p.3639-3658. 1940. na Venezuela. Mais numerosas na literatura eram as observações negativas, como as de Migone (1913)MIGONE, Luis Enrique Migone. La bouba du Paraguay, leishmaniose américaine. Bulletin de la Société Pathologie Exotique , v.6, n.3, p.210-218. 1913. no Paraguai; Gordon e Young (1922)GORDON, Rupert Montgomery; YOUNG, Charles James. Parasites in dogs and cats in Amazonas. Annals of Tropical Medicine and Parasitology , v.16, n.3, p.297-300. 1922. , no Amazonas; e Pessôa e Barretto (1948)PESSÔA, Samuel Barnsley; BARRETTO, Mauro Pereira. Leishmaniose tegumentar americana . Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde/Serviço de Documentação; Imprensa Nacional. 1948. e Forattini, Pattoli, Aun (1953) em São Paulo. Boa análise dessa literatura encontra-se em Forattini (1960b) e Pessôa (1961)PESSÔA, Samuel Barnsley. Classificação das leishmanioses e das espécies do gênero Leishmania. Arquivos de Higiene e Saúde Pública , v.26, n.87, p.41-50. 1961. . O papel do cão na leishmaniose visceral foi analisado em duas teses substanciais: Joaquim Eduardo Alencar (1959)ALENCAR, Joaquim Eduardo de. Calazar canino: contribuição para o estudo da epidemiologia do calazar no Brasil. Tese (Livre-docência da Cadeira de Parasitologia) – Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará, Fortaleza. 1959. , Calazar canino: contribuição para o estudo da epidemilogia do calazar no Brasil ; e Zigman Brener (1957)BRENER, Zigman. Calazar canino em Minas Gerais . Tese (Doutorado em Medicina) – Universidade de Minas Gerais, Belo Horizonte. 1957. , Calazar canino em Minas Gerais .
-
32
Em 1951, o médico peruano publicou quatro artigos sobre a uta: tratavam ainda dos cães procedentes de zonas endêmicas, da infecção experimental de raposas, da epidemiologia da uta e do papel dos flebótomos na transmissão dessa leishmaniose cutânea (Herrer, 1951a; 1951b; 1951c; 1951d).
-
33
À mesma época publicavam trabalhos sobre a leishmaniose tegumentar no território do Amapá ( Forattini et al., 1959FORATTINI, Oswaldo Paulo et al. Leishmaniose tegumentar, no território do Amapá, Brasil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo , v.1, n.1, p.11-17. 1959. ; Forattini, 1960c) e no sul do estado de Mato Grosso (Forattini, 1960a).
-
34
Os achados sobre hospedeiros silvestres no Panamá são analisados em Lainson e Shaw (1973)LAINSON, Ralph; SHAW, Jeffrey Jon. Leishmanias and leishmaniasis of the New World, with particular reference to Brazil. Paho Bulletin , v.7, n.4, p.1-19. 1973. .
-
35
Chefe do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da Facultad de Medicina na Unam, Biagi foi o primeiro médico mexicano a trabalhar na OMS. É autor de Enfermedades parasitarias , um clássico da parasitologia mexicana ( Bermúdez, 2013BERMÚDEZ, Kike. Dr. Francisco Biagi-Filizola . Parcialmente disponível em: <https://pt.scribd.com/document/124842282/Dr-Francisco-Biagi>. Acesso em: 10 dez. 2017. 2013.
https://pt.scribd.com/document/124842282... ). -
36
A epidemiologia dessa forma de leishmaniose foi estudada por Biagi e por Garnham e Lewis (1959)GARNHAM, Percy Cyril Claude; LEWIS, David J. Parasites of British Honduras with special reference to Leishmaniasis. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene , v.53, n.1, p.12-35. 1959. .
-
37
Convit (1958)CONVIT, Jacinto. Leishmaniasis tegumentaria difusa: nueva entidad clínico-patológica y parasitaria. Revista de Sanidad y Asistencia Social , v.23, n.1-2, p.1-28, fig.1-49. 1958. considerou-a uma nova doença e descreveu suas características. Adaptou depois uma vacina contra a lepra para a leishmaniose. Sobre a leishmaniose difusa escreveram também os venezuelanos Medina e Romero (1959)MEDINA, Rafael; ROMERO, Jesus. Estudio clínico y parasitológico de una nueva cepa de Leishmania. Archivos Venezoelanos de Patología Tropical y Parasitología Medica , v.3, n.1, p.298-326. 1959. .
-
38
Vélez López (1913)VÉLEZ LÓPEZ, Lizardo R. Uta et espúndia. Bulletin de La Societé de Pathologie Éxotique , v.6, n.8, p.545. 1913. é na verdade uma carta publicada no Bulletin de la Societé de Pathologie Éxotique com data de 23 de julho de 1913, que o médico enviou de Trujillo. Felix Mesnil comenta seus achados e o nome proposto para a leishmaniose peruana. “Se difere ela da L. tropica e da L. americana , é uma questão mais difícil de resolver e que requer novas pesquisas. A priori , parece provável que os nomes uta e espúndia refiram-se a uma mesma e única doença” – declarou o parasitologista francês.
-
39
Várias cepas mantidas em culturas, hamsters e em congelamento profundo poderiam ser comparadas no tocante à morfologia – já se tinha a microscopia eletrônica! – ao comportamento imunológico e ao desenvolvimento em diferentes espécies de flebótomos e vertebrados. Para esses estudos seriam importantes tanto a sorologia específica como as reações em grupo, e a imunologia: imunidade cruzada e reação de Montenegro, testando-se a validade dessa técnica diagnóstica em outras leishmanioses além da cutânea americana. O teste de precipitação em agar poderia ser útil, e Deane fazia referência à expertise nessa técnica adquirida por Victor Nussensweig, seu colega no Departamento de Parasitologia da Universidade de São Paulo (NAS, 1962a, p.506).
-
40
No artigo publicado em 1963, o inseto era classificado como Phlebotomus paraensis Costa Lima, mas depois foi reclassificado como Lutzomyia pessoana . Trabalhos subsequentes realizados em Belize e na península de Yucatán indicaram que o vetor de L. mexicana era Lutzomyia olmeca .
-
41
Entre muitos trabalhos a esse respeito, ver Lainson (2010)LAINSON, Ralph. Espécies neotropicais de Leishmania: uma breve revisão histórica sobre sua descoberta, ecologia e taxonomia. Revista Pan-amazônica de Saúde , v.1, n.2, p.13-32. 2010. .
-
42
No tocante ao Pará, por exemplo, a situação da leishmaniose visceral não mudou muito nas décadas seguintes aos trabalhos realizados por Evandro Chagas e sua equipe, “porém, a partir dos anos 1980,” – lê-se em Silveira et al. (2016SILVEIRA, Fernando Tobias et al. Revendo a trajetória da leishmaniose visceral americana na Amazônia, Brasil: de Evandro Chagas aos dias atuais. Revista Pan-amazônica de Saúde , v.7, número especial, p.15-22. 2016. , p.15) – “assumiu um perfil novo, reaparecendo com maior frequência nos focos rurais e em zonas suburbanas e urbanas de cidades de médio porte, como Santarém. ... Nas duas últimas décadas, o processo de expansão intensificou-se face aos fatores ambiental (desflorestamento), socioeconômico e a ocupação desordenada na periferia das cidades, onde a presença do vetor (Lutzomyia longipalpis) no peridomicílio humano, e do cão doméstico altamente suscetível à infecção, facilitaram sua disseminação. Hoje, a LVA [leishmaniose visceral americana] já alcança a Região Metropolitana de Belém (ilha de Cotijuba), capital do Pará”.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
25 Set 2020 -
Data do Fascículo
Set 2020
Histórico
-
Recebido
16 Mar 2020 -
Aceito
2 Abr 2020