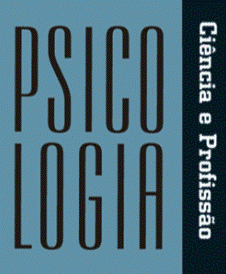Resumo
Este ensaio é fruto da experiência de trabalho desenvolvido na Associação Fluminense de Reabilitação. O trabalho no campo da reabilitação é realizado por meio de equipe multidisciplinar e baseia-se em um modelo adaptativo e normatizador. Tendo em vista que cada sujeito tem uma relação subjetiva própria com seu corpo, logo, reage e lida de maneira particular com o adoecimento, a psicanálise se insere na tentativa de conferir uma escuta e uma forma de abordar o paciente que não olha o doente, mas o sujeito, o particular. O comprometimento do corpo se apresenta como uma perda de objeto e como consequências não é difícil constatar reações psíquicas que vão do luto à depressão. Nesse sentido, a função do psicanalista neste campo acaba tendo em seu horizonte o favorecimento do processo de elaboração das perdas, além de produzir deslocamentos sobre um possível congelamento da identidade do sujeito aos significantes “doente”, “deficiente”.
Psicanálise; Reabilitação Física; Instituição; Deficiência; Luto
Abstract
This article is the result of an experience of work at Associação Fluminense de Reabilitação . The work in the field of rehabilitation is performed by a multidisciplinary team and is based on an adaptive model and normative practice. Given that each individual has a subjective relationship with his own body, and then, reacts and deals in a particular way with illness, psychoanalysis is part of the attempt to give a listening and a way to address the patient not looking at the sick person, but at the subject, the individual. The physical damage presents itself to the subject as a loss of the object and, as a result, it is not hard to see psychic reactions ranging from grief to depression. In this sense, the role of the psychoanalyst in this field ends up favoring the process of elaboration of losses, as well as producing displacements about a possible freezing and restriction of the identity of the subject to the significants: “sick” or “disabled” person.
Psychoanalysis; Physical Rehabilitation; Institution; Disabilities; Grief
Resumen
Este ensayo es fruto de la experiencia de trabajo desarrollado en la “Asociación Fluminense de Rehabilitación”. El trabajo en el campo de la rehabilitación es realizado por medio de un equipo multidisciplinario y se basa en un modelo adaptativo y normalizador. El psicoanálisis se inserta en el intento de conferir una escucha y una forma de abordar al paciente que no mira al enfermo, teniendo en vista que cada sujeto tiene una relación subjetiva propia con su cuerpo, luego, reacciona y lee de manera particular con el enfermo, el psicoanálisis se inserta en el intento de conferir una escucha y una forma de abordar al paciente que no mira al enfermo, pero el sujeto, el particular.. El compromiso del cuerpo se presenta como una pérdida de objeto y como consecuencia no es difícil constatar reacciones psíquicas que van del luto a la depresión. En este sentido, la función del psicoanalista en este campo acaba teniendo en su horizonte el favorecimiento del proceso de elaboración de las pérdidas, además de producir desplazamientos sobre un posible congelamiento de la identidad del sujeto a los significantes “enfermo”, “discapacitado”.
Psicoanálisis; Rehabilitación Física; Institución; Discapacidad; Luto
Psicanálise e Reabilitação Física
Procura-se aqui apresentar algumas considerações sobre a práxis do psicanalista numa instituição de reabilitação física, tomando como referência o trabalho desenvolvido na Associação Fluminense de Reabilitação (AFR)1. Para tanto, convém, primeiramente esclarecermos algumas particularidades dessa instituição, visto que reflete em certa medida os moldes dos mais variados centros de reabilitação.
Na AFR, o atendimento é ambulatorial, geralmente realizado por uma equipe de diferentes profissionais, seguindo, portanto, um modelo interdisciplinar. Os campos profissionais que compõe a equipe são: Fisioterapia, Terapia ocupacional, Fonoaudiologia, Assistência Social, Medicina, Pedagogia e Psicologia, entre outros. A perspectiva interdisciplinar se insere na tentativa de garantir um atendimento articulado que aborde as várias dimensões da experiência da deficiência. De um modo geral, os diagnósticos mais comuns são: acidente vascular cerebral (AVC), encefalopatia crônica da infância (ECI), amputação, traumatismos, doença de Parkinson, atrite reumatoide, esclerose múltipla e síndromes neurológicas em geral.
Não há como falar da especificidade desse campo segundo a ética da psicanálise, sem, contudo, delimitar mesmo que sucintamente as noções de deficiência e reabilitação física, bem como traçar o perfil da população que recorre a este tipo de serviço e as questões sociais que atravessam esse campo. Nesse sentido, utilizo-me do Decreto no 3.298/1999, que dispõem sobra a política nacional para integração da pessoa com deficiência, recorrendo as definições apresentadas no mesmo. Nele, a deficiência é conceituada como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano” (artigo 3), cabendo aos órgãos e as entidades da Administração Pública Federal prestar direta ou indiretamente à pessoa portadora de deficiência, entre outros serviços, a “reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da pessoa portadora de deficiência, destinada a facilitar sua atividade laboral, educativa e social” (artigo 15).
De acordo com os dados do último censo oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ( Cartilha do censo 2010, 2012Cartilha do censo 2010: pessoas com deficiência (2012). Brasília, DF: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Recuperado de https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/...
), 23,9% da população brasileira possui alguma deficiência, seja ela física, mental, auditiva ou visual. Dentro desta parcela, mais de 13 milhões apresentam alguma deficiência física, correspondendo 7,0% da população brasileira. Não quer dizer que todos os brasileiros que se incluem nesse percentual necessitem de tratamento de reabilitação, mas nos serve aqui para fazer uma aproximação da clientela da qual discutiremos.
Apesar de um número significativo da população possuir alguma deficiência e necessitar de tratamento adequado, os recursos aplicados pelo Governo a estes serviços são insuficientes e, muitas vezes, precários. O setor público tende a terceirizar esse tipo de tratamento e assim, grande parte das fundações de reabilitação, pelo menos no Rio de Janeiro, são instituições filantrópicas, que se mantém principalmente com o convênio do Sistema Único de Saúde (SUS). Insuficiente também é a discussão do trabalho do profissional “psi” neste campo de atuação, sendo justamente por isso a proposta aqui levantada de pensar sobre a articulação entre psicanálise e reabilitação física. Além disso, não podemos esquecer que o processo de inclusão escolar e inserção no mercado de trabalho dessa população ainda caminha com imensa dificuldade e lentidão. Com isso, constata-se que o Brasil não está preparado para acolher estes cidadãos de forma inclusiva, apesar de ter leis que garantem os direitos das pessoas com deficiência.
O pouco interesse efetivo dado aos assuntos relativos à deficiência não é, contudo, de responsabilidade unicamente do Estado, mas abrange uma questão para sociedade em geral no que se refere ao modo como lida com a diferença.
Muitas pessoas com deficiência continuam excluídas e marginalizadas. O próprio termo “deficiente” carrega um si um valor negativo e tende a contribuir com a discriminação. O significante “deficiente” comporta a ideia de falha, defeito, imperfeição. Assim, nomear uma pessoa de “deficiente” é restringir sua identidade à deficiência em detrimento de sua condição de sujeito. Santos (2002a)Santos, A. P. (2002a). Sujeito deficiente : A diferença indestrutível e criadora (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. destaca que a noção de deficiência vem responder a construções históricas que moldaram nossa organização social, conferindo-lhe um caráter normatizador e sem lugar para a diferença. Logo, o que não se encaixa nos moldes estabelecidos pela sociedade higienista com seus padrões de limpeza, beleza e força, encontra-se, portanto, deficiente.
Na tentativa de utilizar um nome menos pejorativo, em 1988, foi proposto o termo “Pessoa Portadora de Deficiência (PPD)”, entretanto, com o tempo também foi considerado um tanto inadequado. Pois “portador” vem de “portar” e isto dá a ideia de que a pessoa carrega algo e tão logo queira pode se desvencilhar. Na maioria das vezes, a deficiência é algo permanente, não cabendo o termo “portador”. Ninguém diz que uma pessoa é “portadora de olhos castanhos.” Além disso, para simplificar passou-se a dizer apenas “portador de deficiência”, retirando a parte considerada principal, que é “pessoa”.
A terminologia considerada atualmente “apropriada”, que passou a ser utilizada a partir de 1994 é, portanto, “pessoa com deficiência”. Esta última denominação tem se mostrado mais adequada, pois em primeiro lugar enfatiza a “pessoa” e em segundo lugar caracteriza a deficiência que ela possui (por exemplo: pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência física). Assim, não se trata negar a deficiência, de promover uma “igualdade” onde não existe, visto que para todo sujeito lidamos com a questão de uma diferença irredutível e estrutural (SANTOS, 2002a). O que se aprende com o trabalho numa instituição desse tipo, contudo, é não subestimar as possibilidades daqueles que encontram em seu próprio corpo a marca desta diferença. Possibilidades, estas, que somente cada pessoa com deficiência poderá inventar a partir de seu desejo.
Levando em consideração esta realidade específica, é que se insere os centros de reabilitação. De acordo com o Ministério da Saúde ( Brasil, 2004Brasil. (2004). Ministério da Saúde. Glossário do Ministério da Saúde: Projeto de terminologia em saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Recuperado de http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_ms.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoe...
), a reabilitação física pretende tratar ou atenuar as incapacidades causadas por doenças crónicas, sequelas neurológicas ou lesões derivadas da gestação e do parto, acidentes de trânsito e de trabalho. Nesta perspectiva, busca-se o desenvolvimento até o mais completo potencial físico, psicológico, social, profissional, compatível com o comprometimento e limitação do usuário. No já citado Decreto nº 3.298, também podemos extrair uma definição do que chamamos de reabilitação:
Considera-se reabilitação o processo de duração limitada e com objetivo definido, destinado a permitir que a pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental ou social funcional ótimo, proporcionando-lhe os meios de modificar sua própria vida, podendo compreender medidas visando a compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional e facilitar ajustes ou reajustes sociais (1999, Art. 17 §1º).
Logo, como podemos constatar, a proposta de trabalho no campo da reabilitação baseia-se em um modelo adaptativo. Santos (2002a) aponta que o discurso próprio desse campo está referenciado em alguns princípios que buscam atingir os objetivos desta terapêutica. Dentre esses princípios, temos: ajustamento às limitações; aceitação da incapacidade; aprendizagem de novos comportamentos de modo a realizar determinadas tarefas; adaptação para integrar a pessoa com deficiência à sociedade; compreensão dos seus comportamentos, buscando a previsão e o reconhecimento das dificuldades para poder eliminar atitude julgada inadequada.
Ainda, segundo Santos (2002b)Santos, A. P. (2002b). O discurso do analista no processo de reabilitação: uma proposta de trabalho. In: R. Doris, M. A. C. Jorge (Orgs.), Saber, verdade e gozo : Leituras de O Seminário, livro 17, de Jaques Lacan (pp. 165-172). Rio de Janeiro, RJ: Rios Ambiciosos. , a prática médica e assistencial dos centros de reabilitação emerge pautada em teorias que propõe a normalização dos corpos, bem como em um saber construído em torno da deficiência. Trata-se de um saber já estruturado, que não supõe um saber não sabido, na medida em que espera da pessoa com deficiência que ela “compreenda e aceite” sua limitação e adquira “comportamentos” necessários para sua integração na sociedade, sem abrir espaço para a particularidade do sujeito.
Não se trata de desconsiderar a importância do tratamento fisioterápico, fonoaudiológico, médico, pedagógico e da terapia ocupacional – papel, é claro, fundamental na área da reabilitação e altamente valorizada pelos usuários desses serviços, pois é a partir de suas técnicas que algumas funções motoras não desenvolvidas ou perdidas podem ser alcanças ainda que de forma adaptada. Pela experiência, percebemos o quão mais difícil seria a vida desses sujeitos sem um tratamento de reabilitação.
Entretanto, o ponto a destacar é como esse saber pronto no qual a reabilitação se apoia dificulta um lugar para o sujeito, pois trata da mesma forma e possui as mesmas expectativas de respostas em todos os casos. Não se leva em consideração que o sujeito não está centrado no eu, nem na vontade e no querer, e que sua particularidade reside em seu desejo, que é inconsciente.
Psicanálise e instituição
Para pensar a inserção do psicanalista na área de reabilitação, tomo mais uma vez o Decreto no 3.289/1999. Ele assinala que “Durante a reabilitação, será propiciada, se necessária, assistência em saúde mental com a finalidade de permitir que a pessoa submetida a esta prestação desenvolva ao máximo suas capacidades” (1999, Artigo 22). Ou seja, o referido decreto abre a possibilidade do campo da saúde mental, que poderia ser traduzido como: Psicologia, psiquiatria, psicanálise, se incluir na equipe de reabilitação. Constatamos, porém que o lugar dado é bem definido, como mais um normatizador que tem como função desenvolver as capacidades da pessoa com deficiência. Subvertendo esta lógica e rompendo com qualquer referência à normalidade, o trabalho visa conceder um lugar ao sujeito e a sua particularidade, no qual inclui a “loucura de cada um”, o ponto de incurável, o seu sinthoma.
Para tanto, convém postularmos de que modo a técnica psicanalítica pode vir a ser útil neste peculiar contexto. Mas o que caracteriza a técnica psicanalítica? Resumindo em uma palavra, diríamos: a ética. Miller destaca que “Na análise, [...] as questões técnicas são éticas, por um motivo muito preciso: nela, nos dirigimos ao sujeito. A categoria do sujeito não é técnica, e sim, ética” ( 1997Miller, J.-A. (1997). Lacan elucidado: Palestras no Brasil. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar. , p. 221). Ou seja, na psicanálise, lidamos com um sujeito, e como tal, é desejante e sempre responsável por sua posição no mundo, devendo, portanto, se implicar com o sofrimento do qual se queixa. É justamente este o componente ético de tal visão clínica e é sobre ele que se apoia para propor uma intervenção possível com pacientes em processo de reabilitação.
Quanto à prática psicanalítica numa instituição, Lambert (2003)Lambert, A. (outubro, 2003). Prática lacaniana em instituição. Latusa, (3). nos alerta a não “nos distrairmos e, portanto, desviarmo-nos pela antinomia psicanálise-instituição, já que isto só conduz a psicanálise e o psicanalista à exclusão. [...] a questão principal é saber se a psicanálise pode esclarecer, guiar, orientar a prática” (p. 1) numa instituição. Não podemos cair no engodo de atribuir à psicanálise um standard, segundo o qual ela só se aplicaria caso fosse seguido fielmente um modelo do que “se deve” e “não deve” fazer. Foi justamente esta a crítica de Lacan à IPA. Guiar-se unicamente por um standard impede que a psicanálise possa contribuir como dispositivo para o trabalho institucional. O que importa é como o discurso analítico pode ser útil à clínica em reabilitação.
De forma a esclarecer o papel da psicanálise inserida no processo de reabilitação, conta-se aqui com o comentário de Belaga (2003)Belaga, G. (2003). A psicanálise aplicada ao hospital. In: A. Harari, M. H. Cadernas, F. Kruger (Orgs.), Os usos da psicanálise : Primeiro encontro americano do campo freudiano (pp. 9-18). Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa. sobre o papel do psicanalista no hospital, que se mostra bastante oportuno para pensar essa forma de atuação. Diz ele: “A Instituição tem suas normas, mas devemos tentar construí-la visando a aceitar a fuga de sentido, a outorgar um lugar para a particularidade” ( Belaga, 2003Belaga, G. (2003). A psicanálise aplicada ao hospital. In: A. Harari, M. H. Cadernas, F. Kruger (Orgs.), Os usos da psicanálise : Primeiro encontro americano do campo freudiano (pp. 9-18). Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa. , p. 13). Lambert (2003)Lambert, A. (outubro, 2003). Prática lacaniana em instituição. Latusa, (3). esclarece que o problema não está nas normas, nos universais, nas leis, pois sem elas não existiria a cultura, a sociedades, nem as instituições. Porém, não podemos nos esquecer o que Freud nos ensinou a respeito do mal-estar na civilização. Este provém do resto, da diferença, defasagem entre o esperado e o encontrado, entre o universal e não coletivizável. O sujeito comparece com sua particularidade justamente no modo de lidar com esse resto.
Sendo assim, de modo mais específico, podemos dizer que uma escuta e uma forma de abordar o paciente balizada pela ética da psicanálise não olha o doente, mas o sujeito além da doença, o particular. O sujeito, enquanto ($) – sujeito dividido entre o eu e o inconsciente, sujeito que é, onde não pensa ser e não é, onde pensa ser. Olhar somente a doença faz a equipe tropeçar na medida em que notamos a tentativa de construir um saber “todo”, “completo” e “adequado” sobre o tratamento e a conduta no processo de reabilitação, justamente porque o sujeito espaça a qualquer possibilidade de enquadramento. Cada sujeito tem uma relação subjetiva própria com seu corpo, logo, reage e lida de maneira particular com o adoecimento. Além disso, não podemos deixar de levar em consideração as articulações psíquicas inconscientes, suas relações com o orgânico e o percurso histórico do sujeito que muitas vezes revelam como uma doença pode ser usada como via de resposta para situações conflitantes e traumáticas.
Fulco (2005)Fulco, A. (2005). Psicanálise e reabilitação: A questão da multidisciplinaridade na instituição. In: S. Altoé, M. M. Lima (Orgs.), Psicanálise, clínica e instituição. Rio de Janeiro, RJ: Rios Ambiciosos. comenta que a forma inédita do sujeito lidar com sua doença causa desconforto na equipe. Defrontar-se com um paciente que não apresenta os resultados esperados, que parece “não querer se curar”, que não melhora, que não toma a medicação, que não segue as orientações dadas, pode vir a ser fonte de angústia e desânimo para muitos da equipe, já que a formação profissional destes foi, na maioria das vezes, pautada unicamente no comportamento padrão da patologia. No entanto, isso não quer dizer que um saber possível não possa ser construído pelos membros da equipe para tratar determinado paciente. Um saber construído a partir do caso a caso. Não se trata de exigir uma formação psicanalítica para os profissionais de reabilitação – isso seria colocar o discurso do analista como universal – mas é somente apontar para o real, para o não sentido, que se inscreve na experiência do tratamento do paciente e que ignorar isso pode ser um grande atravancador do processo terapêutico.
Adoecimento, comprometimento físico e perda
Silvestre, em seu texto “Entre medicina e psicanálise: o desejo em questão” (1996), diz que a doença grave, principalmente aquelas com prognóstico restrito, tem sérias repercussões sobre o plano psíquico. Lembremos do que já observou Freud, no artigo “Sobre o narcisismo: uma introdução” ( 1996aFreud, S. (1996a). Sobre o narcisismo: uma introdução (1914) In: S. Freud, Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. (v. 14, Ed. standard brasileira). Rio de janeiro, RJ: Imago. (Originalmente publicada em 1917). ). Ele aponta que uma pessoa atormentada por dor ou mal-estar orgânico deixa de se interessar pelos objetos do mundo externo. O sujeito retira o interesse libidinal de seus objetos amorosos e o investe em seu próprio eu, pois “enquanto sofre, deixa de amar” ( Freud, 1996aFreud, S. (1996a). Sobre o narcisismo: uma introdução (1914) In: S. Freud, Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. (v. 14, Ed. standard brasileira). Rio de janeiro, RJ: Imago. (Originalmente publicada em 1917). , p. 98).
A doença grave pode até chegar a invadir todo o campo das representações, isto é, invadir a realidade psíquica e não deixar mais lugar para o sujeito. Esse tipo de doença pode ser tão onipresente que ela se torne para o paciente em sua própria identidade: “Sou um doente”. Uma identificação tão maciça ocupa de tal forma a vida psíquica do sujeito a ponto de mais nada existir. O sujeito encontra-se, nesse circuito, capturado pelo corpo doente, no qual se resume a um ser em sofrimento. Daí, a autora se questiona qual seria o desejo do sujeito doente. Ela, então, responde, que muitas vezes é um desejo em suspenso, um desejo preso na armadilha da doença.
No caso da grande parte dos pacientes atendidos numa instituição de reabilitação, a representação que pode igualmente invadir o campo psíquico é, não somente a de “doente”, mas também a de “deficiente”, que podem até se desdobrar para “inválido” e “inútil”. Deficiente é um significante que com frequência tais sujeitos se deparam, porém nunca será encarado por todos de maneira similar, dependendo sempre da posição subjetiva de cada um. Nesse sentido, o que podemos esperar é que cada paciente responderá ao processo de reabilitação de forma particular.
Silvestre (1996)Silvestre, D. (março, 1996). Entre médicine et psychanalyse: Lê desier en question. Quarto, (59). aponta que o comprometimento do corpo se apresenta para o sujeito como uma perda de objeto e como consequência não é difícil constatar reações psíquicas que vão do luto à depressão mais profunda. Com frequência, a autora observa três reações clínicas no sujeito doente:
-
Afeto depressivo, marcado por um sentimento de perda ou, em alguns casos, por um sentimento de abandono pelo Outro;
-
Angústia e culpa podem estar presentes, sob a manifestação de uma falta subjetiva ou até mesmo autoacusações;
-
Tentativa de sair dos estados anteriores através de um esforço de construir um sentido, suscetível de tornar lógico o mal sem sentido que se inscreveu no corpo.
De maneira particular, a maioria dos pacientes que necessitam de tratamento de reabilitação passou pela experiência da perda ao nível corporal, funcional e/ou social. Logo, a reabilitação é um procedimento terapêutico que pretende “tratar ou atenuar” as incapacidades causadas por doenças crônicas, sequelas neurológicas ou lesões derivadas da gestação e do parto, acidentes de trânsito e de trabalho. Nesse sentido, são patologias para as quais não se pode sustentar a promessa de “cura” total. Numa sequela de AVC, por exemplo, diversos fatores estão envolvidos na evolução do quadro (extensão da lesão no cérebro, idade, tempo que se leva para iniciar o tratamento, investimento do paciente), porém, nos mais bem-sucedidos dos casos, sempre haverá uma região ou uma função do corpo que não volta a ser como antes. Acredito que esta seja uma das particularidades das implicações psíquicas dos pacientes que inserem no campo da reabilitação: o confronto radical com uma perda ao nível corporal.
No que se refere à perda de uma maneira geral, o sujeito não quer perder nenhum objeto amado, pois, como aprendemos na obra freudiana, tudo aquilo que é amado, o é em função de um investimento libidinal aí depositado e desinvestir do objeto exige um trabalho psíquico extremamente doloroso. Nele, a libido dirigida ao objeto amado deve ser retirada de suas ligações com o mesmo e reinvestida em novos objetos. Sobre isso, nos escreve Freud, em seu artigo “Luto e Melancolia”: “Essa exigência provoca uma oposição compreensível – é fato notório que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição libidinal, nem mesmo, na realidade, quando um substituto já lhes acena” ( 1996bFreud, S. (1996b). Luto e melancolia. In: S. Freud, Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. (v. 14, Ed. standard brasileira). Rio de janeiro, RJ: Imago. (Originalmente publicada em 1917). , p. 250).
Ainda, segundo Freud (1996b), podemos entender que esse desinvestimento ou desligamento da libido diz respeito ao processo de luto. Este é executado pouco a pouco, com grande dispêndio de tempo e energia catexial. Nesse tempo, a existência do objeto perdido permanece “vivo” na psique. Freud (1996b) assinala que cada uma das lembranças e expectativas que se vinculam ao objeto são evocadas e hipercatexizadas durante o luto. Isto é, toda lembrança que remete ao objeto é ativada na mente e seu valor é aumentado, sendo necessário que o desligamento da libido se realize em relação a cada uma delas. No caso dos pacientes que perderam alguma função motora, é comum ouvir relatos que apontam para como eram antes da patologia, lembranças de um “corpo saudável” que o permitia ser independente, locomover-se, trabalhar, passear...
Nesse sentido, o luto pode ser compreendido nos termos freudianos como uma lentíssima redistribuição de energia psíquica que estava concentrada em uma única representação. Freud (1996b) então, caracteriza o luto, descrevendo-o como um desânimo, falta de interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar (investir em novos objetos), inibição por toda e qualquer atividade e, consequentemente, afastamento da vida normal e habitual do sujeito. Cabe aqui ressaltar que o enlutado se afasta do mundo externo, entretanto, não perde sua ligação com a realidade. Freud (1996b) complementa e diz que o luto profundo encerra um estado psíquico penoso, que aponta para uma inibição e limitação do eu – que é expressão de uma exclusiva devoção do enlutado. Tal inibição e perda de interesse pelo mundo externo são explicadas pelo trabalho do luto no qual o eu é absorvido.
Lacan, no Seminário 10 – A angústia, ao fazer referência ao luto nos resume que Freud considera esse estado como uma tarefa que consistiria em consumar pela segunda vez a perda do objeto amado, no qual o sujeito insiste em rememorar de tudo o que foi vivido da ligação com o objeto amado. Lacan acrescente que para ele o luto tem um “prisma simultaneamente idêntico e contrário” (2005, p. 363) ao que Freud propôs. O luto, em seus termos é “um trabalho feito para manter e sustentar todos esses vínculos de detalhes [com o objeto amado], na verdade, a fim de restabelecer a ligação com o verdadeiro objeto da relação, o objeto mascarado, o objeto a” ( Lacan, 2005Lacan, J. (2005). O seminário 10 : A angústia (1962-63). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar. ). O que temos, então, no luto é uma tentativa de se enlaçar novamente com o objeto causa de desejo, de modo que o sujeito possa ser relançado como desejante. Esse, então, é o trabalho que muitos dos pacientes que chegam à instituição precisam fazer na medida em que ao apresentar uma sequela motora só poderão se servir do processo de reabilitação ao passo que conseguirem restabelecer a ligação com o objeto causa de desejo, encontrando, assim, o desejo de dar seguimento a vida ainda que seja, por exemplo, numa cadeira de rodas ou sem uma das pernas.
Neste momento, poderíamos fazer a seguinte questão: o que ocorre se diante de uma perda o sujeito não realizar o trabalho de luto? Surge, então, os estados depressivos. Antes, porém de falarmos sobre a depressão, cabe alguns esclarecimentos. Bittencourt (1997)Bittencourt, M. (1997). As lágrimas de Maria. In: Kalimeros (Org.), A dor de existir e suas formas de expressão clínica : Tristeza, depressão, melancolia (pp. 285-293). Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa. argumenta que a depressão não existe enquanto uma estrutura clínica, nem sequer constitui um sintoma propriamente dito para a psicanálise.
Em Inibições, sintomas e angústia,Freud (1996c)Freud, S. (1996c). Inibição, sintoma e angústia. In: S. Freud, Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. (v. 20, Ed. standard brasileira). Rio de janeiro, RJ: Imago. (Originalmente publicada em 1926). afirma que a depressão é uma inibição generalizada. A inibição, nem sempre se constitui um estado patológico – como, por exemplo, o luto – ao contrário do sintoma. A inibição implica em uma restrição do funcionamento do eu. Neste livro, Freud nos dá vários exemplos de inibições: da função sexual, da função da nutrição, da locomoção (indisposição e fraqueza) e do trabalho intelectual. Por ser a depressão uma inibição generalizada, podemos reconhecer todas essas inibições e muitas outras nos deprimidos.
Bittencourt (1997)Bittencourt, M. (1997). As lágrimas de Maria. In: Kalimeros (Org.), A dor de existir e suas formas de expressão clínica : Tristeza, depressão, melancolia (pp. 285-293). Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa. assinala que sob a denominação depressão “estão designadas modalidades diferentes de expressão do sofrimento do sujeito” (p. 285) Além disso, é importante ressaltar que em cada sujeito e em cada tipo clínico da neurose, a depressão terá diferentes significações. No entanto, trataremos da depressão de um modo mais amplo.
Diferentemente da tendência atual, a psicanálise não usa o rótulo de depressão para as mais variadas situações psíquicas. Atualmente, a qualquer sinal de tristeza, o sujeito já se diz deprimido ou é diagnosticado com tal quadro. Jimenez (1997)Jimenez, S. (1997). Depressão e melancolia. In: Kalimeros (Org.), A dor de existir e suas formas de expressão clínica: Tristeza, depressão, melancolia (pp. 199-206). Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa. escreve que a depressão é o contrário do luto, na medida em que este é um trabalho espontâneo do simbólico. Na depressão, lidamos com um luto congelado, eternizado, pela falta de trabalho de elaboração. Ou seja, o sujeito não quer se referenciar na perda, não quer se reconhecer como um sujeito faltoso, pois isso implicaria em remetê-lo à castração.
O luto, em oposição à depressão, implica em conhecer, como assinala Freud (1996b), que o objeto amado não existe mais, cabendo ao sujeito se perguntar se deseja partilhar do mesmo destino. Se essa questão for evitada, nos escreve Jimenez (1997)Jimenez, S. (1997). Depressão e melancolia. In: Kalimeros (Org.), A dor de existir e suas formas de expressão clínica: Tristeza, depressão, melancolia (pp. 199-206). Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa. , “a tristeza se eterniza e se torna depressão” (p. 201). O luto e a depressão se caracterizam por uma profunda tristeza, pela diminuição do interesse no mundo externo e pela inibição de todas as funções do eu. Entretanto, na depressão, nos deparamos com a baixa autoestima, as autoacusações e auto-humilhações, que não se encontra no luto.
O que faz o deprimido? Ele justamente não quer saber do seu desejo, chegando ao ponto de renunciá-lo – daí a falta de disposição do sujeito em depressão. Todavia, não querer desejar, implica em ficar triste, sem apetite, sem libido, sem ânimo, em se autorrecriminar, pois o desejo é o que impulsiona a vida. Mas do que o deprimido se culpa? Ele se culpa de ter cedido ao seu desejo.
Diante disso, poderíamos nos perguntar: Qual o trabalho possível diante da depressão?
Jimenez (1997)Jimenez, S. (1997). Depressão e melancolia. In: Kalimeros (Org.), A dor de existir e suas formas de expressão clínica: Tristeza, depressão, melancolia (pp. 199-206). Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa. responde: “O Bem Dizer como lei ética do trabalho analítico pode ajudar a transformar a depressão em luto” (p. 201) “Frente a depressão nós, os psicanalistas, temos a arma mais radical: o desejo” (p. 205) É, nesse sentido, que trataremos das possibilidades da prática psicanalítica numa instituição de reabilitação.
Possibilidades de intervenção
Para iniciar essa discussão, lembremos da terceira reação clínica no sujeito doente apontada por Silvestre (1996)Silvestre, D. (março, 1996). Entre médicine et psychanalyse: Lê desier en question. Quarto, (59). , a saber: a tentativa de sair do afeto depressivo, da angústia e da culpa através de um esforço de construir um sentido, suscetível de tornar lógico o mal sem sentido que se inscreveu no corpo. A psicanalista afirma que é justamente esta posição que garante a possibilidade dar-se início um trabalho analítico, visto que procurar sentido abre o caminho para uma interrogação, para um desejo de saber e para uma suposição de saber. Todavia, antes mesmo que essa reação ocorra, frente ao estado de entristecimento e recolhimento do sujeito em torno de si, o psicanalista, durante a avaliação em equipe, oferta uma escuta onde uma demanda ainda não se construiu, cabendo ao paciente aceitar ou não.
Contudo, para que um trabalho analítico seja possível é necessário que ao longo dos atendimentos, o paciente possa fazer uma demanda de tratamento em seu próprio nome. Não podemos ignorar as implicações de estarmos inseridos numa instituição, de modo que não podemos confundir nossa atuação com a clínica tradicional. Não se trata de propor fazer uma análise propriamente dita com esses pacientes, ainda que o tratamento seja realizado nos moldes de atendimento individual e semanal. Propõe-se, assim, realizar um “trabalho analítico”, já que isso implica em oferecer uma escuta tributária do saber psicanalítico e que leva em consideração suas ferramentas teóricas.
O dano anatômico, fisiológico e neurológico é uma realidade numa instituição de reabilitação e isso têm suas consequências para o trabalho que desenvolvemos. Todavia, isso não implica em desconsiderar a necessidade de que durante os atendimentos o sujeito possa se interrogar sobre seu sofrimento. Podemos apontar que o trabalho analítico com o paciente pressupõe que o sujeito formule uma questão que vá além de sua doença. Isso implica em um esboço de subjetivação a respeito da enfermidade que lhe acomete. Silvestre (1996)Silvestre, D. (março, 1996). Entre médicine et psychanalyse: Lê desier en question. Quarto, (59). diz que para que um trabalho analítico seja possível: “É preciso que para além desse real dos fatos, da doença e do sofrimento do corpo, o sujeito seja chamado a se interrogar” (p. 8). Ou seja, é preciso que o paciente fale dele mais como sujeito do que como doente, sendo, portanto, relançado como desejante, evitando que se coloque e seja visto apenas como objeto de cuidados.
Sobre o tratamento oferecido, este não tem função normativa junto aos pacientes da instituição, a fim de contribuir para que eles sejam de fato “pacientes”, não incomodando os outros profissionais e cumprindo as orientações estabelecidas. Muito menos, a intervenção privilegia o apagamento do sofrimento do sujeito, nem busca confortar ou aconselhar. O que é essencial em nesse trabalho é possibilitar ao sujeito que habita tais pacientes arcar com a marca da presença de seu desejo, emergindo, por acréscimo, um sujeito de fato responsável em seu processo de reabilitação.
No que se refere especificamente ao tratamento das questões psíquicas que emergem no contexto da reabilitação, a dimensão da perda na maioria das vezes entra em jogo na experiência dos pacientes. Algumas pessoas conseguem realizar o luto sozinhas, outras não e é, nesse sentido, o trabalho analítico pode ser um facilitador deste processo. Um luto que deve ser feito diante de uma perda funcional de uma perna e/ou um braço; de uma perda da capacidade da linguagem oral e escrita, uma perda do domínio do movimento do corpo, da força dos membros... enfim, inúmeras são as perdas corporais que se impõe. Porém, não podemos esquecer-nos de outras limitações que se colocam como consequências destas, como a perda da capacidade do exercício profissional, perda da independência nas Atividades de Vida Diária (AVDs), restrições no convício social em função de limitação na locomoção, perdas subjetivas. Aqui, lembro-me de um paciente que sua maior queixa era que, após sofrido um AVC e ter ficado hemiplégico, não podia mais pegar sua filha de dois anos no colo, nem correr atrás dela quando ela fugia por ter feito alguma desobediência, e como que isso o afetou em seu lugar de pai.
Realizar o luto é de fundamental importância para esses pacientes, pois é a partir desse processo que a dimensão da reabilitação pode ganhar maior alcance. Sem o luto, o que paciente ganha em termos físicos pode ficar inoperante, não conseguindo fazer uso de suas novas habilidades. Sem a dimensão desejante, consequentemente, o paciente não tem mais interesse de encontrar (ainda que com as limitações) outras possibilidades de viver a vida, de caminhar, de se relacionar, de estar no mundo... Possibilidades que só o paciente pode inventar a partir dessa marca que se inscreveu em seu corpo.
É interessante constatar como essa necessidade de trabalho de luto entra em jogo inclusive no final do tratamento de reabilitação. A alta neste contexto institucional é determinada quando o paciente se encontra estável dentro do seu quadro clínico, não apresentando mais evolução com o tratamento – o que indica que as dificuldades e limitações que ainda restam são sequelas permanentes da patologia. Ou seja, ao final do tratamento, o sujeito é levado a mais uma vez se confrontar de maneira radical com as limitações e perdas acarretadas por seu adoecimento. Em nossa prática, observamos o quanto a alta pode ser um momento doloroso e difícil para o paciente em função disso, seja porque um resto desse processo de elaboração da perda ressurge, convocando o sujeito a mais trabalho, ou porque o processo de luto ainda nem se deu de forma consistente ou encontra-se congelado.
Preocupados com a saída dos pacientes da instituição e com o desfecho do processo de reabilitação, foi elaborado na AFR, o Programa Reintegrar – um trabalho de atendimento grupal e interdisciplinar, formado por: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo/ psicanalista, terapeuta ocupacional e assistente social, com a finalidade (durante o tempo aproximadamente de três meses): “aprimorar a porta de saída dos pacientes; incentivar a expansão dos laços sociais fora da instituição; permitir a compreensão eficaz e efetiva das orientações para o pós-alta; promover, quando possível, o retorno a atividades laborativas e instituir a construção do rito de despedida”2.
Foi nesse contexto também que a intervenção do psicanalista se fez presente. Constatou-se, assim, que a dificuldade em “aceitação da alta” que muitos pacientes apresentavam não se dissolvia ao nível da informação, com explicações sobre o motivo da conclusão do tratamento ou mostrando ao paciente a gama de possibilidades que ainda lhe restavam, visando sua reinserção social. Ao se oferecer uma escuta foi possível de fato verificar o que estava em questão nesse momento.
De modo geral, três dificuldades se mostravam mais evidentes. Muitos falam sobre algo que apontava para transferência do sujeito com a instituição e com os profissionais, além do vínculo de amizades estabelecido com outros pacientes. Não podemos, contudo, deixar fazer uma certa leitura desse fato ao nível da função da identificação. Se no contexto social, a marca em seus corpos caracterizava um traço biologicamente diferenciador, a deficiência como semelhança na instituição produzia uma identificação imaginária e fazia também da AFR um Outro consistente, do qual se acreditava obter a cura.
Já o segundo ponto trata da dificuldade propriamente dita em se confrontar com as sequelas deixadas pela patologia. Pois nem sempre depois de encerrado o processo de reabilitação, há uma correspondência entre o esperado e o alcançado fisicamente pelo paciente, de modo que a notícia da alta (especialmente, para aquele que após este processo permanece com significativas sequelas motoras devido à gravidade da doença) faz com que o paciente seja confrontado, como já foi dito, mais uma vez com o que ficou de perda de um corpo funcional. Quando ainda estava em tratamento, o paciente podia sustentar de alguma forma a ilusão de recuperação completa. Com a alta, esse Outro consistente que a AFR encarnava e do qual se esperava a cura, tende a ruir. E ruindo, faz barulho – inúmeras queixas aparecem, os pacientes reclamam, dizem que precisavam ainda de tratamento, relatam piora súbita, não se conformam com a alta. Daí a necessidade de uma intervenção também nesse momento – não para aplacar a angústia e as queixas, mas para escutar e intervir sobre as dificuldades que os pacientes enfrentam com a alta institucional.
O terceiro, por sua vez, refere-se a disjunção entre recuperação física e elaboração psíquica após adoecimento. O que constatamos é que mesmo após a recuperação, alguns pacientes ainda não se restabeleceram das repercussões psíquicas da doença. Alguns, mesmo, após um processo bem-sucedido de tratamento, sentem-se ainda doentes e incapacitados, demandando mais tempo de tratamento físico em reabilitação quando este não é mais necessário. Acrescido a isso, porém, não podemos ignorar a relação do sujeito com sua doença, os ganhos que pode vir a extrair de uma condição de “deficiente”; “doente” – dificultando uma modificação em sua posição subjetiva.
Sendo assim, o psicanalista junto à equipe se faz necessário do início ao fim do processo de reabilitação. Ele está presente na avaliação da equipe multidisciplinar; no tratamento dirigido a criança, ao adulto e ao idoso seja nos moldes individual ou grupal; além de se inserir no trabalho de desvinculo do paciente com a instituição. Em sua práxis sustenta uma direção de tratamento em que não centra a atenção na doença, na lesão, mas no particular de cada sujeito; garantindo que no processo de reabilitação sejam consideradas pela equipe as singularidades de cada paciente e dando voz ao sujeito a fim de que ele possa ser relançado como desejante, evitando que se coloque e seja visto apenas como objeto de cuidados. Ao oferecer uma escuta a tais pacientes, o processo de luto é favorecido, além de se buscar sob transferência, deslocar o sujeito de um possível congelamento e restrição de sua identidade aos significantes “doente”, “deficiente”.
Eis o desafio que este campo nos convoca!
Referências
- Belaga, G. (2003). A psicanálise aplicada ao hospital. In: A. Harari, M. H. Cadernas, F. Kruger (Orgs.), Os usos da psicanálise : Primeiro encontro americano do campo freudiano (pp. 9-18). Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa.
- Bittencourt, M. (1997). As lágrimas de Maria. In: Kalimeros (Org.), A dor de existir e suas formas de expressão clínica : Tristeza, depressão, melancolia (pp. 285-293). Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa.
- Brasil. (2004). Ministério da Saúde. Glossário do Ministério da Saúde: Projeto de terminologia em saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Recuperado de http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_ms.pdf
» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_ms.pdf - Cartilha do censo 2010: pessoas com deficiência (2012). Brasília, DF: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Recuperado de https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
» https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf - Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 . Regulamenta a lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Recuperado de http://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/cieh/doc/Decreto_3298_20_12_99.doc
» http://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/cieh/doc/Decreto_3298_20_12_99.doc - Fulco, A. (2005). Psicanálise e reabilitação: A questão da multidisciplinaridade na instituição. In: S. Altoé, M. M. Lima (Orgs.), Psicanálise, clínica e instituição. Rio de Janeiro, RJ: Rios Ambiciosos.
- Freud, S. (1996c). Inibição, sintoma e angústia. In: S. Freud, Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. (v. 20, Ed. standard brasileira). Rio de janeiro, RJ: Imago. (Originalmente publicada em 1926).
- Freud, S. (1996b). Luto e melancolia. In: S. Freud, Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. (v. 14, Ed. standard brasileira). Rio de janeiro, RJ: Imago. (Originalmente publicada em 1917).
- Freud, S. (1996a). Sobre o narcisismo: uma introdução (1914) In: S. Freud, Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. (v. 14, Ed. standard brasileira). Rio de janeiro, RJ: Imago. (Originalmente publicada em 1917).
- Jimenez, S. (1997). Depressão e melancolia. In: Kalimeros (Org.), A dor de existir e suas formas de expressão clínica: Tristeza, depressão, melancolia (pp. 199-206). Rio de Janeiro, RJ: Contra Capa.
- Lacan, J. (2005). O seminário 10 : A angústia (1962-63). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar.
- Lambert, A. (outubro, 2003). Prática lacaniana em instituição. Latusa, (3).
- Miller, J.-A. (1997). Lacan elucidado: Palestras no Brasil. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar.
- Santos, A. P. (2002b). O discurso do analista no processo de reabilitação: uma proposta de trabalho. In: R. Doris, M. A. C. Jorge (Orgs.), Saber, verdade e gozo : Leituras de O Seminário, livro 17, de Jaques Lacan (pp. 165-172). Rio de Janeiro, RJ: Rios Ambiciosos.
- Santos, A. P. (2002a). Sujeito deficiente : A diferença indestrutível e criadora (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Silvestre, D. (março, 1996). Entre médicine et psychanalyse: Lê desier en question. Quarto, (59).
-
1
A AFR é uma entidade filantrópica, que presta serviços para o Sistema Único de Saúde (SUS), além de atender convênios e particulares. Localizada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, recebe clientela dessa cidade e de municípios vizinhos – sendo considerado o quinto maior centro de reabilitação do estado.
-
2
Os objetivos do tratamento no Programa Reintegrar aqui descritos correspondem ao que foi traçado pela equipe interdisciplinar da AFR em seu projeto de elaboração.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
25 Abr 2019 -
Data do Fascículo
2019
Histórico
-
Recebido
09 Fev 2014 -
Aceito
28 Nov 2014