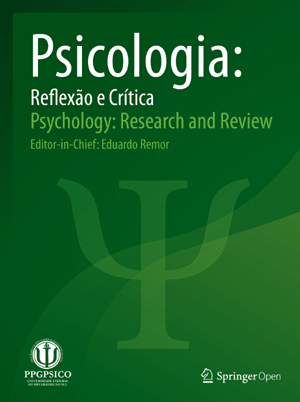Resumos
Neste artigo, mostramos algumas características dos processos interativos de crianças fundamentalmente no 1º ano de vida, através do estudo de alguns episódios de interação, recortados através do registro em vídeo, durante pesquisa em uma creche universitária, com crianças (7 a 14 meses) brincando livremente. Num primeiro momento, mostramos a importância da definição de um conceito de interação que consiga captar e traduzir as características das interações ocorridas nessa faixa de idade. Também, mostramos a importância dos procedimentos metodológicos, usados para recortar o material empírico, na definição desse conceito de interação. Nessa faixa etária, os episódios de interação encontrados são bastante rápidos e desordenados e estas características são resultantes, em grande parte, do desajeitamento motor dos bebês. Esta incompletude motora, por sua vez, pode ser um elemento capaz de prolongar um episódio de interação entre crianças pequenas e/ou mesmo propiciar o surgimento de novos episódios de interação.
Interação de bebês; desenvolvimento de bebês; incompletude motora; bebês em creche
Some characteristics of young infant's interactive processes are presented through the study of some interactive episodes of 7 to 14 months old babies, video-recorded at a University Day Care Center. The importance of defining a concept of interaction able to capture and reveal the special features of the interactions observed at this early age is first stressed. The relevance of some methodological procedures used to frame the empirical material, is then presented. At this early age, the interactive episodes observed are short-lived and disorganized. Those characteristics result, mainly, from the babies' still uncoordinated motricity. Thus, we suggest that this awkwardness, due to the baby's incomplete motor development, may prolong the interactive episode between young infants and/or even favour the emergence of new interactive episodes.
Babies' interaction; early child development; motor incompleteness; babies at day care
A incompletude como virtude: interação de bebês na creche
Incompleteness as a virtue: interaction of babies at day care
Cleido Roberto Franchi e Vasconcelos; Katia de Souza Amorim; Adriana Mara dos Anjos; Maria Clotilde Rossetti Ferreira 1 1 Endereço para correspondência: CINDEDI (Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano e Educação Infantil), Depto de Psicologia e Educação da FFCLRP-USP, Av. Bandeirantes, 3900, 14040 901, Ribeirão Preto, SP. E-mail: mcferre@usp.br 2 Os autores agradecem à FAPESP e ao CNPq pelo suporte financeiro, à professora Ana Almeida Carvalho pelos valiosos comentários e sugestões feitos durante a elaboração desse artigo e ao professor Nelson M. Vaz pelo uso da expressão "a incompletude como virtude". , 2 1 Endereço para correspondência: CINDEDI (Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano e Educação Infantil), Depto de Psicologia e Educação da FFCLRP-USP, Av. Bandeirantes, 3900, 14040 901, Ribeirão Preto, SP. E-mail: mcferre@usp.br 2 Os autores agradecem à FAPESP e ao CNPq pelo suporte financeiro, à professora Ana Almeida Carvalho pelos valiosos comentários e sugestões feitos durante a elaboração desse artigo e ao professor Nelson M. Vaz pelo uso da expressão "a incompletude como virtude".
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto
RESUMO
Neste artigo, mostramos algumas características dos processos interativos de crianças fundamentalmente no 1º ano de vida, através do estudo de alguns episódios de interação, recortados através do registro em vídeo, durante pesquisa em uma creche universitária, com crianças (7 a 14 meses) brincando livremente. Num primeiro momento, mostramos a importância da definição de um conceito de interação que consiga captar e traduzir as características das interações ocorridas nessa faixa de idade. Também, mostramos a importância dos procedimentos metodológicos, usados para recortar o material empírico, na definição desse conceito de interação. Nessa faixa etária, os episódios de interação encontrados são bastante rápidos e desordenados e estas características são resultantes, em grande parte, do desajeitamento motor dos bebês. Esta incompletude motora, por sua vez, pode ser um elemento capaz de prolongar um episódio de interação entre crianças pequenas e/ou mesmo propiciar o surgimento de novos episódios de interação.
Palavras-chave: Interação de bebês; desenvolvimento de bebês; incompletude motora; bebês em creche.
ABSTRACT
Some characteristics of young infant's interactive processes are presented through the study of some interactive episodes of 7 to 14 months old babies, video-recorded at a University Day Care Center. The importance of defining a concept of interaction able to capture and reveal the special features of the interactions observed at this early age is first stressed. The relevance of some methodological procedures used to frame the empirical material, is then presented. At this early age, the interactive episodes observed are short-lived and disorganized. Those characteristics result, mainly, from the babies' still uncoordinated motricity. Thus, we suggest that this awkwardness, due to the baby's incomplete motor development, may prolong the interactive episode between young infants and/or even favour the emergence of new interactive episodes.
Keywords: Babies' interaction; early child development; motor incompleteness; babies at day care.
O bebê humano é um ser que nasce bastante imaturo do ponto de vista motor, porém suas características perceptuais já estão bastante desenvolvidas. A imaturidade motora faz com que a criança permaneça por um longo período vulnerável e impotente para sobreviver sem a ajuda de um ser humano adulto. Por outro lado, seu equipamento sensorial e expressivo facilita a comunicação, a interação e a aprendizagem com o outro desde o nascimento. Com o desenvolvimento de suas habilidades exploratórias e motoras, as crianças se movem e alcançam outras crianças, entrando em contato físico com elas. Por isso, desde cedo, são bastante habilidosas em estabelecer contatos sociais, tanto com seus pais e outros adultos, como com as outras crianças. Juntamente com isso, o outro, recorta esses comportamentos do bebê, interpretando-os conforme suas concepções construídas naquela cultura.
O ambiente em que vivemos é impregnado por significados sociais que variam conforme a cultura do indivíduo e do agrupamento social a que ele pertence. Esse ambiente sugere condutas para o indivíduo e pode ser modificado por ele, conforme as próprias concepções, que ele tenha desse ambiente. Com isso, o conceito de interação social e a verificação da existência desse tipo de contato social entre crianças bem pequenas também estão impregnados pelos valores sócio-culturais e científicos da sociedade em que vivemos.
Até tempos atrás, parte da literatura científica questionava a existência de interação criança-criança nos primórdios da infância, centralizando o foco de estudo sobre as relações adulto-criança e, particularmente, nas entre mãe-bebê (Lordelo & Carvalho, 1989).
Nesse sentido, para Aureli e Camaioni (1988), a Psicologia do Desenvolvimento atravessou três fases no estudo do mundo social infantil. De uma fase inicial, em que o estudo do objeto social e sua função eram centrados na figura da mãe que nutre e protege (década de 1960), passou para uma segunda fase (anos 1970) em que começa a haver uma percepção da diferenciação das funções dos objetos sociais, cabendo à mãe as funções de proteger, nutrir, interagir, comunicar e, ao coetâneo, as funções exploratórias e lúdicas, até chegar a uma terceira fase, nos anos 1980, em que as funções dos objetos sociais (mãe e coetâneo) começam a se multiplicar e se misturar, cabendo aos dois várias funções simultâneas. Essas mudanças no foco de estudo da Psicologia do Desenvolvimento refletiam mudanças no paradigma da exclusividade da figura materna no cuidado do bebê.
Tais mudanças podem ser atribuídas aos novos paradigmas de pesquisa na área, assim como a fatores sócio-culturais da época, como o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e, por conseguinte, o aumento também do cuidado de crianças em creches.
Processos Interativos de Bebês: Revisão da Literatura
Ampla revisão da literatura nacional e internacional relacionada ao tema interação de crianças e, mais especialmente, de bebês, foi realizada a partir de três bases de dados (Psicoinfo, Medline e Lilacs), abrangendo o período do final da década de 1970 (1978) ao ano de 2002. Essa revisão possibilitou verificar o que Aureli e Camaioni (1988) referiram com relação às fases no estudo do mundo social infantil. Possibilitou, ainda, avançar mais uma década nessa análise, focalizando mais especificamente a produção relativa aos processos interativos de bebês.
Através da revisão, verificou-se que, ao longo das quatro últimas décadas, ocorreu crescente interesse no estudo das capacidades interativas da criança pequena. Como apontado por aquelas autoras, de início, aquelas capacidades foram investigadas, de forma dominante, através da relação da criança com o adulto (usualmente, com a mãe, mas também com a educadora de pré-escola e os agentes de saúde). Estudos específicos da interação de pares de crianças emergem fundamentalmente na década de 1970, passando a representar importante fonte de interesse, a partir da década de 1980. Fatia maior desses estudos investiga interação de crianças maiores de 3 a 4 anos e, em especial, daquelas com distúrbios de comportamento (como agressividade, autismo, crianças com atraso no desenvolvimento, dentre outros). Especificamente, interações de bebês (0 a 18 meses) representam proporção restrita dos estudos na área.
Com relação a essas, identificou-se, no final da década de 1970, a publicação de 13 trabalhos, com um aumento nessa produção (38 trabalhos publicados), na década de 1980. Na década de 1990, há um declínio nessa produção (oito trabalhos), com uma retomada dessa temática (sete trabalhos), já nos três primeiros anos do novo milênio.
A revisão permite visualizar, ainda, que a forma de conceber e investigar os processos interativos bebê-bebê modificaram-se com o tempo. Na década de 1970, por exemplo, como Fogel (1979) pontuou, bebês de 3 meses de idade mostram interesse por outros bebês, olhando para eles por períodos mais longos do que olham para adultos. Esse maior interesse foi, usualmente, referido como contato social (Vincze, 1970) ou como comportamento socialmente dirigido (Becker, 1977; Hay, 1977).
Pesquisas desse período buscaram apreender os movimentos de aproximação e de retração das crianças (Eckerman, Whatley & McGehee, 1979) e verificar a existência de mediadores, como o brinquedo, promotores dos episódios interativos (Eckerman & Whatley, 1977; Ramey, Finkelstein & O'Brien, 1976).
Na década de 1980, autores afirmam que, no primeiro ano de vida, a interação criança-criança acontece com freqüência e de maneira diversificada (Vandell, Wilson & Buchanan, 1980). Certos autores confirmam formas muito precoces de interesse pela outra criança (olhares intensos, sorrisos), em bebês de 2 e 3 meses de idade (Dubon, Josse & Lézine, 1981), enquanto que outros admitem que os bebês podem vir a focalizar a sua atenção em um outro bebê, através de ajustes da postura do corpo e da cabeça, comportamentos esses que também podem desencadear respostas semelhantes na outra criança (Dubon & cols., 1981). São identificadas ainda, entre os 6 e 12 meses de idade, formas mais definidas de comportamento social direcionado a outra criança, como através das ações motoras e/ou verbais acompanhadas por olhares dirigidos ao coetâneo (Vandell, 1982).
Nessa década, verifica-se, ainda, alteração na forma de conceituar os processos, emergindo o termo interações de pares (Howes, 1980, 1988; Vandell & cols., 1980), que é aplicada também aos bebês (Brownell, 1986; Eckerman & Didow, 1988; Howes, 1988; Hay, Nash & Pedersen, 1983; Rayna, 1985). Aparecem outros trabalhos destacando o papel dos brinquedos nos processos interativos de crianças pequenas (Bakeman & Adamson, 1984; Howes & Stewart, 1987). Porém, o foco dos estudos reside nas capacidades comunicativas no primeiro ano de vida (Fogel & Thelen, 1987; Rayna, 1987; Ross & Lollis, 1987), destacando o lugar do afeto (Adamson & Bakeman, 1985), dos gestos (Fogel, 1987), da imitação e comunicação não-verbal (Deleau, 1988; Hay, Nash & Pedersen, 1981, 1983).
Outros estudos investigam as interações sociais como ligadas à aquisição do conhecimento (Beaudichon, Verba & Winnykamen, 1988; Brownell, 1986) e outros ainda buscam destacar aspectos funcionais e ontogenéticos das interações criança-criança (Montagner, Restoin, Rodriguez & Kontar, 1988).
A década de 1990 revela um quase desaparecimento da produção nessa área. Nesse período, preocupações giram em torno da estruturação de métodos para a investigação dos organizadores do comportamento e dos sistemas de interação (Montagner & cols., 1990). Além disso, a investigação desse tema se dá de forma relacionada à ontogenia das habilidades motoras e do sistema de comunicação (Montagner, 1990; Montagner & cols., 1993a) e das habilidades interativas (Findji, Pêcheux & Ruel, 1993; Montagner & cols., 1993b).
No Brasil, Fiamenghi (1999) mostrou que, em díades de bebês colocadas face a face, já aos 6 meses de idade, ocorrem comportamentos indicativos de reconhecimento intersubjetivo e também interações que "são pontuadas por imitações e expressões emocionais, tais como curiosidade, simpatia, indiferença e irritação" (p. 111).
Finalmente, os três primeiros anos do milênio buscaram teorizar esses processos dentro de processos maiores do desenvolvimento do primeiro ano de vida, como os de intersubjetividade (Trevarthen & Aitken, 2001), do desenvolvimento social e comunicativo (Eckerman & Peterman, 2001) e das relações dialógicas (Fogel, de Koeyer, Bellagamba & Bell, 2002).
Desta forma, a revisão possibilitou traçar um panorama do estudo de processos interativos de bebês e verificar mudanças nos focos de investigação desses processos. Tornou possível, ainda, explicitar as diferentes formas dos autores conceberem as interações de bebês. Nesse sentido, nas três primeiras décadas investigadas, de forma dominante, havia um enfoque mais individual na criança e um olhar para o processo a partir de um prisma mais unidirecional de ação. Ao contrário, na década de 1990 e, mais especificamente, nos anos 2000, tais estudos passam a investigar a situação em sua bi-direcionalidade e na dialogia em que estão imersos.
Tais diferenças, como pontuam Eckerman e Didow (1988), impõem ao pesquisador que, para se discutir as interações de bebês, seja necessário explicitar algumas definições básicas, antes de se tentar entender os contatos sociais que acontecem entre crianças pequenas. O termo sociável é, em si, um adjetivo difícil, pois possui conotações diferentes para pesquisadores de diferentes tradições teóricas. Por sociável se entende os modos que sustentam o contato interpessoal amigável com o outro (Eckerman & Didow, 1988). Na nossa opinião, o adjetivo "amigável" pode restringir um pouco a definição de sociável, já que deixa de considerar os comportamentos agonísticos. Os comportamentos sociais (vocalizações, sorrisos, gestos) parecem ter evoluído em seres humanos como forma privilegiada de contato, por isso, dependem da reação do outro.
Para os autores (Eckerman & Didow, 1988), crianças pequenas podem mostrar um padrão de interação muito mais freqüente do que o previamente encontrado, mas essas interações tomam uma forma diferente daquela costumeiramente observada. Assim, não é que crianças pequenas raramente respondam ao comportamento das outras crianças, mas sim que elas respondem a aspectos diferentes e de diferentes maneiras ao comportamento do parceiro.
Sabemos que muito da capacidade de se reconhecer, ou não, episódios de interação de bebês é devido à abordagem teórico-metodológica que fundamenta e direciona o trabalho do pesquisador. Dessa forma, bases teóricas como a sócio-histórica e a teoria dos sistemas dinâmicos para a análise do desenvolvimento humano, por exemplo, fornecem o substrato necessário para que possamos considerar esses encontros "fortuitos e aleatórios" dos bebês, também como episódios de interação. Pela abordagem sócio-histórica, o desenvolvimento humano é uma co-construção feita com o outro, parceiro de interação, geralmente um parceiro mais experiente, que faz a mediação do encontro do bebê com o mundo em que ele gradativamente se insere. Por outro lado, os estudos sobre o desenvolvimento infantil, apoiados na Teoria dos Sistemas Dinâmicos (Carvalho, Império-Hamburger & Pedrosa, 1999; Fogel & Thelen, 1987; Império-Hamburguer, Pedrosa & Carvalho, 1996), ampliaram o conceito de interação sugerindo-nos que um encontro "fortuito e aleatório" de bebês pode ter muita coisa para nos mostrar a respeito da dinâmica desse encontro, se tivermos olhos para ver.
Método
O presente estudo foi realizado a partir do banco de dados do Projeto Integrado Processos de adaptação de bebês à creche. Este acompanhou o ingresso e a freqüência de 21 bebês, suas famílias e as educadoras, a uma creche universitária (Rossetti-Ferreira, Amorim & Vitória, 1994).
O objetivo geral do projeto foi o de realizar o registro e a análise dos processos de adaptação dos bebês, seus familiares e as educadoras, à creche. Porém, como projeto integrado, previa vários objetivos específicos, dentre eles os estudos das interações bebê - bebê.
Participantes
A coleta de dados foi feita em uma creche universitária, a qual atende, estritamente, crianças oriundas de famílias vinculadas à universidade (funcionários, alunos e docentes). O projeto acompanhou todos os bebês que freqüentaram o Módulo "Rosa" dessa creche, o qual recebeu, naquele ano, 21 crianças, de 4 a 14 meses de idade ao ingresso. À exceção de uma, todas permaneciam em período integral (8 às 17 horas) e todas foram subdivididas em três subgrupos (T1, T2 e T3), a depender das idades e das habilidades das mesmas.
Diretamente responsáveis pelas crianças, encontravam-se seis educadoras, três das quais trabalhavam no período da manhã e três no período da tarde. Elas eram organizadas em duplas, sendo que cada dupla era responsável por um dos três subgrupos. Apesar dessa organização, todas colaboravam com a supervisão do conjunto de crianças do Módulo.
Contexto Investigado
O Módulo "Rosa" era composto por várias salas (ampla sala de atividades, dormitório, solário, refeitório e banheiro), sendo que as crianças permaneciam a maior parte do tempo na sala de atividades. A primeira era organizada através de vários ambientes, onde havia colchões, estantes com brinquedos, caixas em que as crianças entravam dentro e brinquedos dispostos pelo chão. Usualmente, os bebês permaneciam no colchão e aqueles que engatinhavam e/ou andavam, deslocavam-se livremente pela sala e, freqüentemente, encontravam-se muito próximos uns aos outros.
Procedimentos de Registro
Vários foram os registros da situação realizados pelo projeto integrado, os quais incluíam as entrevistas de matrícula ao ingresso na creche, as fichas de observação (comportamento da criança, estado de saúde e intercorrências de saúde), as entrevistas (educadoras, técnicas da creche e seis mães dos bebês) e as gravações em vídeo.
Para o presente trabalho, foram utilizadas, exclusivamente, as gravações em vídeo. Esses registros focalizam o ambiente da creche e os sujeitos que dela participam durante os três primeiros meses de freqüência. As gravações foram realizadas com câmera de vídeo móvel, por dois técnicos especializados e tinham como um de seu focos principais as interações criança-criança. Todo material está contido em 54 fitas em um total de aproximadamente 75 horas de gravação.
Construção do Corpus para Análise
Em um primeiro momento, foi visto todo esse material gravado, de onde foram recortados episódios de interação criança-criança considerados significativos para análise posterior. Nesse primeiro momento, alguns critérios básicos nortearam nosso recorte, dentre eles: proximidade (ou aproximação) física dos parceiros, olhares e posturas dirigidas ao outro.
A partir desse recorte inicial, os episódios selecionados foram revistos e transcritos microgeneticamente. Através desse procedimento, indica-se o local onde se desenvolve a interação, os bebês participantes e as outras pessoas presentes, além das atividades realizadas. Procura-se, também, descrever a concomitância com que ocorrem os diferentes eventos, a seqüência de cada um e se e como um afeta o outro. Ainda, descreve-se as ações, os olhares e as falas dos principais sujeitos envolvidos. Dada à idade dos bebês (primeiro ano de vida) e de suas habilidades de comunicação verbal ainda em desenvolvimento, procuramos discriminar a comunicação e ações não-verbais, captando-se o choro e os balbucios dos bebês, além dos olhares, posturas, movimentos corporais, sorrisos, expressão emocional, em associação à situação como um todo e ao contexto no qual estavam inseridos.
Análise Microgenética
Como dito anteriormente, no caso dos bebês, os episódios interativos são muito mais fugazes, desordenados, pouco estruturados e pouco intencionais. Por isso, a metodologia empregada para se estudar interação nessa faixa de idade tem uma importância fundamental. O registro em vídeo e a transcrição microgenética dos episódios recortados são ferramentas ideais para observarmos esses episódios de interação. A análise microgenética permite a apreensão dos gestos e olhares que surgem e duram poucos segundos. Através dela, trechos potencialmente mais ricos em fenômenos observáveis, podem ser esmiuçados segundo a segundo.
Para Casagrande, Magnusson e Montagner (1996) uma avaliação adequada da competência comunicativa de crianças muito pequenas depende de técnicas microanalíticas sofisticadas que permitam rastrear a complexidade das ações socialmente direcionadas. Para os autores, a análise, através dessas técnicas, do comportamento de díades de bebês (4 meses de idade) permite notar um alto nível de coordenação tanto dos atos comportamentais individuais quanto das seqüências comportamentais complexas surgidas no processo de interação.
A Definição de Interação de Bebês em nosso Estudo
No nosso estudo, quando começamos a definir episódio de interação de bebês e a procurar por eles no material gravado em vídeo, estávamos caminhando por um lugar cujas referências principais vinham de exemplos de interação em crianças mais velhas. A definição de interação usada inicialmente por nós foi a de uma regulação mútua, um sistema de influências recíprocas entre os indivíduos, visto através de seus comportamentos (Carvalho, 1989, 1990; Hinde, 1976; Schaffer, 1984). Essa definição foi um excelente ponto de partida para a observação de bebês na creche. Porém, como veremos mais adiante em alguns episódios transcritos, a regulação recíproca entre os bebês é mais implícita e não necessariamente intencional.
Nesse sentido, um conceito de interação da física usado por Carvalho e colaboradores (1999) para definir o conceito de interação criança-criança, foi-nos de extrema importância para ampliar a observação e análise dos fenômenos interativos também em bebês:
Interação é o potencial de regulação entre os componentes do campo, do sistema. Diz-se que há regulação quando os movimentos ou as transformações de comportamentos de um dos componentes não podem ser compreendidos sem que se considere a existência, os movimentos ou o comportamento de outros componentes. (p. 4)
Esse olhar crianças brincando como um campo interacional, proposto pelas autoras, traz consigo uma definição de interação que acolhe as situações interativas recortadas em nosso trabalho. Dessa forma, os bebês brincando livremente na creche passam a constituir um campo interacional. Muitos dos episódios encontrados em nosso trabalho, apesar de não possuírem uma evidente regulação recíproca entre os parceiros, encaixam-se no modelo de um sistema dinâmico que forma um campo interacional em que a ação de uma criança regula a ação de outra, ainda que não coloquemos em pauta a intencionalidade ou não dessas ações.
Segundo Carvalho e colaboradores (1999), essa regulação entre os componentes de um sistema dinâmico é feita de acordo com a natureza dos componentes do sistema. Para as autoras, a natureza de um sistema interacional de "crianças brincando livremente" é, em primeira instância, a característica social da espécie humana: "chamamos de sociabilidade humana a capacidade e a possibilidade de regulação, recíproca ou não recíproca, que constitui os indivíduos."
A perspectiva dos sistemas dinâmicos criou um novo eixo teórico em volta do qual têm se agregado algumas visões importantes sobre o desenvolvimento infantil. Um desses olhares provém da pesquisa de autores que usaram a teoria dos sistemas dinâmicos para guiar seus estudos sobre os processos do desenvolvimento comunicativo e motor (Fogel & Thelen, 1987). Alguns princípios provenientes da teoria dos sistemas dinâmicos podem ser associados aos métodos (observação, experimentação e estudo longitudinal) comumente usados nos estudos sobre desenvolvimento humano. Essa abordagem permite olhar o organismo como um todo, ou seja, olhar o organismo em interação com seu contexto.
Nosso fazer de pesquisador é sempre um entrelaçado entre nossas perspectivas teórico-metodológicas e o observado. Nossos "dados" são então construídos justamente nesse cruzamento entre a teoria, que nos fundamenta, e o observado no processo de fazer ciência. Carvalho e colaboradores (1999) comentam bem esse processo:
O observado é o ponto de partida comum a qualquer teorização, em qualquer área ou disciplina científica. Ao mesmo tempo, o observado é necessariamente recortado e constituído como dado a partir de um referencial de pensamento, que ele por sua vez retroalimenta e transforma. Essa imbricação se define no fazer. (p. 2)
Assim, o processo de "coleta de dados" também se transforma junto com as novas perspectivas que o aprofundamento teórico permite.
No nosso caso (interações criança-criança nos primeiros anos de vida), as durações dos episódios não são longas e são bastante fragmentadas, em parte devido a inabilidade motora dos bebês, em parte devido a interferência do adulto que, sem perceber, pode interromper o processo de interação, por não acreditar em sua existência.
A Incompletude Motora
Em nossos estudos com bebês percebemos que alguns aspectos característicos do desenvolvimento motor das crianças também podem ser um interessante modelo para a observação de situações interativas.
Muito da desordem das interações de bebês é devida ao desajeitamento motor característico da idade. Porém, esse desajeitamento também proporciona uma riqueza de possibilidades de acontecimentos que podem ajudar o desenvolvimento do episódio de interação.
A incompletude motora dos bebês funciona como um ponto de instabilidade no sistema representado por essas crianças em interação. Dessa maneira, o que poderia ser mais delimitado e definido, se mais maduro do ponto de vista motor, torna-se mais caótico, indefinido, repleto de instabilidade e, com isso mesmo, um campo fértil para o surgimento do novo. Na seqüência, mostraremos alguns episódios de interação de crianças que ilustram esse nosso ponto de vista.
Resultados
Episódio 1: "Eu vi uma coisa, você viu outra"
Vitória (7m, 25d) e sua mãe estão sentadas no chão da sala de atividades da creche. Elas estão uma de frente para a outra e com vários brinquedos espalhados pelo chão entre elas. Mãe de Vitória está olhando para o lado para Raul (13m, 14d) que vem vindo engatinhando na direção delas. Raul se senta segurando e olhando para um pote azul. Vitória, segurando outro brinquedo, olha para Raul/pote azul. Vitória vira o rosto, olhando para a direção contrária, para vários brinquedos que estão no chão. Raul continua segurando e olhando para o pote azul. Vitória larga o que estava segurando e, olhando para a frente, fica na posição de engatinhar. Raul, levanta um pouco a cabeça, retira o olhos da tampa do pote que está segurando e olha mais para frente (na mesma direção que Vitória olha). Vitória começa a engatinhar na direção em que está olhando. Raul está olhando para mesma direção. Raul desvia o olhar para um outro ponto, sorri e começa a engatinhar rapidamente nessa direção. Vitória, ao encostar casualmente numa bolinha, enquanto engatinha, pára e pega a bolinha.
Podemos notar que a ação de uma criança interfere na ação da outra criança, apesar delas estarem, aparentemente, envolvidas em atividades diferentes. O campo interacional é formado pelo contexto "crianças em atividades livres no berçário da creche". Nesse episódio, o gesto de Vitória de se inclinar para frente, preparando-se para engatinhar, parece iniciar em Raul o gesto de levantar a cabeça e olhar para frente. É como se os dois gestos, por terem o mesmo sentido de movimento (inclinar-se para frente para começar a engatinhar no caso de Vitória e levantar a cabeça e olhar para frente em Raul) conectassem as duas crianças, nesse momento, mostrando como num sistema dinâmico o movimento de uma "partícula" está correlacionado com o das outras "partículas" do sistema.
Episódio 2: "Rolando a bolinha"
Na sala de atividades, a educadora está agachada jogando uma bola para Guel (8m, 28d) que está atrás de um caixote vazado. Guel engatinha e empurra a bola que acaba se afastando dele. A educadora joga a bola de novo para ele. Guel, atrás do caixote, coloca uma das mãos sobre a bola e, ao tentar pegá-la, faz a bola rolar na direção oposta a que ele estava engatinhando. Ele vira e vai engatinhando atrás da bolinha. Iracema (9m, 18d) vem também engatinhando pelo outro lado, de encontro a Guel e a bolinha. Os dois se encontram e ficam de frente, um para o outro. Guel, olhando para Iracema, começa a mexer com a bolinha e acaba por enpurrá-la para o lado. Os dois ficam olhando um para ao outro. Guel se aproxima mais um pouco e, olhando para o rosto de Iracema, levanta a mão e pega o nariz dela. Iracema se senta, mudando de posição e olhando para outra direção. Guel também vira a cabeça olhando para outra direção.
Observarmos que o encontro entre as crianças se deu por acaso, ou seja: é a trajetória da bola que determina o encontro de Guel e Iracema, aparentemente ambos interessados na bola. Mas quem determina o movimento e a trajetória da bola é a incapacidade motora de Guel segurá-la num primeiro instante, como parecia ser seu objetivo inicial. Dessa forma, a imaturidade motora de Guel acabou por proporcionar um encontro, a posteriori, com outra criança. Podemos até imaginar que se Guel tivesse conseguido pegar a bola num primeiro instante, esse encontro não teria ocorrido e todos os acontecimentos subseqüentes teriam sido outros.
Na sala de atividades estão Danilo (13m, 14d), Iracema (9m, 18d) e Vera (10m), duas educadoras e a mãe de Vera. Educadoras e mãe estão conversando. Danilo está sentado no chão, de chapéu. Iracema está entre Danilo e Vera. Vera está deitada no chão entre educadoras e a mãe. Vera levanta a cabeça e olha para Danilo e Iracema. Danilo estende sua mão pegando um objeto que estava nas mãos de Iracema. Quando Danilo puxa o objeto para junto de si, ele escapa de suas mãos e continua nas mãos de Iracema. Vera começa a engatinhar, vindo na direção das outras duas crianças e olhando para a mão de Danilo. Danilo olha para a mão vazia e volta a estender o braço na direção do objeto segurado por Iracema. Vera começa a engatinhar mudando seu olhar para o chapéu de Danilo. Danilo puxa o brinquedo da mão de Iracema. Iracema, segurando o objeto, vira a cabeça na direção de Danilo. Vera aproxima-se de Danilo engatinhando, olhando para o chapéu. Danilo puxa o objeto para si. Iracema puxa objeto também. Iracema e Danilo se olham. Vera aproxima-se olhando para o chapéu, levanta a mão e pega o chapéu. Vera tira o chapéu de Danilo que olha o chapéu enquanto ainda segura o brinquedo junto com Iracema. Danilo solta o brinquedo que Iracema segura. Danilo se inclina para frente, esticando o braço na direção do chapéu. Iracema levanta as duas mãos segurando o brinquedo, balançando os braços para cima. Ao balançar, a mão que segura o objeto fica no meio do caminho do movimento da mão de Danilo. A mão de Danilo (indo pegar o chapéu) pega o brinquedo das mãos de Iracema, puxa o brinquedo que fica com ele.
Nesse episódio, podemos notar uma situação um pouco mais complexa, em que três crianças estão interagindo. Danilo se interessa pelo brinquedo de Iracema, ela por sua vez tenta evitar que ele o pegue dela. Vera se interessa pelo chapéu que está com Danilo.
Após Vera pegar o chapéu, Danilo muda o seu interesse do brinquedo de Iracema para o "seu" chapéu, que agora está com Vera. Ao balançar as mãos, com os braços para cima, Iracema coloca o brinquedo (foco do interesse inicial de Danilo) no meio da trajetória da mão de Danilo, que está buscando recuperar o chapéu. A mão de Danilo tromba e pega involuntariamente (ponto de instabilidade) o brinquedo da mão de Iracema. Assim, mais uma vez, a imaturidade motora dos bebês produz pontos de instabilidade durante o episódio, os quais mudam o desenrolar dos acontecimentos posteriores desse mesmo episódio.
Episódio 4: "Eu ando, você engatinha!"
Renato (14m, 25d) pega uma boneca que está com Moa (13m, 14d). Após pouco tempo de disputa pelo objeto, Renato sai andando com a boneca nas mãos, se afasta, e olha para Moa (que ainda não anda, apenas engatinha). Na seqüência, volta a se aproximar de Moa, levantando os braços e segurando a boneca. Passa por Moa, desequilibra-se e cai, largando a boneca que vai novamente parar nas mãos de Moa, dando oportunidade para uma nova " disputa" pelo objeto.
Nessas crianças de mais idade, é uma certa intencionalidade que mantém, a princípio, o desenvolvimento do episódio. A intenção de Renato não parece ser somente pegar para si o brinquedo, já que ele volta a se aproximar de Moa mesmo após ter conseguido ficar com a boneca. Porém também aqui, a incompletude motora age como uma perturbação no sistema interativo formado por essas crianças, gerando uma variabilidade nas possibilidades de respostas. O desajeitamento motor de Renato o faz tropeçar e leva o episódio a uma direção que, com certeza, não seria a mesma se dependesse somente da intenção dele.
Discussão
Nesses quatro episódios, procuramos evidenciar alguns aspectos que caracterizam as interações das crianças bem pequenas. No primeiro deles, (Eu vi uma coisa, você viu outra), mostramos que, apesar de uma ausência de regulação intencional explícita de comportamentos entre as crianças, as ações de uma acarretam modificações e/ou novas ações na outra. Nos outros três episódios, mostramos aspectos diferentes da incompletude motora como fator promotor das interações dos bebês. No episódio "Rolando a bolinha", de uma maneira simples, é a incompletude que promove o posterior encontro das crianças. No episódio chamado "O caos do chapéu" a incompletude motora parece multiplicar as possibilidades de ações "dentro" do próprio episódio. Finalmente, no último episódio apresentado (Eu ando, você engatinha), percebemos que em crianças um pouco mais velhas e que apresentam interações mais coordenadas e duradouras, a incompletude motora também pode estar presente alterando a seqüência dos acontecimentos no episódio.
Durante o processo de nosso estudo sobre interação de bebês, mudamos nosso olhar, deixando de procurar por episódios mais organizados e duradouros, e recortamos alguns aspectos desses encontros fragmentados e fugazes que puderam ser esmiuçados o suficiente para ajudar na compreensão das situações interativas ocorridas entre crianças pequenas. Para nós, portanto, um desses aspectos importantes passou a ser a incompletude motora.
Numa primeira leitura, a imaturidade motora pode dificultar o que entendemos por interação em crianças mais velhas. Mas em bebês, talvez pelo fato deles estarem no início do processo de construção de significados, acreditamos que ela também possa ser uma fonte de criação de novidade, de possibilidade de coisas novas acontecerem. Dessa forma, qualquer mudança ditada pelo "acaso" encontra um espaço maior para ser instalada, já que os significados não são ainda tão persistentes. Em crianças mais velhas e mesmo em adultos, rupturas provocadas por fatores aleatórios também estão bastante presentes e também podem direcionar uma seqüência de eventos interativos. Porém, esses indivíduos possuem uma capacidade bem maior de retomar a situação a partir do ponto em que a instabilidade aconteceu. Os bebês não possuem um repertório de significados tão estabelecido, que lhes permita retornar ao ponto da interação em que estavam antes dessa quebra acontecer. Por isso, esses pontos de instabilidade dentro dos episódios poderem provocar tanta mudança no desenrolar subseqüente da cena interativa.
De acordo com o estudo de sistemas dinâmicos não-lineares, uma pequena mudança em certos parâmetros pode produzir mudanças drásticas no sistema: "Diz-se que esses sistemas são estruturalmente instáveis, e os pontos críticos de instabilidade são denominados 'pontos de bifurcação', pois são pontos na evolução do sistema, nos quais aparece subitamente um forqueamento, e o sistema se ramifica numa nova direção" (Capra, 1996, p. 117).
Numa analogia, podemos dizer que as quebras ocorridas pela incompletude motora, no desenrolar de determinada situação de interação vivenciada pelo bebê, se assemelham aos "pontos de bifurcação" que aparecem na evolução de um sistema não-linear. Esses nossos pontos de instabilidade também podem levar o episódio de interação a evoluir de uma maneira completamente nova. Assim, a dificuldade maior em retomar à seqüência inicial do processo antes da quebra, propiciada pela incompletude motora, potencializa a própria incompletude motora, transformando-a num elemento gerador de instabilidade.
Para um dos teóricos da auto-organização, Ashby (1956, citado em Atlan, 1992), existe uma relação entre a variabilidade das perturbações provocadas pelo ambiente (ruído) e as respostas de um sistema nesse ambiente, sendo que, quanto maior a variabilidade dessas perturbações, maior será também a variabilidade das respostas ocorridas nesse sistema. Fazendo uma analogia com o comportamento dos bebês, no sistema de interações sociais formado por seus encontros, a incompletude motora de cada uma das crianças envolvidas na situação interativa aumenta a variabilidade das respostas ocorridas entre elas.
É importante lembrar que, pelo menos inicialmente, essa é apenas uma comparação ilustrativa entre sistemas não-lineares e os encontros de bebês ocorridos na creche. Império-Hamburguer e colaboradores (1996) já mostram e definem como, nas brincadeiras aparentemente desordenadas e caóticas das crianças, podem emergir padrões de organização os quais mantêm o sistema na forma de atratores.
Assim, ao atentarmos para o desajeitamento motor nessas crianças, estaremos também percebendo pistas importantes de como o desenvolvimento das interações está acontecendo nesta idade. Para isto, é necessário renunciarmos, num sentido mais amplo, à idéia desses desajeitamentos como obstáculos aos encontros dos bebês e encará-los como um "ruído", uma perturbação, que pode levar à novidade.
Segundo a proposta teórico-metodológica da Rede de Significações (Rossetti-Ferreira, Amorim & Silva, 2000), durante o processo interativo, o fluxo dos comportamentos, assim como as possibilidades de ações, são delimitados e estruturados a partir do recorte e interpretação da ação do outro. Um conjunto de elementos orgânicos, físicos, interacionais, sociais e econômicos formam uma rede de significações que possibilitam os processos de construção de sentido em uma situação interativa. Além disso, pessoas e rede de significações são contínua e mutuamente transformadas e reestruturadas, canalizadas que são, a todo momento, pelas características do contexto no qual essas interações acontecem.
Baseados nisso, um outro aspecto importante de ser lembrado aqui é que nosso referencial teórico entrelaçado ao observado constrói nossos dados. Portanto, se vamos distinguir ou não esses episódios de interação de bebês como significativos ou mesmo promotores de desenvolvimento depende, por conseguinte, de nossa rede de significações. Esta, por sua vez, é formada pelos inúmeros conceitos e significados científicos e culturais que nos constroem e são construídos por nós, enquanto pesquisadores, em nosso viver como parte de uma comunidade científica de uma determinada cultura, em um determinado período sócio-histórico.
Recebido: 18/12/2001
1ª Revisão: 15/03/2002
Última Revisão: 05/12/2002
Aceite Final: 10/12/2002
Sobre os autores
Cleido Roberto Franchi e Vasconcelos é Pós-doutor (FAPESP) do Departamento de Psicologia e Educação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Katia de Souza Amorim é Pós-doutora (FAPESP) do Departamento de Psicologia e Educação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Adriana Mara dos Anjos é bolsista de Iniciação Científica (CNPq) do Departamento de Psicologia e Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Maria Clotilde Rossetti Ferreira é Professora Titular do Departamento de Psicologia e Educação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
- Adamson, L. B. & Bakeman, R. (1985). Affect and attention: Infants observed with mothers and peers. Child Development, 56, 582-593.
- Atlan, H. (1992). Entre o cristal e a fumaça Rio de Janeiro: Zahar.
- Aureli, T. & Camaioni, L. (1988). Il contributo delle relazioni genitore-bambino e bambino-bambino allo sviluppo sociale nella prima infanzia. Giornale Italiano di Psicologia, 15, 583-604.
- Bakeman, R. & Adamson, L. B. (1984). Coordinating attention to people and objects in mother-infant and peer-infant interaction. Child Development, 55, 1278-1289.
- Beaudichon, J., Verba, M. & Winnykamen, F. (1988). Interactions sociales et acquisition de connaissances chez l'enfant: Une approache pluridimensionelle. Revue Internationale de Psychologie Sociale, 1, 130-141.
- Becker, J. M. (1977). A learning analysis of the development of peer-oriented behavior in nine-month-old infants. Developmental Psychology, 13, 481-491.
- Brownell, C. A. (1986). Convergent developments: Cognitive-developmental correlates of growth in infant/toddler peer skills. Child Development, 57, 275-286.
- Capra, F. (1996). A teia da vida: Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo, SP: Cultrix.
- Carvalho, A. M. A. (1989). Brincar juntos: Natureza e função da interação entre crianças. Em C. Ades (Org.), Etologia de animais e de homens (pp. 199-210). São Paulo: Edicon/Edusp.
- Carvalho, A. M. A. (1990). Etologia e comportamento social. Psicologia e Sociedade, 5, 145-163.
- Carvalho, A. M. A., Império-Hamburger, A. & Pedrosa, M. I. (1999). Dados e tirados: Teoria e experiência na pesquisa em psicologia. Temas de Psicologia, 7, 205-212.
- Casagrande, C., Magnusson, M. S. & Montagner, H. (1996, agosto). Organization of dyadic interactions in 4/5 months-old infants Trabalho apresentado na International Conference on Human Ethology, Viena, Austria.
- Deleau, M. (1988). Interaction, imitation et communication non-verbale du nourrison. Psychologie Française, 33, 37-44.
- Dubon, D. C., Josse, D. & Lezine, I. (1981). Evolution des changes entre enfants au cours des deux premières années de la vie. Neuropsychiatrie de l'Enfance, 29, 273-290.
- Eckerman, C. O. & Didow, S. M. (1988). Lessons drawn from observing young peers together. Acta Pediatrica Scandinavica, 344, 55-70.
- Eckerman, C. O. & Peterman, K. (2001). Peers and infant social/communicative development Child Development, 51, 481-488.
- Eckerman, C. O. & Whatley, J. L. (1977). Toys and social interaction between infant peers. Child Development, 48, 1645-1656.
- Eckerman, C. O., Whatley, J. L. & McGehee, L. J. (1979). Approaching and contracting the object another manipulates: A social skill of the 1-year-old. Developmental Psychology, 15, 585-593.
- Fiamenghi, G. A. (1999). Conversas dos bebês São Paulo, SP: Hucitec.
- Fogel, A. (1979). Peer vs mother directed behavior in 1- to 3-month-old infants. Infant Behavior and Development, 2, 215-226.
- Fogel, A. (1987). Biological foundations of gestures: Motor and semiotic aspects. Contemporary Psychology, 32, 971-972.
- Fogel, A. de Koeyer, I., Bellagamba, F. & Bell, H. (2002). The dialogical self in the first two years of life: Embarking on a journey of discovery. Theory and Psychology, 12, 191-205.
- Fogel, A. & Thelen, E. (1987). The development of early expressive and communicative action: Re-interpreting the evidence from a dynamic systems perspective. Developmental Psychology, 23, 747761.
- Findji, F., Pecheux, M. G. & Ruel, J. (1993). Dyadic activities and attention in the infant: A developmental-study. European Journal of Psychology of Education, 8, 23-33.
- Hay, D. F. (1977). Following their companions as a form of exploration for human infants. Child Development, 48, 1624-1632.
- Hay, D. F., Nash, A. & Pedersen, J. (1981). Responses of 6-month-olds to the distress of their peers. Child Development, 52, 1071-1075.
- Hay, D. F., Nash, A. & Pedersen, J. (1983). Interaction between 6-month-old peers. Child Development, 54, 557-562.
- Hinde, R. A. (1976). On describing relationships. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, 1-19.
- Howes, C. (1980). Peer play scale as an index of complexity of peer interaction. Developmental Psychology, 16, 371-372.
- Howes, C. (1988). Peer interaction of young children. Monographs of the Society for Research in Child Development, 53, 1-78.
- Howes, C. & Stewart, P. (1987). Child's play with adults, toys and peers: An examination of family and child-care influences. Develomental Psychology, 23, 423-430.
- Império-Hamburguer, A., Pedrosa, M. I. & Carvalho, A. M. A. (1996). Auto- organização em brincadeiras de crianças: De movimentos desordenados à realização de atratores. Em M. Debrun, M. E. Q. Gonzales & O. Pessoa Jr. (Orgs.), Auto-organização: Estudos interdisciplinares (pp. 343-361). Campinas: Coleção CLE, UNICAMP.
- Lordelo, E. R. & Carvalho, A. M. A. (1989). Comportamento de cuidado entre crianças: Uma revisão. Psicologia, Teoria e Pesquisa, 51, 1-19.
- Montagner, H. (1990). The ontogeny of motor-skills and communication-systems in human infants. British Journal of Developmental Psychology, 8, 196-197.
- Montagner, H., Gauffier, G., Epoulet, B., Goulevitch, R., Wiaux, B., Restoin, A. & Taule, M. (1993a). The development of motor-skills and social-behavior in young-children. Archives Francaises de Pediatrie, 50, 645-651.
- Montagner, H., Magnusson, M., Casagrande, C., Restoin, A., Bel, J. P., Hoang, P. N., Ruiz, V., Delcourt, S., Gauffier, G. & Epoulet, B. (1990). Une nouvelle méthode pour l'étude des organizateurs de compartements et des systemes d'interaction du jeune enfant. Les primières données. Psychiatrie de L'Enfant, 33, 391-456.
- Montagner, H., Restoin, A., Rodriguez, D. & Kontar, F. (1988). Functional and ontogenetic aspects of a childs interactions with its peers during the 1st 3 years of life. Psychiatrie de L'Enfant, 31, 173-278.
- Montagner, H., Ruiz, V., Ramel, N., Restoin, A., Mertzianidou, V. & Gauffier, G. (1993b). Interactive skills of infants 4 to 7 months-old with their peers. Psychiatrie de L'Enfant, 36, 489-536.
- Ramey, C. T., Finkelstein, N. W. & O'Brien, C. (1976). Toys and infant behavior in the first year of life. Journal of Genetic Psychology, 129, 341-342.
- Rayna, S. (1985). The infant and his peers. Neuropsychiatrie de L'Enfance et de L'Adolescence, 33, 405-416.
- Rayna, S. (1987). Étude de la communication preverbale entre jeunes enfants. Pédiatrie, 42, 711-714.
- Ross, H. S. & Lollis, S. P. (1987). Communication within infant social games. Developmental Psychology, 23, 241-248.
- Rossetti-Ferreira, M. C., Amorim, K. S. & Silva, A. P. S. (2000). Uma perspectiva teórico-metodológica para análise do desenvolvimento humano e do processo de investigação. Psicologia: Reflexão e Crítica, 13, 281-293.
- Rossetti-Ferreira, M. C., Amorim, K. S. & Vitória, T. (1994). A creche enquanto contexto possível de desenvolvimento da criança pequena. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 4, 35-40.
- Schaffer, H. R. (1984). The child's entry into a social world. London: Academic Press.
- Trevarthen, C. & Aitken, K. J. (2001). Infant intersubjectivity: Research, theory, and clinical applications. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42, 3-48.
- Vandell, D. (1982). Sociability with peer and mother during the first year. Development Psychology, 16, 355-361.
- Vandell, D., Wilson, D. & Buchanan, N. (1980). Peer interaction in the first year of life: An examination of its structure, content and sensitivity to toys. Child Development, 51, 481-488.
- Vincze, M. (1970). The social contacts of infants and young children reared together. Early Child Development and Care, 1, 99-109.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
27 Jan 2004 -
Data do Fascículo
2003
Histórico
-
Aceito
10 Dez 2002 -
Revisado
05 Dez 2002 -
Recebido
18 Dez 2001