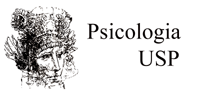Resumo
O nome próprio, para além de designativo de uma identidade transmitida intergeracionalmente, pode abrigar memórias sociais consubstanciais às representações de uma genealogia familiar, entrecruzada a processos históricos transgeracionais. Neste estudo de caso, as ressonâncias de sentidos atrelados ao significante “Terena” são analisadas à luz do processo social onomástico de transformação de etnônimos em sobrenomes, com base em fundamentos teóricos e metodológicos etnopsicanalíticos. Encontrou-se não haver transparência nem correspondência linear, pelo menos neste caso, entre o significante Terena na qualidade de etnônimo e na condição de sobrenome familiar, ficando em aberto em que medida a sua multivocidade se prende ao recalque da memória familiar e/ou a resistências a uma identificação genealógica que em diferentes momentos históricos terá assumido valorações distintas e eventualmente antagônicas.
Palavras-chave:
nome próprio; etnopsicologia; identificação
Abstract
The proper name, in addition to designating an identity transmitted intergenerationally, can harbor social memories consubstantial with the representations of a family genealogy, intertwined with transgenerational historical processes. In this case study, the resonances of meanings linked to the signifier “Terena” are analyzed in the light of the onomastic social process of transforming ethnonyms into surnames, based on ethnopsychoanalytic theoretical and methodological foundations. It was found that there was no transparency or linear correspondence, at least in this case, between the signifier Terena as an ethnonym and the same as a family surname, leaving open the extent to which its multivocality is linked to the repression of family memory and/or to resistance to a genealogical identification that at different historical moments will have assumed different and eventually antagonistic valuations.
Keywords:
proper name; ethnopsychology; identification
Résumé
Le nom propre, en plus de désigner une identité transmise intergénérationnellement, peut abriter des mémoires sociales consubstantielles aux représentations d’une généalogie familiale, entremêlées de processus historiques transgénérationnels. Dans cette étude de cas, les résonances des significations liées au signifiant « Terena » sont analysées à la lumière du processus social onomastique de transformation des ethnonymes en noms de famille, sur la base de fondements théoriques et méthodologiques ethnopsychanalytiques. Il a été constaté qu’il n’y avait pas de transparence ou de correspondance linéaire, du moins dans ce cas, entre le signifiant Terena en tant qu’ethnonyme et le même en tant que nom de famille, laissant ouverte la mesure dans laquelle sa multivocalité est liée au refoulement de la mémoire familiale et /ou à la résistance à une identification généalogique qui, à différents moments historiques, aura assumé des valorisations différentes et éventuellement antagonistes.
Mots clés:
nom propre; ethnopsychologie; identification
Resumen
El nombre propio, además de designar una identidad transmitida intergeneracionalmente, puede albergar memorias sociales consustanciales a las representaciones de una genealogía familiar, entrelazadas con procesos históricos transgeneracionales. En este estudio de caso se analizan las resonancias de significados vinculados al significante “Terena” a la luz del proceso social onomástico de transformación de etnónimos en apellidos, a partir de fundamentos teóricos y metodológicos etnopsicoanalíticos. Se constató que no existe transparencia ni correspondencia lineal, al menos en este caso, entre el significante Terena como etnónimo y el mismo como apellido familiar, dejando abierta la medida en que su multivocalidad está ligada a la represión de la memoria familiar y /oa la resistencia a una identificación genealógica que en diferentes momentos históricos habrá asumido valoraciones distintas y eventualmente antagónicas.
Palabras clave:
Nombre propio; Etnopsicología; Identificación
Introdução
O processo de miscigenação entre colonizadores portugueses e indígenas antecedeu o decurso da colonização propriamente dita. Os invasores, empenhados na manutenção do domínio político diante de ameaças externas e internas, promoveram, durante 1500 e 1549, alianças de interesses mútuos com nativos que protegiam as fronteiras territoriais. Internamente, os nativos eram aliados perante ameaças de franceses, holandeses e espanhóis, que competiam pelo domínio local com os portugueses (Farage, 1991Farage, N. (1991). As muralhas dos sertões: os povos indígenas no Rio Branco e a colonização. São Paulo, SP: Paz e Terra.). A mestiçagem entre portugueses e indígenas decorre, então, primeiramente, em razão de tais alianças e, posteriormente, como resultado de relações de violência. Mais tarde, no século XVII, houve o estímulo, por parte dos senhores de escravos, ao casamento entre escravos negros e indígenas, provisioriamente ofertados para trabalho em propriedades rurais, a fim de posterior domínio escravista sobre eles (Carneiro da Cunha, 2013Carneiro da Cunha, M. (2013). Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. São Paulo, SP: Companhia das Letras.).
No período entre 1750-1777, o Marquês de Pombal implementou estratégias que ampliaram o domínio sobre o território invadido. A nova política pretendia assimilar celeremente os nativos a uma população dita como “homogênea e livre”, artifício utilizado para solidificação do Estado e posterior “descaracterização” da população mestiça habitante de territórios cobiçados, quando as identidades étnicas são estrategicamente impelidas à dúvida (Carneiro da Cunha, 2013Carneiro da Cunha, M. (2013). Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. São Paulo, SP: Companhia das Letras.). A miscigenação foi incentivada por meio do casamento entre brancos e indígenas, que constituiriam tal povo e nação, enquanto os negros continuariam escravizados (Perrone-Moisés, 1992Perrone-Moisés, B. (1992). Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII). In M. C. Cunha (Orgs.), História dos índios no Brasil (pp. 116-132). São Paulo, SP: Companhia das Letras , Fapesp, Secretaria Municipal De Cultural.).
No decurso da consolidação do domínio político e territorial, a etnicidade foi historicamente tratada como adversa ao estabelecimento de uma nacionalidade, o que ocorreu também na África e em outros territórios (Carneiro da Cunha, 2009Carneiro da Cunha, M. (2009). Etnicidade: da cultura residual mas irredutível. In M. C. Cunha, Cultura com aspas e outros ensaios (pp. 235-244). São Paulo, SP: Cosac Naify.). Nas tentativas de assimilação dos diversos povos indígenas à sociedade colonial, condição atribuída à construção de uma nação moderna e livre de “tribalismos”, realizou-se uma série de investidas que ora visavam ao extermínio físico dos povos indígenas, ora ao extermínio cultural (Tiveron & Bairrão, 2015Tiveron, J. D. P., & Bairrão, J. F. M. H. (2015). A memória social indígena: a psicologia em questão. In H. V. Martins, M. R. V. Garcia, M. A. Torres, & D. K. Santos (Orgs.), Intersecções em Psicologia Social: raça/etnia, gênero, sexualidades (vol. 7, pp. 13-31). Florianópolis, SC: Abrapso Editora.).
Diante dessa conjuntura histórica e política, pautada em tentativas de extermínio dos povos nativos, destaca-se a transformação cultural resultante do processo ativo de oposição e resistência ao domínio dos invasores. Perante diásporas e situações de intenso contato entre povos, os traços culturais de grupos étnicos minoritários são acentuados pois se tornam características diacríticas. As sociedades tradicionais prosseguem em um movimento dinâmico de incorporação de expressões culturais, originalmente estranhas ao próprio regime simbólico, que assumem funções essencialmente de contraste (Carneiro da Cunha, 2009Carneiro da Cunha, M. (2009). Etnicidade: da cultura residual mas irredutível. In M. C. Cunha, Cultura com aspas e outros ensaios (pp. 235-244). São Paulo, SP: Cosac Naify.). Carneiro da Cunha (2013)Carneiro da Cunha, M. (2013). Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. São Paulo, SP: Companhia das Letras. identifica a pluralidade étnica como o caminho possível para a sobrevivência da ancestralidade e de sociedades tradicionais no mundo atual. O nome da etnia incorporado ao nome próprio constitui, entre outros aspectos, um meio que acentua singularidades entre origens étnicas diversas de povos que foram historicamente homogeneizados na categoria “índios”, na qual estes não se reconhecem (Faustino, 2020Faustino, S. K. S. (2020). O protagonismo indígena e a colonização brasileira e a historiografia recente. Revista em Favor de Igualdade Racial, 3(2), 146-158.). A categoria do nome próprio, desse modo, condensa arranjos e rearranjos históricos intrínsecos ao processo colonial.
Objetiva-se, assim, explorar sentidos encadeados aos processos históricos e a transformações culturais inscritos pelo sobrenome ameríndio, bem como os efeitos de sentido advindos do posicionamento subjetivo daquele que porta esse nome. Na perspectiva psicanalítica, a passagem de um nome ao longo de gerações envolve a transmissão da dimensão simbólica que se inscreve naqueles que o recebem (Calligaris, 1991Calligaris, C. (1991). Hello Brasil!: notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil. São Paulo, SP: Escuta.). No caso do etnônimo, o que se transmite diz respeito à história e cultura de um povo, que envolve também o que há de traumático em um processo colonial. A historicidade da colonização, bem como os regimes onomásticos dos grupos étnicos, respalda a escuta do que se enuncia ao longo de gerações.
No decorrer de um processo de invasão é comum que nomes sejam alterados como mais um dos artifícios de controle e expropriação do território invadido, tal como “Brasil” foi sobreposto a “Pindorama” (Terra das Palmeiras), denominação praticada pelos povos tupi-guarani em referência ao que se chama hoje de América do Sul (Santos, 2015Santos, A. B. D. (2015). Colonização, quilombos: modos e significações. Brasília, DF: INCTI, UnB. CNPq, MCTI.). Quanto ao problema aqui exposto, apesar dos nomes próprios e sobrenomes pertencerem à cultura do colonizador, o fato de etnônimos serem empregados por indígenas leva à suposição dessa mudança ser relevante para eles próprios.
Sendo assim, a alteração nominal pode tanto ocultar denominações indígenas que requeiram uma não exposição aos ouvidos colonizadores - no sistema de nominação Yanomami os nomes são secretos (Ramos, 1977Ramos, A. R. (1977). O público e o privado: nomes pessoais entre Sanumá. Anuário Antropológico, 1(1), 13-38. Recuperado de https://bit.ly/3GfTcbx
https://bit.ly/3GfTcbx...
) -, ou mesmo servir para se contrapor a outros nomes de famílias brancas que por batismo ou algo similar lhes tenham sido atribuídos - indígenas Guarani realizam rituais de “desbatismo” ao rejeitarem nomes católicos implantados violentamente pelo batismo cristão, enquanto retomam nomeações indígenas que simbolizam suas funções na sociedade e peculiaridades do nominado (Cruz, 2017).
Em diferentes contextos socioculturais, o regime onomástico atribui qualidades individuais e caracterizações sociais - gênero, parentalidade, religião, casamento, origem geográfica, entre outros. Tais processos inserem alguém ao mundo social e simbólico, o que promove um meio de identificação de alguém consigo mesmo e junto ao grupo. Na onomástica ocidental, o sobrenome compõe parte do nome pessoal referente à ascendência familiar do sujeito, desde a Idade Moderna (Bodenhorn & vom Bruck, 2006Bodenhorn, B., & vom Bruck, G. (2006). “Entangled in histories”: an introduction to the anthropology of names and naming. In G. vom Bruck, & B. Bodenhorn, (Eds.), The anthropology of names and naming (pp. 1-30). Cambridge: Cambridge University Press.).
Entre ameríndios, a variedade das práticas de nomeação é correlativa à diversidade de etnias, e varia ao longo do tempo. Os sistemas onomásticos classificam-se em uma escala entre extremos “exonímicos” e “endonímicos”. Os nomes que detêm origem externa e de Outros - deuses, mortos, inimigos ou animais - inserem-se na categoria exonímica, vinculada a uma esfera metafísica. A classificação endonímica é atribuída quando os nomes circulam no campo coletivo, como bens herdados e integrados às propriedades do grupo que se mantêm no decurso de gerações, em função de classificações e ordens sociais (Viveiros de Castro, 1986Viveiros de Castro, E. (1986). Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro, RJ: Zahar .).
Em certos sistemas onomásticos, as práticas de nomeação estendem-se ao longo da vida: o nascimento de um filho ou matar um inimigo geram alterações nominais mediante a inserção de sufixos e prefixos, a depender da etnia (Viveiros de Castro, 1986Viveiros de Castro, E. (1986). Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro, RJ: Zahar .). Com efeito, as condutas de alteração dos nomes apontam uma fluidez identitária (Viveiros de Castro, 1992Viveiros de Castro, E. (1992). O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem. Revista de Antropologia, 35, 21-74. doi: 10.11606/2179-0892.ra.1992.111318
https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.19...
), em contraste, por exemplo, à cultura ocidental, em que a onomástica apresenta considerável rigidez.
No Brasil, a legislação vigente estabelece prenome e sobrenome como inalteráveis, ainda que possa haver numerosas exceções para requisição de mudanças (Lei nº 6.015/1973Lei nº 6.015. (1973, 31 de dezembro). Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Recuperado de https://bit.ly/2vPeyt8
https://bit.ly/2vPeyt8...
). Enquanto a onomástica ocidental vincula alguém a uma linhagem familiar por meio do sobrenome, na perspectiva ameríndia a genealogia não tem grande relevância (Seeger, Matta, & Viveiros de Castro, 1979Seeger, A., Matta, R., & Viveiros de Castro, E. (1979). A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu Nacional, (32), 2-19. Recuperado de https://bit.ly/3ifBTPV
https://bit.ly/3ifBTPV...
).
Todavia, a adesão ao sistema de nomeação branco por indígenas pode levar a suposições genealógicas conforme o sistema ocidental. Neste processo, o nome de toda uma etnia adequa-se ao sistema no qual o sobrenome refere-se a uma família. Ainda que as noções de família variem de etnia para etnia, supõe-se a instauração de uma inscrição e de marcas de uma origem promovida por essa forma de uso do nome advinda de um regime simbólico originalmente alheio aos nativos.
Diante disso, observa-se que a expressão de singularidade étnica e instauração de um traço diacrítico no meio social é ao mesmo tempo feita antropofagicamente, na acepção de que incorpora o outro para produzir algo em si. A antropofagia, para além de rituais pós-guerras em que os vencedores se alimentavam dos rivais com o objetivo de incorporar suas qualidades e muitas vezes seus nomes, é vista como um estado de receptividade dos nativos à alteridade (Gonçalves, 1992Gonçalves, M. A. (1992). Os nomes próprios nas sociedades indígenas das terras baixas da América do Sul. BIB: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, (33), 51-72. Recuperado de https://bit.ly/3WZYbnJ
https://bit.ly/3WZYbnJ...
; Viveiros de Castro, 1992Viveiros de Castro, E. (1992). O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem. Revista de Antropologia, 35, 21-74. doi: 10.11606/2179-0892.ra.1992.111318
https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.19...
). O rearranjo simbólico que envolve o ato antropofágico relativo ao uso de sobrenomes pode ser entendido como um deslocamento desse processo na mesma linha do vir a ser outro mediada pela forma do nome própria de família branco, mas revirada na direção de uma autoafirmação étnica, mediante inscrição do etnônimo como nome próprio.
Compreende-se, portanto, que tais transformações balizem os processos de subjetivação do sujeito. Na psicanálise lacaniana, o nome próprio tem lugar na ordem de processos de identificação, em razão de ele assegurar um traço que orienta alguém em sua própria história, por meio de marcas significantes que consolidam a constituição do sujeito. A especificidade da perspectiva psicanalítica relativamente ao nome próprio situa-se na abertura para a indeterminação, ao mesmo tempo em que o significante demanda do nomeado um posicionamento subjetivo a seu respeito (Lacan, 2003Lacan, J. (2003). O Seminário, livro 9: a identificação, 1961-1962. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife.).
O nome, sendo assim, exige uma implicação na leitura singular dessa marca inscrita previamente (Lacan, 2006Lacan, J. (2006). O seminário, livro 12: problemas cruciais para a psicanálise, 1964-1965. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife.). A concepção lacaniana de sujeito o estabelece como um efeito da linguagem, pois este emerge do que representa um significante para outro significante. Está alienado à linguagem, e é por meio desta que este se constitui, ainda que nenhum sentido ou descrição sejam suficientes para dizê-lo plenamente. Assim, o sujeito não existe como uma causa de si mesmo, mas como efeito de significantes. Necessita-se da ordenação simbólica externa já instaurada - o Outro, lugar ou “tesouro” dos significantes - para que sentidos sejam produzidos (Lacan, 1960/1998Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiana. In J. Lacan, Escritos(pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Zahar. (Trabalho original publicado em 1960).).
Desse modo, a nomeação instaura, no contexto ocidental, tanto a expressão significante do desejo dos pais atrelado ao prenome escolhido para um filho, quanto a dimensão do enredamento histórico e cultural que cada nome carrega. O sobrenome, além de referenciar uma determinada origem, representa a operação de transmissão de uma articulação simbólica da realidade de geração em geração, legada pelas figuras parentais representantes de um Outro (Calligaris, 1991Calligaris, C. (1991). Hello Brasil!: notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil. São Paulo, SP: Escuta.). Um sobrenome idêntico à denominação de uma etnia sobrepõe a uma linhagem familiar uma potencial reverberação de vozes ancestrais, no caso, hipoteticamente um povo nativo.
Perante o panorama histórico e cultural apresentado, a investigação do significante do sobrenome parte do entendimento de que, embora o nome de família compreenda um ato de filiação vinculado e instaurador de uma perspectiva de origem dentro do mundo branco, as penumbras da memória permitem deslizes e ambiguidades produzidas em conformidade com fantasias verossímeis, que dão abrigo a subjetividades e reconstituições de perspectivas do sujeito e de uma família. A circulação e ressonância do termo, explorados como objetivo central deste estudo, evocam sentidos, memórias e idealizações proporcionadas pela experiência histórica e herança simbólica derivadas das confluências com outros usos do significante Terena.
Método
Este artigo é um estudo de caso que tem o objetivo de explorar ressonâncias étnicas articuladas ao sobrenome de uma família, nomeadamente o impacto numa família da identidade entre o seu sobrenome e um etnônimo ameríndio. Do ponto de vista psicanalítico, o ato de nomeação é um processo que confere existência e unicidade a alguém ao inscrever a pessoa no plano da linguagem, em que se dá grande parte das relações humanas. O sobrenome, por sua vez, é o significante que insere o sujeito na ordenação geracional, no contexto ocidental, ao compor parte do nome pessoal referente à inscrição de uma ascendência e pertencimento familiar (Masson, 2011Masson, C. (2011). La langue des noms: changer de nom, c’est changer de langue. Cliniques méditerranéennes, (1), 171-186. doi: 10.3917/cm.083.0171
https://doi.org/10.3917/cm.083.0171...
).
Faz-se uso do ferramental teórico-metodológico etnopsicanalítico, o qual é baseado na complementação de saberes advindos da psicanálise e da antropologia, para se buscar uma compreensão mais abrangente de fenômenos complexos que demandam receptividade à alteridade, abordagem pertinente em cenários de grande diversidade cultural, étnica e de conflitos sociais, de forma a poder dar ouvidos às implicações subjetivas da cultura mediante uma sintonia fina com a sua literalidade (Barros & Bairrão, 2010Barros, M. L., & Bairrão, J. F. M. H. (2010). Etnopsicanálise: embasamento crítico sobre teoria e prática terapêutica. Revista da Spagesp, 11(1), 45-54. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v11n1/v11n1a06.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v...
).
As memórias, fantasias, percepções transmitidas singularmente, compõem cadeias de significantes que enunciam dimensões de um Outro, ou seja, ressonâncias que ultrapassam representações individuais e compõem dizeres marcados pela inscrição de coletividades (Bairrão, 2015Bairrão, J. F. M. H. (2015). Etnografar com Psicanálise: psicologias de um ponto de vista empírico. Cultures-Kairós-Revue d’Anthropologie des Pratiques Corporelles et des Arts Vivants, 5. Recuperado de https://bit.ly/3WIBlBg
https://bit.ly/3WIBlBg...
). É relativamente a esse Outro que o sujeito é concebido e significado, a depender do contexto (Bairrão, 2015Bairrão, J. F. M. H. (2015). Etnografar com Psicanálise: psicologias de um ponto de vista empírico. Cultures-Kairós-Revue d’Anthropologie des Pratiques Corporelles et des Arts Vivants, 5. Recuperado de https://bit.ly/3WIBlBg
https://bit.ly/3WIBlBg...
), que nesse caso diz respeito à sociedade multiétnica brasileira.
A coleta de dados realizou-se por meio de entrevistas com membros da família, conduzida de acordo com a abertura e espontaneidade concedida aos colaboradores. A conversa foi guiada pelo significante do sobrenome e pela biografia dos participantes, ainda que com total abertura para as associações dos entrevistados. Esta visou favorecer o processo de associação livre, o que permitiu a manifestação de conteúdos inconscientes em continuidade a conflitos culturais e sociais brasileiros, para além do enquadramento clínico convencionalmente dado à psicanálise (Bairrão, 2015Bairrão, J. F. M. H. (2015). Etnografar com Psicanálise: psicologias de um ponto de vista empírico. Cultures-Kairós-Revue d’Anthropologie des Pratiques Corporelles et des Arts Vivants, 5. Recuperado de https://bit.ly/3WIBlBg
https://bit.ly/3WIBlBg...
).
O trabalho contou com três irmãos de sobrenome Terena em seus respectivos registros nominais, com idade na altura das entrevistas de 83, 78 e 74 anos. A escolha dos entrevistados justifica-se pelo fato de serem socialmente acessíveis e os mais velhos com os quais foi possível estabelecer contato, sendo, portanto, aqueles que supostamente melhor conheceriam, e com mais profundidade, as narrativas relacionadas à ancestralidade dessa família.
Como é comum em famílias brasileiras antigas, há referência a memórias de origens étnicas diversas, nomeadamente bascos, ameríndios, portugueses, afrodescendentes, entre outros. Os portugueses teriam se estabelecido no Rio de Janeiro; os bascos emigraram de Vizcaya. A componente ameríndia é referida ao povo Terena, uma etnia de língua e cultura Aruák, do qual são o grupo residente mais ao sul do território brasileiro. Vivem atualmente em territórios segmentados nos estados de Mato Grosso do Sul, predominantemente, bem como Mato Grosso e São Paulo, e mantêm contato acentuado com a população circundante (Pereira, 2009Pereira, L. M. (2009). Os Terena de Buriti: formas organizacionais, territorialização e representação da identidade étnica. Dourados, MS: Editora UFGD.).
Com o ferramental etnopsicanalítico, analisaram-se os elementos em repetição nas falas e nos domínios simbólicos atinentes, a partir de conceitos e operadores advindos da psicanálise lacaniana - sujeito, significante e Outro (Godoy & Bairrão, 2014Godoy, D. B. D. O. A., & Bairrão, J. F. M. H. (2014). O método psicanalítico aplicado à pesquisa social: a estrutura moebiana da alteridade na possessão. Psicologia Clínica, 26(1), 47-68. doi:10.1590/S0103-56652014000100005.
https://doi.org/10.1590/S0103-5665201400...
). A literatura antropológica referente à onomástica indígena e não indígena, bem como a contextualização histórica, fornece elementos fundamentais à escuta destas estruturas que enredam processos inconscientes. Consideraram-se, do mesmo modo, os efeitos singulares procedentes da nomeação, referentes ao posicionamento do sujeito diante dessa marca significante (Lacan, 2006Lacan, J. (2006). O seminário, livro 12: problemas cruciais para a psicanálise, 1964-1965. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife.).
Resultados
Os resultados abrem possibilidades de sentidos e significados diversificados para o sobrenome Terena, a partir do que é delineado pelos encadeamentos significantes. A primeira entrevistada narra que a genealogia ameríndia em sua família teria levado à adoção do sobrenome referente à etnia, e diz: “... o sobrenome é o nome da tribo porque eles não têm sobrenome. Não é hábito deles”.
Ela relatou a história, transmitida por familiares mais velhos, de que sua avó paterna era Terena, natural do sul do atual estado do Mato Grosso do Sul. Nascida da união entre a mãe Terena e o pai francês, ela teria sido levada da região de Dourados para o Rio de Janeiro quando criança, onde cresceu em uma família de judeus. Seu filho H. Pereira Guimarães (1905-1987), de origem paterna portuguesa, anos mais tarde, afirmando a origem indígena, adotou o sobrenome da etnia em homenagem à sua mãe.
O segundo entrevistado acrescenta que a alteração nominal para H. Terena Guimarães foi realizada por meio do Decreto 19.710, baixado por Getúlio Vargas em 1931, que permitia a alteração do registro civil (Decreto n. 19.710/1931Decreto nº 19.710. (1931, 18 de fevereiro). Obriga ao registo, sem multa, até 31 de dezembro de 1932, dos nascimentos ocorridos no território nacional, de 1 de janeiro de 1889 até a publicação do presente decreto. Diário Oficial da União. Recuperado de https://bit.ly/3X9iO0V
https://bit.ly/3X9iO0V...
). A mudança de sobrenome teria sido uma invenção de seu pai, pois “ele fazia de tudo para ter uma vida boa”. Diz que o pai tinha apelido de “brasileirinho”, mas não há confirmação de que sua avó era Terena. Dessa forma, o entrevistado afirma que a adoção do sobrenome indígena teria sido feita para ter algum tipo de vantagem.
A terceira entrevistada agregou a presença de ancestrais africanos em sua linhagem familiar. Ao ser questionada sobre o sobrenome Terena em sua família e seu conhecimento sobre esta origem, ela menciona primeiramente a existência de um ancestral afrodescendente na genealogia familiar. Junto disso, manifesta aversão a certas características do fenótipo negro, como o cabelo.
Análise
A inclusão do etnônimo Terena como sobrenome de família pode primeiramente ser compreendida como um movimento de diferenciação ante a lógica colonial assimilacionista. O deslocamento do etnônimo de sua função original pode ser resultante do fenômeno característico do processo de transformação cultural que busca enfatizar singularidades étnicas em contextos de acentuado contato entre povos, ainda que por meio de uma configuração nominal inicialmente incomum ao universo ameríndio (Carneiro da Cunha, 2009Carneiro da Cunha, M. (2009). Etnicidade: da cultura residual mas irredutível. In M. C. Cunha, Cultura com aspas e outros ensaios (pp. 235-244). São Paulo, SP: Cosac Naify.).
Em seguida, considera-se que a associação entre a natureza e os povos indígenas presente nos significados atrelados aos prenomes dos entrevistados coincide com o imaginário trazido pelos colonizadores, tendo em vista que os familiares apresentam, também, origens europeias. Diferentemente dos ameríndios, que não fazem distinções a respeito do natural e não natural, ou natureza e não natureza, as representações ocidentais a respeito do país e das populações nativas acompanham o ideal edênico herdado do imaginário branco e que se tornaram alegóricas da brasilidade no campo literário e social (Zilberman, 1994Zilberman, R. (1994). A terra em que nasceste: imagens do Brasil na literatura. Porto Alegre, SP: Editora da UFRGS.).
O indianismo foi um movimento cultural e artistico, inserido na escola literária do romantismo brasileiro no século XIX, que, entre outros efeitos, promoveu a criação de um imaginário sobre a imagem do indígena como herói mítico brasileiro, dotado de atributos de bravura e caracterizado em prolongamento à natureza circundante. A natureza, como vista pelos colonizadores e pelo imaginário propagado, também é permeada por fantasias e mitos de origem europeia nos quais a América surge na forma de um cenário paradisíaco e destino ideal (Zilberman, 1994Zilberman, R. (1994). A terra em que nasceste: imagens do Brasil na literatura. Porto Alegre, SP: Editora da UFRGS.).
Dessa forma, o imaginário indianista concebido a partir da sobreposição dos valores e da perspectiva europeia sobre o Brasil serviu ao propósito de criação de uma atmosfera nacionalista em um momento em que a colônia se dirigia à desagregação de Portugal e buscava fortalecer os ideais de nação. Assim, a construção figurativa de símbolos nacionais apoiados na cultura ocidental intensifica-se no período de independência. Procurava-se subsumir a “brasilidade” a essas produções culturais no intuito de forjar uma identidade de nação. Nesse contexto, a aliança do europeu, deslocado em termos de vínculo com a nação, com a figura do ameríndio como o verdadeiro nativo brasileiro, na forma de imagens idealizadas, favorece os invasores que se encontravam em busca da afirmação de independência da Europa e de um lugar para si (R. Cunha, 2007Cunha, R. D. (2007). Deslocamentos: o entre-lugar do indígena na literatura brasileira do século XX. Portuguese Cultural Studies, 1(1), 51-62. doi: 10.7275/R52N5069
https://doi.org/10.7275/R52N5069...
).
Em razão da marcada filiação portuguesa da família estudada, junto ao fato de terem residido no Rio de Janeiro - cidade brasileira onde também se encontrava a Corte portuguesa em rompimento com Portugal -, poderiam integrar os interessados em afirmarem-se legítimos brasileiros, junto ao referido processo de construção da nação. A adoção do etnônimo Terena poderia estar associada a este movimento de busca por brasilidade e por um álibi genealógico que justificasse a posse do território invadido.
Esta possibilidade, compreendida a partir da injunção do panorama histórico aos aspectos singulares do caso, ilustra o que poderiam ser traços expressivos de uma família portuguesa com heráldica ameríndia. Nesse sentido, a aliança matrimonial do europeu com a nativa, tema recorrente em muitas famílias brasileiras e provavelmente advindo de estratégias coloniais lusitanas, constitui uma estratégia clássica de ampliação e consolidação do domínio do invasor sobre um território tomado, associada ao uso de insígnias heráldicas, neste caso, o sobrenome e prenomes étnicos (Moreira, 2015Moreira, V. M. L. (2015). Territorialidade, casamentos mistos e política entre índios e portugueses. Revista Brasileira de História, 35(70), 17-39. doi: 10.1590/1806-93472015v35n70006.
https://doi.org/10.1590/1806-93472015v35...
).
Outra possibilidade sobre a presença do etnônimo indígena na família diz respeito a uma suposta tentativa de ocultamento de uma origem negra. O procedimento de escuta efetuado, que busca favorecer a associação livre, viabiliza a manifestação de outros possíveis sentidos para o sobrenome indígena, em condições inconscientes. A partir do questionamento a uma das entrevistadas quanto ao sobrenome familiar, sua fala sugere uma presumível rede de sentidos vinculada a uma genealogia de raiz africana escravizada que poderia ser considerada inaceitável social e familiarmente. Nesse sentido, considera-se a hipótese de um deslocamento ou recobrimento de tal ascendência para uma ficção indígena, já que esta última, pela razão mencionada acima, tendeu não apenas a ser mais aceitável, como desejada.
O histórico diaspórico dos afrodescendentes forçou uma realidade de desenraizamento e escravidão com reflexo na organização onomástica. Na condição de escravizados, foram genericamente chamados de negros, ao mesmo tempo em que, frequentemente, portavam apenas um nome, ou, então, sobrenomes de seus proprietários senhores de escravos, como marca de submissão. No momento pós-abolição, a lógica onomástica passa a ser orientada pelo recém-estatuto de liberdade. A adoção de um sobrenome visava renovar a forma de identificação dos sujeitos perante a sociedade, tanto ao requerer direitos sociais ante o Estado, como na tentativa de romper a relação de propriedade escravista (Palma & Truzzi, 2018Palma, R. D., & Truzzi, O. (2018). Renomear para recomeçar: lógicas onomásticas no pós-abolição. Dados: Revista de Ciências Sociais, 61(2), 311-340. doi: 10.1590/001152582018154
https://doi.org/10.1590/001152582018154...
).
Diante de tal contexto, formula-se a hipótese da adoção do etnônimo indígena ao nome próprio derivaria da tentativa de o afrodescendente garantir um lugar para si no processo de nacionalização do país ao fim da escravidão, talvez até em função de as cosmologias dos povos africanos bantus, grupos etnolinguísticos provenientes da África meridional, estabelecerem um vínculo entre ancestralidade e territorialidade (Santos, 1995Santos, J. T. (1995). O dono da terra: o caboclo nos candomblés da Bahia. Salvador, BA: Sarah Letras.). O ameríndio metafórico, advindo do imaginário indianista que implementou símbolos de brasilidade, forneceria uma inscrição afiliativa ao local atual de morada, em seguida à mobilização pela independência do país (Rotta & Bairrão, 2007Rotta, R. R., & Bairrão, J. F. M. H. (2007). Inscrições do feminino: literatura romântica e transe de caboclas na umbanda. Revista Estudos Feministas, 15(3), 629-646. doi: 10.1590/S0104-026X2007000300007
https://doi.org/10.1590/S0104-026X200700...
).
Como uma última possibilidade de denotação para o sobrenome em questão, considera-se a prática onomástica correspondente à adoção do nome da localidade de origem como sobrenome (Bodenhorn & vom Bruck, 2006Bodenhorn, B., & vom Bruck, G. (2006). “Entangled in histories”: an introduction to the anthropology of names and naming. In G. vom Bruck, & B. Bodenhorn, (Eds.), The anthropology of names and naming (pp. 1-30). Cambridge: Cambridge University Press.). Nesse sentido, o nome poderia se reportar à freguesia portuguesa denominada Terena, pertencente ao município de Alandroal. O local também é alternativamente referido como São Pedro, ou São Pedro de Terena, com sua origem estimada entre os anos de 1231 e 1259 (Rocha & Duarte, 2002Rocha, L., & Duarte, C. (2002). Igreja de S. Pedro (Terena). Revista portuguesa de arqueologia, 5(2), 393-416.).
Baseado nos dados fornecidos pelo site “Forebears”, que reúne dados relativos à origem, distribuição e frequência por país do uso de sobrenomes pelo mundo, a nomeação relativa à vila usada como nome pessoal é “Terenas”1 1 Recuperado de https://forebears.io/surnames/terenas , encontrada predominantemente em Portugal. Ou seja, Terena poderia pura e simplesmente ser um sobrenome português como outro qualquer, uma vez que naquele país frequentemente nomes próprios derivam de toponímicos. Porém, a perda desse reconhecimento e o seu caráter raro e incomum, associados à identidade fônica com a designação de uma etnia, poderiam ter eliciado toda uma série de ilações e especulações retrospectivas. Também, a busca por “Terena”2 2 Recuperado de https://forebears.io/surnames/terena indica a prevalência do nome em Botswana, Indonésia, Estados Unidos, Brasil, entre outros, em ordem decrescente de frequência. Por conseguinte, considera-se que as possibilidades aqui apresentadas não esgotam as referências a que o sobrenome em questão pode remeter.
Ademais, observou-se um elemento em comum relatado por todos os entrevistados: o pai dos colaboradores, H. Terena Guimarães, passou seu primeiro sobrenome aos filhos, em detrimento do segundo. A inclusão do etnônimo Terena no próprio nome e no dos filhos implica a não transmissão de seu último nome e equivale simbolicamente a um parricídio, mais precisamente a um recalque de uma origem, no caso, ibérica, que se vela mediante a sobreposição de uma referência indígena.
Em termos de realidade psíquica e processo de subjetivação, a exclusão do sobrenome paterno se configura como uma forma de deslegitimar a figura paterna, a qual, neste caso, é portuguesa. Nesse sentido, este evento remete ao sofrimento característico da constituição da identidade coletiva brasileira, uma vez que, na miscigenação entre o europeu colonizador e a indígena ou negra, a paternidade ibérica vê o filho como um estranho, subalterno e/ou estrangeiro. Neste cenário, o sobrenome Terena pode se configurar, assim, como uma retomada da ancestralidade nativa e reinscrição desta origem na família. O ato de reinscrição deste nome como fruto do desejo paterno desdobra-se como desejo do Outro - a nomeação manifestaria uma forma de resgate e sobrevivência simbólica de uma etnia ameríndia Terena, que, assim como outros povos, luta contra violências físicas e simbólicas, direcionadas tanto aos seus corpos e territórios, como à sua cultura e forma de estar no mundo (Bairrão, 1999Bairrão, J. F. M. H. (1999). Santa Bárbara e o divã. Boletim Formação em Psicanálise, 8(1), 25-38. Recuperado de https://bit.ly/3ibciI6
https://bit.ly/3ibciI6...
).
Perante os diversos sentidos e significados emergentes do significante do sobrenome, considera-se, ainda, a sobreposição e coexistência das possibilidades de sentidos de origem delineadas. A hipótese de referência do sobrenome à freguesia Terena em Portugal ou simplesmente uma origem portuguesa, junto ao possível posicionamento patriota brasileiro da família, poderia coexistir com uma aliança conjugal e decorrente filiação à etnia indígena que é retomada e ressaltada devido às motivações patrióticas, por meio do sobrenome. Ao mesmo tempo, pode-se ter, também, a origem africana na família, da qual busca-se o deslocamento pela filiação ao indígena.
Discussão
A ascendência indígena na família é ambígua e incerta. A amálgama étnica que compõe a realidade da população brasileira abriu perspectivas de sentidos e significações para o nome próprio que não necessariamente se excluem, uma vez que a direção não linear das ligações genealógicas permite combinações múltiplas. Assim, ainda que faticamente o sobrenome não esteja atrelado historicamente a uma origem indígena, evidencia-se uma sobredeterminação pela sua condição de etnônimo.
A imprecisão sobre a correspondência entre o significante Terena enquanto etnônimo e o equivalente na condição de sobrenome familiar coloca em questão o quanto as distintas vozes associadas ao nome estão atadas ao processo de recalcamento da memória familiar e/ou a resistências a uma identificação ancestral que contém qualidades distintas e eventualmente opostas a depender do momento histórico, que variam desde idealizações da figura do ameríndio ao seu repúdio.
Para mais, a problemática abordada suscita indagações sobre as condições conceituais do nome próprio. Dessa forma, a elucidação do processo referencial promovido pelo termo gera impasses teóricos devido, entre outras causas, à sua característica opacidade semântica (Frege, 1978/2009Frege, G. (2009). Lógica e filosofia da linguagem (P. Alcoforado, trad., 2a ed.). São Paulo, SP: Edusp. (Trabalho original publicado em 1978).). As discussões lógicas e linguísticas quanto ao tema dividem-se em duas vertentes principais: uma vertente causal e outra descritivista. A primeira caracteriza o nome próprio como exclusivamente referencial, visto que a denotação viabilizada pela captura simbólica do objeto da realidade não descreve ou revela nada sobre o referente. A concepção descritivista considera-os também portadores de sentido, em razão de ao nome caber uma equivalência na forma de uma descrição (Frege, 1978/2009Frege, G. (2009). Lógica e filosofia da linguagem (P. Alcoforado, trad., 2a ed.). São Paulo, SP: Edusp. (Trabalho original publicado em 1978).; Kripke, 1972/2012Kripke, S. (2012). O nomear e a necessidade. Lisboa: Gradiva. (Trabalho original publicado em 1972).; Mill, 1843/1984Mill, J. S. (1984). Sistema de lógica dedutiva e indutiva. In Os pensadores: Jeremy Bentham, John Stuart Mill (J. M. Coelho, trad., 3a ed., pp. 75-156). São Paulo, SP: Abril Cultural. (Trabalho original publicado em 1843).; Russell, 1905Russell, B. (1905). On denoting. Mind, 14(56), 479-493. Recuperado de https://bit.ly/3Q9ABTf
https://bit.ly/3Q9ABTf...
; Wittgenstein, 1953/2017Wittgenstein, L. (2017). Investigações filosóficas (J. J. R. L. Almeida, trad.). Campinas, SP: Editora Unicamp (Trabalho Original Publicado em 1953).).
O nome próprio, na perspectiva psicanalítica lacaniana, é admitido como um significante puro, uma vez que enunciado e enunciação igualam-se. Porém, Lacan afirma que, embora o nome próprio não tenha sentido em si, esvaziá-lo de significações seria profundamente equivocado, dado que, no decorrer da vida, vários são os sentidos associados a ele (Lacan, 2003Lacan, J. (2003). O Seminário, livro 9: a identificação, 1961-1962. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife.). Nos campos da natureza e funcionamento deste termo, Lacan dialoga com determinadas teorias da linguística e com postulados lógicos, de onde parte para a sua formulação psicanalítica. O autor avança em relação àquelas elaborações iniciais no campo da linguística, as quais o definem, sobretudo, com base em sua distintividade acústica. Já no domínio da lógica, as conceitualizações atinentes priorizam a elucidação da operação referencial produzida pelo termo (Lacan, 2003Lacan, J. (2003). O Seminário, livro 9: a identificação, 1961-1962. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife.), uma vez que a inclusão de objetos do mundo das coisas ao plano da linguagem promove um meio de orientação para a realidade (Frege, 1978/2009Frege, G. (2009). Lógica e filosofia da linguagem (P. Alcoforado, trad., 2a ed.). São Paulo, SP: Edusp. (Trabalho original publicado em 1978).).
Enquanto significante puro, tal elemento operaria como um designador rígido, conforme definições lógicas: termo singular que insere algo ou alguém em uma cadeia causal-histórica, mediante um ato batismal (Kripke, 1972/2012Kripke, S. (2012). O nomear e a necessidade. Lisboa: Gradiva. (Trabalho original publicado em 1972).). O paralelo entre a formulação lógica do nome próprio, elaborada por Kripke, e o significante puro lacaniano estabelece que, em qualquer mundo possível, o sujeito nomeado é o mesmo (Rosa, 2015Rosa, M. (2015). Lacan com Kripke: o real em jogo no nome próprio lido como um designador rígido. Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica, 18(1), 115-130. doi: 10.1590/S1516-14982015000100009
https://doi.org/10.1590/S1516-1498201500...
). A concepção filosófica de mundos possíveis busca formalizar argumentos referentes à lógica do necessário e do possível. Diz respeito à condição de como as coisas são, a forma como que devem ser e diferentes conjunturas de como poderiam ser. As identidades são ditas como necessárias, uma vez que estas não podem ser contingentes. Ou seja, argumentos necessários permanecem como tal em todos os mundos possíveis. Assim, objetos ou pessoas poderiam ter características diferentes em outros mundos logicamente possíveis, mas nunca poderiam não ser eles mesmos, embora haja ilusões a este respeito (Kripke, 1972/2012Kripke, S. (2012). O nomear e a necessidade. Lisboa: Gradiva. (Trabalho original publicado em 1972).).
No caso do designador que não se refere ao mesmo sujeito ou objeto nomeado em todo mundo possível, trata-se de um designador acidental ou não-rígido (Kripke, 1972/2012Kripke, S. (2012). O nomear e a necessidade. Lisboa: Gradiva. (Trabalho original publicado em 1972).). As descrições e significações servem ao processo de fixação do nome ao nomeado em dado momento, contudo, não se constituem como sinônimos do nome a que se referem. Kripke afirma que se uma descrição pudesse equivaler ao significado do nome de um indivíduo tal enunciado seria tautológico, o que não corresponde à natureza contingente de uma descrição ou adjetivação (Kripke, 1972/2012Kripke, S. (2012). O nomear e a necessidade. Lisboa: Gradiva. (Trabalho original publicado em 1972).). Deste modo, não há sentidos ou significações possíveis para além do nível imaginário. Indica-se o “ser” sujeito enquanto significante que inscreve e confere existência a alguém no domínio simbólico, ao passo que nenhuma predicação o comporta completamente (Lacan, 2003Lacan, J. (2003). O Seminário, livro 9: a identificação, 1961-1962. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife.).
Lacan explicita, então, a diferença fundamental da noção do nome próprio na psicanálise. Este estabelece uma marca distintiva que conduz a possíveis articulações significantes orientadoras de sentidos e identificações ao longo da vida do sujeito (Lacan, 2003Lacan, J. (2003). O Seminário, livro 9: a identificação, 1961-1962. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife.). O nome, sendo assim, não guarda a função de sintetizar aspectos singulares e familiares, mesmo que suporte significações. Na função de sobrenome, tal significante também constitui marca perene de um regime simbólico familiar (Tesone, 2009Tesone, J. E. (2009). Inscrições transgeracionais no nome próprio. Jornal de Psicanálise, 42(76), 137-157.). Articulam-se, por meio deste significante, posições geracionais e genealogias, aspectos que são significativos ao processo de implicação subjetiva do sujeito para com seu nome familiar.
Diante disso, ao trabalho que se propõe a abranger um contexto étnico diverso, também cabe explorar os recursos e limitações de contextos e saberes coloniais, o que se constitui como um dos propósitos dos estudos etnopsicológicos. Nesse sentido, um estudo com nomes próprios e com embasamento teórico psicanalítico, longe de implicar uma adesão acrítica ou subserviência colonial, visa igualmente explorar e circunstanciar o alcance da sua aplicação, delimitando-a.
De Dourados a Alandroal, o significante Terena percorre um arco tensionado pela travessia atlântica, não apenas entre a origem ibérica e uma eventual ancestralidade ameríndia, mas também pela eventual incorporação africana bantu. Na hipótese de o sobrenome Terena originar-se de Portugal ou outra localidade, supõe-se a ressignificação de um nome previamente atrelado a outro contexto, perante a função sobredeterminante do significante, subsumido ao campo étnico.
Com base, portanto, na proposição de que os nomes próprios são entendidos tanto como designadores rígidos como admitindo uma descrição e/ou sentido, este, precisamente o sobrenome étnico que se faz substantivo de uma origem, conflui experiências históricas e memórias sociais, as quais, deste modo, produzem significados e sentidos de si neste intervalo entre a condição de significante puro e portando significados múltiplos. Tais representações são constituídas e eventualmente reconstituídas com base em suposições relativas à origem do nome em pauta, com repercussões em termos de identificação e implicação subjetiva derivadas de tal ou qual genealogia, da combinação entre diversas delas ou ainda da sua invenção.
Considerações finais
Diante do objetivo de investigar as possíveis ressonâncias de sentidos e significados procedentes do significante do sobrenome ameríndio de uma família, utilizou-se o recurso do estudo de caso no intuito de inaugurar uma contribuição ao tema. Ilustrou-se como os sentidos emergentes do referido significante podem estar enredados ao processo de constituição da população multiétnica brasileira, a partir de uma expressão micro-histórica da fundação do país, entre acertos e desacertos de memórias familiares.
O nome, termo com a função de inscrever alguém no domínio da linguagem, fornece uma via de identificação de alguém no campo social e diante da própria história. O sujeito, então, compõe diferentes significações e posicionamentos relativos a ele, ao longo da vida. A marca proporcionada pela nomeação constitui uma orientação para tais processos de identificação. Estes processos, no caso do sobrenome ameríndio, envolvem um regime simbólico étnico de todo um povo. Estabelecem, assim, traços significantes compartilhados coletivamente, ainda que o nome não se refira à origem biológica de fato. A depender da suposição de origem do nome, as consequências relativas à identificação e à implicação subjetiva adquirem diferentes configurações, como exemplificado pelas hipóteses apresentadas, que se pautam nos sentidos delineados pelas articulações significantes concernentes a cada uma delas ou em entrelaçamento.
No caso de o sobrenome se originar, de fato, da ancestralidade ameríndia, pode-se falar em um processo de retomada de memórias familiares filiadas à origem indígena concretizada no nome pessoal, guardando a dimensão coletiva que diz respeito ao pertencimento a um povo. Em relação às possibilidades de alteração do registro civil, a partir de 2014, foi legalmente autorizada a inclusão de nomes de origem africana e indígena nos documentos de identidade, sejam estes de origem familiar ou não. Diante do histórico de etnocídio das populações indígenas e das diversas formas de tentativas de apagamento de culturalidades, a acentuação de elementos que buscam a afirmação identitária, como a que se faz por meio do nome, promove um lugar de existência e resgate simbólico ao gerar visibilidade e enfatizar especificidades entre diferentes origens étnicas.
Nesse sentido, a pesquisa fornece um canal de escuta e circulação de vozes frequentemente renegadas social e familiarmente, aqui exemplificadas pelo aspecto da possível ascendência indígena e/ou afrodescendente. Além disso, lança luz a processos de subjetivação e etnicização, em um cenário social onde predomina o recalcamento das origens nativas constituintes da população brasileira. Tais processos de transformações, exemplificados pelas mudanças no campo da nomeação, são plenos de consequências tanto em termos de vivências singulares como para o destino e a sobrevivência de etnias, mediante arranjos e combinações no campo psíquico e social.
Embora à primeira vista o sobrenome Terena evoque o povo do mesmo nome, constatou-se que na memória familiar se encontra enredado no processo de miscigenação do Brasil e no caso submetido às ambiguidades e imprecisões próprias do funcionamento da memória, de fantasias e sob forças sociais de recalcamento.
Considerando as limitações do estudo de caso desenvolvido, o qual é delimitado pela narrativa de membros de uma família que carregam o sobrenome Terena, são necessários estudos futuros que investiguem e englobem sobrenomes de etnias variadas, em vista da compreensão de outros possíveis enredamentos étnicos e subjetivos traçados por sobrenomes que de fato ou supostamente se originem de etnônimos indígenas, uma vez que a repercussão simbólica desses significantes pode abrir-se e manifestar sentidos distintos do mundo do branco, ainda que na sua forma nominativa a ele entrelaçados. Também, se faz necessário investigar eventuais efeitos da reconversão e redução de um nome de etnia, referente a todo um povo, para um sobrenome de família, bem como os eventuais efeitos das transformações e entrecruzamentos de particularidades onomásticas concernentes a cada etnia nesses processos.
Referências
- Bairrão, J. F. M. H. (1999). Santa Bárbara e o divã. Boletim Formação em Psicanálise, 8(1), 25-38. Recuperado de https://bit.ly/3ibciI6
» https://bit.ly/3ibciI6 - Bairrão, J. F. M. H. (2015). Etnografar com Psicanálise: psicologias de um ponto de vista empírico. Cultures-Kairós-Revue d’Anthropologie des Pratiques Corporelles et des Arts Vivants, 5. Recuperado de https://bit.ly/3WIBlBg
» https://bit.ly/3WIBlBg - Barros, M. L., & Bairrão, J. F. M. H. (2010). Etnopsicanálise: embasamento crítico sobre teoria e prática terapêutica. Revista da Spagesp, 11(1), 45-54. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v11n1/v11n1a06.pdf
» http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v11n1/v11n1a06.pdf - Bodenhorn, B., & vom Bruck, G. (2006). “Entangled in histories”: an introduction to the anthropology of names and naming. In G. vom Bruck, & B. Bodenhorn, (Eds.), The anthropology of names and naming (pp. 1-30). Cambridge: Cambridge University Press.
- Calligaris, C. (1991). Hello Brasil!: notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil. São Paulo, SP: Escuta.
- Carneiro da Cunha, M. (2013). Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. São Paulo, SP: Companhia das Letras.
- Carneiro da Cunha, M. (2009). Etnicidade: da cultura residual mas irredutível. In M. C. Cunha, Cultura com aspas e outros ensaios (pp. 235-244). São Paulo, SP: Cosac Naify.
- Cunha, R. D. (2007). Deslocamentos: o entre-lugar do indígena na literatura brasileira do século XX. Portuguese Cultural Studies, 1(1), 51-62. doi: 10.7275/R52N5069
» https://doi.org/10.7275/R52N5069 - Decreto nº 19.710. (1931, 18 de fevereiro). Obriga ao registo, sem multa, até 31 de dezembro de 1932, dos nascimentos ocorridos no território nacional, de 1 de janeiro de 1889 até a publicação do presente decreto. Diário Oficial da União. Recuperado de https://bit.ly/3X9iO0V
» https://bit.ly/3X9iO0V - Farage, N. (1991). As muralhas dos sertões: os povos indígenas no Rio Branco e a colonização. São Paulo, SP: Paz e Terra.
- Faustino, S. K. S. (2020). O protagonismo indígena e a colonização brasileira e a historiografia recente. Revista em Favor de Igualdade Racial, 3(2), 146-158.
- Frege, G. (2009). Lógica e filosofia da linguagem (P. Alcoforado, trad., 2a ed.). São Paulo, SP: Edusp. (Trabalho original publicado em 1978).
- Godoy, D. B. D. O. A., & Bairrão, J. F. M. H. (2014). O método psicanalítico aplicado à pesquisa social: a estrutura moebiana da alteridade na possessão. Psicologia Clínica, 26(1), 47-68. doi:10.1590/S0103-56652014000100005.
» https://doi.org/10.1590/S0103-56652014000100005 - Gonçalves, M. A. (1992). Os nomes próprios nas sociedades indígenas das terras baixas da América do Sul. BIB: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, (33), 51-72. Recuperado de https://bit.ly/3WZYbnJ
» https://bit.ly/3WZYbnJ - Kripke, S. (2012). O nomear e a necessidade. Lisboa: Gradiva. (Trabalho original publicado em 1972).
- Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiana. In J. Lacan, Escritos(pp. 807-842). Rio de Janeiro, RJ: Zahar. (Trabalho original publicado em 1960).
- Lacan, J. (2003). O Seminário, livro 9: a identificação, 1961-1962. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife.
- Lacan, J. (2006). O seminário, livro 12: problemas cruciais para a psicanálise, 1964-1965. Recife, PE: Centro de Estudos Freudianos do Recife.
- Lei nº 6.015. (1973, 31 de dezembro). Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Recuperado de https://bit.ly/2vPeyt8
» https://bit.ly/2vPeyt8 - Masson, C. (2011). La langue des noms: changer de nom, c’est changer de langue. Cliniques méditerranéennes, (1), 171-186. doi: 10.3917/cm.083.0171
» https://doi.org/10.3917/cm.083.0171 - Mill, J. S. (1984). Sistema de lógica dedutiva e indutiva. In Os pensadores: Jeremy Bentham, John Stuart Mill (J. M. Coelho, trad., 3a ed., pp. 75-156). São Paulo, SP: Abril Cultural. (Trabalho original publicado em 1843).
- Moreira, V. M. L. (2015). Territorialidade, casamentos mistos e política entre índios e portugueses. Revista Brasileira de História, 35(70), 17-39. doi: 10.1590/1806-93472015v35n70006.
» https://doi.org/10.1590/1806-93472015v35n70006. - Palma, R. D., & Truzzi, O. (2018). Renomear para recomeçar: lógicas onomásticas no pós-abolição. Dados: Revista de Ciências Sociais, 61(2), 311-340. doi: 10.1590/001152582018154
» https://doi.org/10.1590/001152582018154 - Pereira, L. M. (2009). Os Terena de Buriti: formas organizacionais, territorialização e representação da identidade étnica. Dourados, MS: Editora UFGD.
- Perrone-Moisés, B. (1992). Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII). In M. C. Cunha (Orgs.), História dos índios no Brasil (pp. 116-132). São Paulo, SP: Companhia das Letras , Fapesp, Secretaria Municipal De Cultural.
- Ramos, A. R. (1977). O público e o privado: nomes pessoais entre Sanumá. Anuário Antropológico, 1(1), 13-38. Recuperado de https://bit.ly/3GfTcbx
» https://bit.ly/3GfTcbx - Rocha, L., & Duarte, C. (2002). Igreja de S. Pedro (Terena). Revista portuguesa de arqueologia, 5(2), 393-416.
- Rosa, M. (2015). Lacan com Kripke: o real em jogo no nome próprio lido como um designador rígido. Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica, 18(1), 115-130. doi: 10.1590/S1516-14982015000100009
» https://doi.org/10.1590/S1516-14982015000100009 - Rotta, R. R., & Bairrão, J. F. M. H. (2007). Inscrições do feminino: literatura romântica e transe de caboclas na umbanda. Revista Estudos Feministas, 15(3), 629-646. doi: 10.1590/S0104-026X2007000300007
» https://doi.org/10.1590/S0104-026X2007000300007 - Russell, B. (1905). On denoting. Mind, 14(56), 479-493. Recuperado de https://bit.ly/3Q9ABTf
» https://bit.ly/3Q9ABTf - Santos, A. B. D. (2015). Colonização, quilombos: modos e significações. Brasília, DF: INCTI, UnB. CNPq, MCTI.
- Santos, J. T. (1995). O dono da terra: o caboclo nos candomblés da Bahia. Salvador, BA: Sarah Letras.
- Seeger, A., Matta, R., & Viveiros de Castro, E. (1979). A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu Nacional, (32), 2-19. Recuperado de https://bit.ly/3ifBTPV
» https://bit.ly/3ifBTPV - Tesone, J. E. (2009). Inscrições transgeracionais no nome próprio. Jornal de Psicanálise, 42(76), 137-157.
- Tiveron, J. D. P., & Bairrão, J. F. M. H. (2015). A memória social indígena: a psicologia em questão. In H. V. Martins, M. R. V. Garcia, M. A. Torres, & D. K. Santos (Orgs.), Intersecções em Psicologia Social: raça/etnia, gênero, sexualidades (vol. 7, pp. 13-31). Florianópolis, SC: Abrapso Editora.
- Viveiros de Castro, E. (1986). Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro, RJ: Zahar .
- Viveiros de Castro, E. (1992). O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem. Revista de Antropologia, 35, 21-74. doi: 10.11606/2179-0892.ra.1992.111318
» https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.1992.111318 - Wittgenstein, L. (2017). Investigações filosóficas (J. J. R. L. Almeida, trad.). Campinas, SP: Editora Unicamp (Trabalho Original Publicado em 1953).
- Zilberman, R. (1994). A terra em que nasceste: imagens do Brasil na literatura. Porto Alegre, SP: Editora da UFRGS.
-
1
Recuperado de https://forebears.io/surnames/terenas
-
2
Recuperado de https://forebears.io/surnames/terena
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
17 Jul 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
04 Out 2022 -
Revisado
31 Maio 2022 -
Aceito
15 Dez 2022