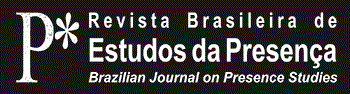RESUMO
Estratégias Artísticas na Videodança Fôlego: escravidão e necropolítica em Campinas (SP-Brasil) – Este artigo investiga a videodança Fôlego (2018), cuja temática aborda a violência praticada contra os corpos negros na contemporaneidade. Para tal apreciação, este trabalho fez um breve panorama acerca da historicidade da escravidão no Brasil, em especial sobre a cidade de Campinas (SP), local de criação da obra, tendo como eixo norteador o conceito de necropolítica (Mbembe, 2016). Logo, o artigo discute o processo virtual de criação em videodança (Angeli, 2020), contribuindo para o debate acerca de diferentes territorialidades da cena e para as provocações político-sociais na dança.
Palavras-chave:
Dança; Necropolítica; Videodança; Escravidão; Campinas
RÉSUMÉ
Cet article étudie le vidéodanse Fôlego (2018), dont le thème aborde la violence exercée contre les corps noirs à l'époque contemporaine. Pour une telle appréciation, ce travail a fait un bref aperçu de l'historicité de l'esclavage au Brésil, en particulier de la ville de Campinas (SP), lieu de création de l'œuvre, ayant comme axe directeur le concept de nécropolitique (Mbembe, 2016). Par conséquent, l'article traite du processus virtuel de création de vidéodanse (Angeli, 2020), contribuant au débat sur les différentes territorialités de la scène et les provocations politiques et sociales en danse.
Mots-clés:
Danse; Nécropolitique; Vidéodanse; Esclavage; Campinas
ABSTRACT
Artistic Strategies in the Screendance Fôlego: slavery and necropolitics in Campinas (SP-Brazil) – This article explores the screendance Fôlego (2018), whose theme addresses the violence practiced against black bodies in contemporary times. To that end, this work presents a brief overview about the historicity of slavery in Brazil, in particular, about the city of Campinas (SP), place of creation of the work, based on the concept of necropolitics (Mbembe, 2016). Therefore, the article discusses the virtual process of creation in screendance (Angeli, 2020), contributing to the debate about the different territorialities of the performance and the political and social provocations in dance.
Keywords:
Dance; Necropolitics; Screendance; Slavery; Campinas
Introdução
Este texto analisa a videodança Fôlego1 1 Videodança disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z3pswwOzObw&t=213s. Acesso em: 27 jan. 2023. com o objetivo de refletir sobre parte da poética da videodança, suas especificidades e suas potencialidades em relação às produções artísticas da dança na contemporaneidade. Nesta direção, pode-se afirmar que a videodança é uma linguagem híbrida, pertencente às áreas da dança, do cinema e demais campos audiovisuais. Tal linguagem se utiliza da relação entre dança e tecnologia, a fim de construir sua expressividade.
Uma vez que o movimento do corpo se insere na virtualidade, a videodança se mostra como uma força para a abordagem de diferentes discursos poéticos, igualmente atrelados ao corpo e ao movimento, estabelecendo distintas relações, leituras e significados a partir de sua condição imagética e da organização de seus elementos estéticos virtualizados (corpo, espaço, movimento, narrativa, imagem etc.). Sendo assim, sua condição virtual possibilita evidenciar aspectos históricos, sociais e políticos relevantes à existência dos sujeitos na sociedade contemporânea, adotando diferentes perspectivas em relação à dança realizada de maneira estritamente presencial.
Nesse espectro, a videodança Fôlego (2018) apresenta como temática a violência praticada contra os corpos negros na contemporaneidade. Desse modo, a análise da obra se apoia nos referenciais acerca da necropolítica presentes nos estudos de Achille Mbembe (2016)MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista do PPGAV, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-151, dez. 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993. Acesso em: 24 jun. 2020.
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/ar...
para justificar um percurso histórico que se inicia no período colonial brasileiro, tendo como recorte geográfico a cidade de Campinas (SP).
Esse recorte busca associar a escravidão e a ascensão das culturas de café e de cana-de-açúcar no interior paulista, mostrando parte de seus desdobramentos na atualidade. A obra se utiliza de imagens como elementos estéticonarrativos, visando criar conexões entre historicidade – em que a escravidão e o racismo estiveram fortemente presentes – e atualidade, denunciando os diferentes desdobramentos que a escravidão, a exploração e a violência infiltram no cotidiano dos corpos negros, em especial na cidade de Campinas, criando diferentes formas de racismo.
O Brasil, com suas intensas contradições, comporta a existência de leis trabalhistas, conquistadas com muitos embates e lutas, e convive profundamente com trabalhos análogos à escravidão, subvertendo o entendimento tácito da constituição e de suas vertentes democráticas. A escravidão, vista como algo datado e quase lendário por parte da população, passa a ser debatida e investigada ao longo dos séculos XX e XXI na busca de suas origens e prováveis consequências.
Tal temática foi explorada pela obra Fôlego (2018) a partir da linguagem da videodança, que, em linhas gerais, carrega corpos, espaços e demais elementos como eixos narrativos, construídos a partir da virtualidade. Assim, a videodança expande os limites expressivos da dança ao conquistar novos territórios, contaminados pela tecnologia e pelas redes de comunicação.
A partir do breve escopo apresentado, as reflexões presentes neste texto buscam analisar as categorias de poder que se desdobraram no tempo, culminando em diferentes dimensões do racismo estrutural na atualidade:
A escravidão, a colonização e o apartheid são considerados não só como tendo aprisionado o sujeito africano na humilhação, no desenraizamento e no sofrimento indizível, mas também em uma zona de não-ser e de morte social caracterizada pela negação da dignidade, pelo profundo dano psíquico e pelos tormentos do exílio. Em todos os três casos, supõe-se que os elementos fundamentais da escravidão, da colonização e do apartheid são fatores que servem para unificar o desejo africano de se conhecer a si mesmo, de reconquistar seu destino (soberania) e de pertencer a si mesmo no mundo (Mbembe, 2001, p. 174MBEMBE, Achille As Formas Africanas de Auto-Inscrição. Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, ano 23, n. 1, p. 171-209, 2001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/eaa/a/ddR69Y7Ptm6KDvv4tmHSvbF/abstract/?lang=pt. Acesso em: 23 jan. 2023.
https://www.scielo.br/j/eaa/a/ddR69Y7Ptm... ).
Traçando associações entre a necropolítica apresentada acima e no Brasil, além de seu acoplamento nas tessituras políticas do cotidiano campineiro, pretende-se justificar a relação entre a feitura da videodança Fôlego, objeto de estudo do presente texto, e a escolha estética do trabalho diante da circunstância dada pela normativa de exclusão dos corpos negros e pobres na organização da cidade. Ou seja, metodologicamente, o artigo fez uma breve revisão bibliográfica acerca das noções de videodança, visando contextualizar a obra analisada. No campo temático, o presente texto se apropriou do conceito de necropolítica (Mbembe, 2016MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista do PPGAV, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-151, dez. 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993. Acesso em: 24 jun. 2020.
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/ar...
), buscando construir o escopo em que a obra artística se assenta.
Nessa lógica, a videodança Fôlego2 2 Dentre as principais exposições do trabalho, Fôlego integrou a programação do Festival Internacional de Dança para a Tela de Freiburg, ocorrido na Alemanha, no ano de 2021; além disso, participou do Encontro Internacional de Videodança e Videoperformance de Valência na Espanha, em 2020. No Brasil, o trabalho integrou a terceira edição do Festival Internacional de Videodança Sans Souci - Edição Brasil, em 2022; a Mostra de Dança 2021 do Programa de Qualificação em Artes POIESIS; a Mostra Ibero-Americana de Videodança Midiadança, ocorrida no Ceará, em 2020; o 12º Festival de Videodança de São Carlos, realizado em 2018, entre outros eventos. foi produzida em 2018 pela Cia. Eclipse Cultura e Arte3 3 A Cia. Eclipse Cultura e Arte é uma companhia de dança sediada na cidade de Campinas (SP), fundada em 2002 e dirigida por Ricardo Cardoso (Kico Brown) e Ana Cristina Ribeiro (Ana Cris). A companhia atua no cenário artístico-cultural brasileiro e internacional com propostas que investigam a linguagem das danças urbanas, explorando o universo cultural do hip-hop sob uma visão contemporânea. Além do trabalho de criação e pesquisa, a companhia atua com projetos sociais, levando a arte para comunidades periféricas e carentes de Campinas, oferecendo cursos, vivência e formações artísticas. , sob a direção de Diogo Angeli e interpretada pelos dançarinos Wagner Silva e Hiago Ramos, e fez parte do projeto Côncavo e Convexo, realizado pela companhia em 2018 e contemplado com a lei de incentivo cultural ProacSP. O projeto homenageia a vida e obra do maestro
Carlos Gomes, refletindo sobre as questões do corpo negro e o paradoxo clássico-popular. Consequentemente, os autores deste texto participaram do âmbito criativo da obra e, na condição de pesquisadores, analisaram tal prática como percurso metodológico para a construção deste artigo.
A escravidão em Campinas: um breve voo panorâmico sobre a marca da vergonha
Em 13 de maio de 1988, o decreto da Lei Áurea oficializa o fim da escravidão no Brasil. Evidentemente, podemos olhar a afirmação acima como uma falácia, cujos registros oficiais dizem eliminar tal “regime de trabalho”, pautado na servidão involuntária das pessoas negras. No entanto, há diversos registros que culminam em diferentes formas de escravidão humana até a atualidade, mostrando um Brasil paralelo que ainda permite que um ser humano seja objetificado, escravizado e transformado em mera propriedade alheia, uma ideia de seres abjetos e sem humanidade.
Nesse espectro, trazemos o recorte geográfico que deu origem à videodança Fôlego (2018): a cidade de Campinas (SP). Considerada uma das últimas cidades a decretar o fim da escravidão no Brasil, Campinas foi parte do objeto de pesquisa para a feitura do trabalho artístico, cujo simbolismo colonial se transformou em plataforma para a investigação estética, culminando, assim, na videodança em questão. Tal trabalho parte dos vestígios da escravidão presentes em diferentes espacialidades da cidade, cuja envergadura de polo colonial apresenta, em sua origem, a centralidade significativa de uma espécie de metrópole, formada e comprometida com a escravidão:
O clima propício favoreceu o sucesso da produção agrícola açucareira nesta região, juntamente com solo de terra roxa, que forneciam toda a estrutura para o cultivo da cana de açúcar. Esses fatores, unidos ao trabalho escravo que formavam as grandes fazendas de açúcar desta região, mais a experiência dos senhores em administrar estas fazendas, foram a base para que o conhecido Oeste Paulista se tornasse um dos lugares mais favoráveis para o cultivo e desenvolvimento do café. Assim como em outras cidades da região o café foi extremamente importante para o crescimento de Campinas (Castro; Papali, 2018, p. 2CASTRO, Gabriela Tardelli; PAPALI, Maria Aparecida Ribeiro. Resistência a Escravidão: suicídio de escravos em Campinas durante o período de 1871 a 1877. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22., ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 18., e ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2018, Vale do Paraíba. Anais [...]. Vale do Paraíba: UNIVAP, 2018. P. 1-5.).
Iniciando um voo panorâmico, trazemos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujo censo demonstra que, em 1874, “[...] a população de Campinas formava-se de 31.397 habitantes, sendo 43,6% cativos; no Censo de 1886, apesar da proximidade com o fim da escravidão, 24,2% da população de 41.253 habitantes ainda viviam sob o regime de trabalho escravo” (Abrahão, 2017, n. p.ABRAHÃO, Fernando Antônio. Escravidão e Abolicionismo em Campinas. IHGG-Campinas, Campinas, 9 jun. 2017. Disponível em: https://ihggcampinas.org/2017/06/09/escravidao-alguns-resultados-do-abolicionismo-em-campinas/. Acesso em: 30 out. 2022.
https://ihggcampinas.org/2017/06/09/escr...
).
Tal estatística demonstra a resistência de uma elite colonial em modificar a estrutura escravagista nas relações políticas e sociais, parte central de sua economia. Esse fato demonstra uma abolição falseada, cujas mudanças foram demasiadamente lentas, graduais e sem qualquer punição aos escravagistas:
No Ocidente, a realidade é a de um grupo composto por escravos e homens de cor [sic.] livres que vivem, na maior parte dos casos, nas zonas cinzentas de uma cidadania nominal, no meio de um estado que, apesar de celebrar a liberdade e a democracia, é, fundamentalmente, um estado escravagista. Ao longo deste período, a escrita da história tem uma dimensão performativa. A estrutura de tal performance é de ordem teológica. O objetivo passa de fato por escrever uma história que reabre para os descendentes de escravos, a possibilidade de voltarem a ser agentes da própria história. No prolongamento da Emancipação e da Reconstrução, a reescrita da história é, mais do que nunca, considerada um ato de imaginação moral (Mbembe, 2014, p. 60MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. Antígona: Lisboa, 2014.).
A força de trabalho escravizado se manteve corriqueiramente até a imigração em massa de mão de obra europeia que chega a São Paulo no fim do século XIX. Com isso, Campinas recebeu, ao longo dos séculos XVIII e XIX, grande contingente de pessoas negras escravizadas, transformando-se em um centro econômico paulista de mão de obra escrava em suas territorialidades rurais, voltadas para a agricultura em geral. Sua riqueza se constrói a partir do direito à propriedade de pessoas escravizadas, elevando a cidade aos altos padrões de crescimento econômico, pautados na tortura e na negação do outro como ser humano, no caso, as pessoas negras.
À luz da discussão escravista, Campinas teve predomínio nas passagens da economia açucareira para a economia cafeeira, derivando em grandes contingentes de pessoas escravizadas na condição de mão de obra predominante em ambos os formatos agrícolas previamente explanados. A cidade recebeu a alcunha de “Princesa D’oeste” como parte integrante do Estado Imperial e, posteriormente, do Estado Republicano (Cunha; Ribeiro, 2018CUNHA, Maísa Faleiros da; RIBEIRO, Maria Alice Rosa. A “Segunda Escravidão” na Princesa do Vale (Vassouras, RJ) e na Princesa do Oeste (Campinas, SP), 1797-1888. História (São Paulo), São Paulo, v. 37, 2018.).
Nesse sentido, é importante salientar que, no Brasil, não há, necessariamente, a relação direta entre a ideia de ser republicano e, necessariamente, não escravista. Sendo assim, parte da escravidão em Campinas não foi persistentemente combatida pelas elites agrárias pró-repúblicas, numa ideia de equivalência entre o abolicionismo e os referenciais ideológicos de igualdade e de liberdade anticolonial.
Contrariamente a isso, a substituição de mão de obra escravizada cede passagem gradativa a uma nova ideia de cidade, pautada nas mãos de obras de imigrantes europeus, gerando, assim, contradições entre uma cidade que desejava ser vista como uma espécie de metrópole moderna, calcada na revolução industrial, mas que carregava em si as peculiaridades próprias do sistema colonial. Tal resistência pode ser percebida, entre outros aspectos, pela lucratividade do comércio de cativos, de pessoas escravizadas, como grande impacto na economia local:
A maior parte dos cativos comprados (34%) tinha idade entre 16 e 20 anos. Em seguida, chama a atenção que o segundo maior grupo etário estava concentrado entre 11 e 15 anos de idade, representando 24% dos escravos sulistas vendidos naquele município paulista. Por fim, outros grupos com grande representação era aqueles entre 21 a 25 anos, contabilizando 21% dos cativos, e de 26 a 30 anos, somando 9%. Temos assim um quadro de transferência de escravos jovens, nascidos nas províncias do Sul e separados de suas famílias através dessas vendas. Essa preferência por trabalhadores jovens também se insere no que tradicionalmente a historiografia aponta como a principal concentração do mercado de escravos (Scheffer, 2009, p. 4SCHEFFER, Rafael da Cunha. Escravos do Sul Vendidos em Campinas: cativos, negociantes e o comércio interno de escravos entre as províncias do sul do Brasil e um município paulista (década de 1870). In: ENCONTRO ESCRAVIDÃO E LIBERDADE NO BRASIL MERIDIONAL, 4., 2009, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: UFPR, 2009. Disponível em: http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos4/rafaeldacunhascheffer.pdf. Acesso em: 30 out. 2022.
http://www.escravidaoeliberdade.com.br/s... ).
A escassez de trabalho qualificado, a necessidade de expansão das fronteiras agrícolas e o advento da Revolução Industrial, ainda que tardia, não geraram de imediato uma mudança no pensamento escravista dos proprietários rurais, problematizando as possíveis rupturas com o sistema colonial, mantendo-se como a capital agrícola da província:
O processo de modernização vivenciado por Campinas, a partir do século XIX, conviveu com uma contradição básica, a existência da escravidão. A aristocracia cafeeira, que detinha os meios de produção, bem como o poder político e econômico, foi a camada, que inicialmente se beneficiou diretamente desse processo de modernização, pois, importava o progresso por meio de modelos europeus, e em contrapartida, sustentava esse progresso, com a exportação do café. Apesar de Campinas ter vivenciado um rápido progresso econômico, a cidade ainda preservava características daquela pequena vila colonial. A cidade vivia a contradição entre o moderno e o arcaico. A sociedade espelhava-se nos padrões europeus de comportamento, de vida e de produção, porém, a presença da escravidão, perpetuava práticas que eram um fator de desestabilização e de contradições (Zero, 2009, p. 2ZERO, Arethuza Helena. Escravidão e Liberdade: as alforrias em Campinas no século XIX. 2009. 180 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Econômico) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009. Disponível em: https://www.abphe.org.br/uploads/Banco%20de%20Teses/escravidao-e-liberdade-as-alforrias-em-campinas-no-seculo-xix-1830-1888.pdf. Acesso em: 17 out. 2022.
https://www.abphe.org.br/uploads/Banco%2... ).
Nesse contexto, Campinas legitimou em seu cotidiano os aspectos consensuais de uma elite que se apoiou na lógica entre senhores e pessoas escravizadas, criando tensões inerentes às injustiças sociais, abarcando, assim, um pensamento colonial que atravessou o século XX e trazendo enunciados de poder e de exclusão de uma parcela significativa da população atual campineira: as pessoas negras.
A necropolítica na atualidade e sua subjetivação no cotidiano
Considerar a necropolítica de Achille Mbembe (2016)MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista do PPGAV, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-151, dez. 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993. Acesso em: 24 jun. 2020.
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/ar...
como mera amplitude, destroncamento e atualização do pensamento foucaultiano acerca do biopoder é dar certo caráter reducionista à política de morte que atua como estratégia de Estado na América Latina. Logo, a atuação do poder sobre as periferias, frutos de uma colonização genocida e duradoura, evidencia as máquinas de guerra que o poder soberano ainda possui, prevendo que os cidadãos periféricos são inimigos internos e devem ser constantemente combatidos.
Nesse sentido, Mbembe (2016)MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista do PPGAV, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-151, dez. 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993. Acesso em: 24 jun. 2020.
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/ar...
alega que o Estado de exceção não inaugura uma política recortada em determinado espaço e em um breve período de tempo, mas se normatiza até se banalizar em uma espécie de uma guerra inacabável. Porém, o inimigo agora não é mais externo nem distante; é o sujeito vulnerável do qual o Estado deveria ter o compromisso constitucional de defender.
Nessa perspectiva, o corpo a ser constantemente atacado – até ser visto como abjeto – é o corpo que sempre foi exposto, torturado, rifado e escravizado durante o período colonial: o corpo negro. Então, os mecanismos de controle da colonialidade agem por várias frentes: políticas, econômicas, religiosas, culturais etc., criando formas cíclicas de extermínio:
Esse poder sobre a vida do outro assume a forma de comércio: a humanidade de uma pessoa é dissolvida até o ponto em que se torna possível dizer que a vida do escravo é propriedade de seu dominador. Dado que a vida do escravo é como uma ‘coisa’ possuída por outra pessoa, sua existência é a figura perfeita de uma sombra personificada (Mbembe, 2016, p. 132MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista do PPGAV, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-151, dez. 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993. Acesso em: 24 jun. 2020.
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/ar... ).
Já na atualidade, o campo da subjugação dos corpos e das vidas humanas fere a própria constituição. Porém, há um complexo exercício retórico em termos de política institucional, que justifica o racismo como dispositivo de diversas operações policiais na periferia e a condição de matar em grande escala como política de Estado.
Mbembe (2016)MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista do PPGAV, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-151, dez. 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993. Acesso em: 24 jun. 2020.
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/ar...
expõe a forma operacional do Estado para criar justificativas que normatizem a barbárie desde a colonização: a partir de uma ideia de objetificação dos seres humanos que instrumentaliza os corpos negros como meras mercadorias descartáveis, garantindo o lucro imediato. Assim, os (pré-)conceitos racializantes buscaram retirar qualquer camada de subjetividade dos sujeitos desde a escravidão, ultrapassando, assim, as barreiras coloniais entre corpos que importam e corpos que não importam na contemporaneidade:
As guerras da época da globalização, assim, visam forçar o inimigo à submissão, independentemente de consequências imediatas, efeitos secundários e ‘danos colaterais’ das ações militares. Nesse sentido, as guerras contemporâneas são mais uma reminiscência das estratégias de guerra dos nômades do que das guerras territoriais de ‘conquista-anexação’ das nações sedentárias da modernidade (Mbembe, 2016, p. 139MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista do PPGAV, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-151, dez. 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993. Acesso em: 24 jun. 2020.
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/ar... ).
Como no resto do Brasil, Campinas passou por processos de incorporação e de subjetivação da necropolítica a partir de sua política econômica, cujas origens foram brevemente expostas no item anterior. Isso ampliou os dispositivos de matriz neoliberal de destituição dos direitos trabalhistas, de práticas precarizadas de trabalho, de fornecer as piores moradias e condições de viver para a população negra e pobre em geral:
No Brasil, a gestão de segurança pública segue sob comando de mãos violentas e racistas e, como consequência, temos o descaso total para com vidas negras nas periferias. E, como se isso não bastasse, temos um direcionamento racista das instituições para se efetivar a gestão da vida e morte dessas populações. Essa administração da segurança pública que gere a vida dessas populações e define, a partir de ideais racistas, quem e como essa população deve morrer é a realidade necropolítica brasileira. Sob o disfarce de uma guerra de combate às drogas nas comunidades periféricas, estados brasileiros promovem genocídio de populações sem pudor algum e mesmo que digam não direcionar suas políticas dessa forma os números nos mostram diariamente o contrário. Em 2019, por exemplo, cerca de 5800 pessoas foram mortas pela polícia no país. Entre 2017 e 2018, mais de 75% dos mortos pela polícia foram pessoas negras (Ferreira, 2020, n. p.FERREIRA, Levi Kaique. Necropolítica: a gestão da morte nas mãos do Estado. MundoNegro, 20 maio 2020. Disponível em: https://mundonegro.inf.br/necropolitica-a-gestao-da-morte-nas-maos-do-estado/. Acesso em: 30 out. 2022.
https://mundonegro.inf.br/necropolitica-... ).
Pensando em tais implicações, torna-se necessário ponderar sobre práticas artísticas e pedagógicas que caminhem contra a ascensão de tendências totalitárias na busca de um embate em oposição à barbárie, no caso, a videodança Fôlego. A ideia desse trabalho foi discutir e analisar políticas de percepção, geradas a partir de novos olhares estratégicos de sobrevivência, criando, assim, ações sensibilizadoras para possíveis debates sobre apropriações de lugares, sobre modos de viver e diferentes feituras de habitantes das cidades:
No seio de uma divisão planetária do trabalho espoliado que teve início com a expansão colonial europeia, que se caracteriza pelo aprofundamento de sua desregulação, pela multiplicação de fluxos migratórios de homens que devém-negros no sistema internacional da partilha necropolítica daqueles que podem viver ou devem morrer, e que na melhor da hipóteses entrega-nos o empresário de si como forma mais bem sucedida do que o trabalhador livre se tornou em nosso tempo, seria preciso reconhecer que o devir-negro do mundo não é apenas o que nos espera. É o que, desde a invenção do dispositivo da raça, jamais deixou de nos acontecer (Corrêa; Vieira, 2019, p. 398CORRÊA, Murilo Duarte Costa; VIEIRA, Cainã Domit. Necropolítica da Memória Escrava no Brasil Pós-abolição. Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 11, n. 26, p. 368-401, 2019. Disponível em: https://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180311262019368. Acesso em: 30 out. 2022.
https://revistas.udesc.br/index.php/temp... ).
Nessa direção, a necropolítica atual, cujos desdobramentos geram políticas de morte, estatiza a descartabilidade dos corpos pelo capital e foi implicada como parte do trabalho descrito e analisado a seguir.
Videodança: uma expansão poética para a dança na contemporaneidade
É possível pensar que a videodança questiona a estrutura composicional da dança, bem como sua receptividade e suas relações instauradas com o espectador. Tal linguagem possibilita traçar diferentes caminhos para a criação em dança e busca por novos modos organizacionais para o corpo e movimento a partir de sua natureza tecnológica.
A videodança é uma expressão artística híbrida, resultante da comunicação entre a dança e o cinema. Como afirma Angeli (2020)ANGELI, Diogo. A Arte da Videodança: olhares intermidiáticos. Rio de Janeiro: Autografia, 2020., a videodança explora a relação dos elementos presentes nessas áreas de conhecimento como forma de criação. Sua natureza expressiva envolve áreas e saberes do universo corporal, tecnológico, imagético e audiovisual.
O hibridismo – inerente à videodança – nasce do encontro entre a dança, linguagem composta pelo corpo e pelo movimento, a poesia contida em seus gestos, por sua expressividade, o espaço cênico e os demais elementos inseridos em seu processo de criação. A videodança dialoga com o cinema, a arte do imaginário e da ilusão, composta pelo vídeo, pela câmera, pela tela, pelas tecnologias e pela criação de imagens a partir da virtualidade, capaz de capturar, transformar e alterar os referenciais temporais e espaciais do movimento, reconstruindo suas qualidades e sua realidade.
Sua condição híbrida e unificada permite à videodança ampliar as fronteiras da dança e incorporar novos olhares ao corpo a partir da virtualidade, como afirma Rêgo (2013, p. 119)RÊGO, Isa Sara Pereira. Corpos Virtualizados, Danças Potencializadas: atualizações contemporâneas do corpociborgue. 2013. 181 f. Dissertação (Mestrado em Dança) – Programa de Pós-Graduação em Dança, Escola de Dança, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.:
Na videodança a dança é intencionalmente transformada pela tecnologia do vídeo, dando lugar a uma linguagem híbrida com possibilidades múltiplas de expressão. Através da manipulação do tempo, espaço e edições do corpoimagem, o âmbito e a natureza da corporeidade são expandidas, virtualizadas.
Ao transformar o corpo em imagens, a videodança estabelece diferentes relações com o movimento – uma vez que o processo de captação e edição das imagens proporciona novos modos de perceber o tempo e ocupar o espaço – e, com isso, possibilita experimentar distintas maneiras de pensar, realizar, vivenciar e transmitir seu conteúdo poético, além de viabilizar diferentes conexões com a realidade e com o universo perceptivo do espectador.
As imagens, sob o ponto de vista de Costa (2012)COSTA, Alexandre Veras. Kino-Coreografias: entre o vídeo e a dança. In: CALDAS, Paulo (Org.). Dança em Foco: ensaios contemporâneos de videodança. Tradução: Ricardo Quintana. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2012., são carregadas de significados e, nesse sentido, “o mundo deixa suas marcas em cada imagem numa relação indicial” (Costa, 2012, p. 211COSTA, Alexandre Veras. Kino-Coreografias: entre o vídeo e a dança. In: CALDAS, Paulo (Org.). Dança em Foco: ensaios contemporâneos de videodança. Tradução: Ricardo Quintana. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2012.). Nessa condição, quando corpo e movimento são transformados em imagens, novos significados passam a compor sua construção virtual, tornando-se uma ponte para a comunicação expressiva da obra com o espectador em conjunto com outros elementos narrativos, como o espaço, os elementos cênicos, o som, entre outros.
Pensando nas produções em videodança e em suas abordagens poéticas, a câmera e o meio audiovisual promovem múltiplas variações em relação à organização desses elementos da obra. Com isso, novas possibilidades de leitura do material criativo são produzidas ao reorganizar os elementos, permitindo estabelecer novas conexões com o âmbito do sensível:
A associação de planos em uma determinada sequência cria na mente um significado, que é determinado pela verificação de sua conexão, criando uma necessidade de se mediar cada plano e sua relação com a disposição linear dos fatos/enquadramentos. Assim, essa ordem imputada (lê-se intencionalidade), de um plano a outro, cria um interpretante responsável por fazer com que a mente infira e reconheça essas conexões de forma diagramática e produza (efeito) uma compreensão do todo, ou área de informação (Santos, 2013, p. 3SANTOS, Marcelo Moreira. Do Teu Olho Sou o Olhar: sobre intenções, mediações e diálogos no cinema. Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação, Covilhã, 2013. Disponível em: http://bocc.ufp.pt/pag/santos-marcelo-2013-do-teu-olhar-sou-o-olhar.pdf. Acesso em: 10 set. 2022.
http://bocc.ufp.pt/pag/santos-marcelo-20... ).
Nesse sentido, o espectador acompanha a videodança alicerçada pelo movimento em sua condição imagética, na qual o corpo é percebido pela tela e articulado com os demais elementos narrativos. O meio audiovisual compõe, então, outra possibilidade para a dança, agora em formato fílmico, utilizando-se de texturas, planos, enquadramentos, cores, transposições e justaposição de imagens, recortes, entre outros elementos que criam outros sentidos, projetando, assim, diferentes olhares e significados para o espectador.
A cada diferente combinação ou inter-relação dos elementos da videodança, novas percepções podem ser propostas ao espectador. Essas explorações, iniciadas com a presença da câmera no processo de composição da videodança, criam outros desejos à obra, permitindo explorar diferentes possibilidades, estabelecer relações com outras intencionalidades e criar outros olhares para o que é visto na tela.
No caso da videodança Fôlego, a organização dos elementos propostos pode causar uma experiência sensível e provocativa ao espectador, pois a poética da obra visa dialogar a partir de linhas temáticas que se fazem urgentes, apresentando-se como um elemento provocador no que concerne à violência cometida aos corpos negros na contemporaneidade: “[...] tal processo permite que ideias se juntem e que gerem novas perspectivas, novos olhares, novos rearranjos, vazando para a conduta de uma pessoa, mudando-lhe a sensibilidade e os pensamentos” (Santos, 2013, p. 8SANTOS, Marcelo Moreira. Do Teu Olho Sou o Olhar: sobre intenções, mediações e diálogos no cinema. Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação, Covilhã, 2013. Disponível em: http://bocc.ufp.pt/pag/santos-marcelo-2013-do-teu-olhar-sou-o-olhar.pdf. Acesso em: 10 set. 2022.
http://bocc.ufp.pt/pag/santos-marcelo-20...
).
Diante disso, a videodança revela novos percursos para a dança, visto que faz uso da conectividade entre diferentes linguagens, do ciberespaço e de outros elementos que proporcionam diferentes possibilidades para o uso do tempo e do espaço no movimento, agora adaptados às necessidades de uma realidade tecnológica que permeia tal conjuntura. Assim, sua natureza virtualizada atravessa os elementos presentes no universo da dança, estabelecendo novos modos de atuação e de transmissão, além de diferentes formas de abordar o contexto social e coletivo dos sujeitos.
Sobre Fôlego
Fôlego se inicia revelando dois corpos pretos seminus, deitados em um galpão abandonado, debruçados um sobre o outro e cobertos com uma tinta vermelha que se assemelha ao sangue humano. O chão e os corpos manchados pela tinta são enquadrados pela câmera em uma perspectiva top view (vista de cima), e o movimento da câmera parte de um plano aberto para um plano detalhe, enquadrando, em um primeiro momento, o cenário integral do espaço.
Em seguida, a câmera se aproxima lentamente dos corpos, revelando detalhes deles, como o formato de seus músculos, o movimento da respiração e os traços da tinta na pele, visando ampliar, desse modo, os sentidos do espectador, bem como sua curiosidade.
Cena inicial (plano top view) de Fôlego (2018), de Diogo Angeli. Fonte: Imagem cedida pelo autor.
A cena se sucede retratando o movimento desenvolvido pelos corpos nesse espaço, enquadrados em diferentes ângulos. Deitados, os intérpretes iniciam suas ações em movimentos espasmódicos, com contrações musculares criadas a partir de improvisos dirigidos, sugerindo certo estado de agonia, ao mesmo tempo que a tinta vermelha é vista escorrendo pelos mesmos corpos, em suas mãos, braços e costas. Porém, a edição do trabalho propõe mostrar o sangue em um movimento contrário, saindo do chão em direção aos corpos, percorrendo a pele em um sentido antigravitacional. Ou seja, os movimentos dos intérpretes e da tinta vermelha são vistos pelo espectador em uma espécie de retrocesso.
Os corpos se esfregam e se misturam, entrelaçando braços, pernas e troncos na tentativa de deixar o chão. Os corpos demonstram sensações de intimidade, colaboração, cansaço e dor. O contato e os apoios criados pelos corpos possibilitam que se levantem e explorem a movimentação em outros planos espaciais de nível médio e alto.
Quando os intérpretes conseguem ficar em pé, percebe-se que suas mãos estão presas por cordas grossas, amarradas no teto do galpão. Os corpos seguem com seus movimentos, agora sustentados no espaço por essas cordas, como se estivessem pendurados, sugerindo uma conexão com a escravidão do povo negro durante o Brasil-Colônia.
As mãos deslizam sobre a pele manchada de tinta vermelha em uma espécie de ação inversa, reconstruindo os respingos de tinta que escorrem sobre a pele. Além disso, a videodança é composta por um efeito cromático que isola a cor vermelha das demais colorações, permitindo visualizá-la de forma vívida e contrastante, destacando-a dos demais elementos enquadrados.
Também se percebe a existência de uma transição cromática no desenrolar da videodança. As imagens dos corpos e do cenário se iniciam em preto e branco (sem considerar a tinta vermelha que permanece vermelha durante todo o vídeo) e, gradualmente, na medida em que a narrativa se desenvolve, a cena se transforma em uma imagem colorida. Esse efeito deixa a tinta com um aspecto vivo e visceral, adicionando intencionalidade à sua presença na tela, reforçando, desse modo, suas intenções.
Durante a evolução da cena, a tinta é retirada da pele dos intérpretes sem ajuda das mãos ou de qualquer outro suporte, apenas com a força da gravidade forjada pelo estado reverso do vídeo. A tinta é jogada em direções aleatórias do espaço, sendo removida da pele.
Sem a tinta, a câmera realiza um movimento panorâmico circular e revela uma perspectiva aberta da cena, em que se torna possível ver os dois corpos presos por duas cordas suspensas e um galpão sujo e abandonado, ocupado por restos de tábuas, madeiras e maquinários de ferro.
Por fim, os corpos são mostrados pela câmera em uma contraluz, sob o deslocamento em um travelling vertical, e a cena é cortada para a mesma imagem exibida no início do trabalho: os corpos deitados no chão e cobertos de tinta vermelha.
Diante do exposto, percebe-se que a obra explora recursos agregados ao movimento a partir de seu contexto virtualizado. Tal obra evidencia a noção de videodança como uma linguagem que cria outros estados do corpo, possibilitando edições próprias no uso dessa linguagem.
Fôlego: violência, corpo negro e os rastros da escravidão campineira
O corpo, o espaço e o movimento, elementos em destaque na narrativa da videodança Fôlego, possibilitam edificar distintas percepções para o espectador em razão de sua abordagem estética. Tal fato ocorre em virtude da potencialidade que esses elementos exercem na composição da obra em videodança, cuja organização e manipulação na virtualidade possibilitam diferentes modos de conexão entre os elementos internos à obra com elementos externos – relacionados ao contexto cultural, social e político do autor e do espectador –, como o tempo, o espaço, a realidade existencial e o universo perceptivo dos sujeitos que recebem a obra, pois “[...] a ideia de dramaturgia da dança não envolve apenas o corpo, mas, também, as correlações que circundam e compõe o todo de uma peça ou trabalho artístico” (Velloso, 2010, p. 192VELLOSO, Marila. Dramaturgia na Dança: investigação no corpo e ambientes de existência. Sala Preta, São Paulo, USP, v. 10, p. 191-197, 28 nov. 2010.).
Ao considerar a leitura do corpo, nesse sentido, a autora Suquet (2008)SUQUET, Annie. Cenas. O Corpo Dançante: um laboratório de percepção. In: COURTINE, Jean-Jacques (Org.). História do Corpo, vol. 3: as mutações do olhar. O século XX. Petrópolis: Vozes, 2008. P. 509-539. pensa o corpo como um ressonador que reverbera as intencionalidades do artista de modos diretos e indiretos, produzindo fenômenos que possibilitam que sua recepção ultrapasse questões presentes no mundo material, criando intensões e desejos que se alastram sobre o imaginário sensível do espectador e dando origem a outros estados poéticos:
O observador exerce então, e sempre mais, suas faculdades perceptivas em uma paisagem urbana deslocada, percorrida por fluxos incontroláveis de movimentos, de signos e de imagens. Fica invalidada toda distância contemplativa, o morador da cidade participa da mobilidade ambiente, suas representações mentais são irrevogavelmente marcadas pela labilidade das formas (Suquet, 2008, p. 513SUQUET, Annie. Cenas. O Corpo Dançante: um laboratório de percepção. In: COURTINE, Jean-Jacques (Org.). História do Corpo, vol. 3: as mutações do olhar. O século XX. Petrópolis: Vozes, 2008. P. 509-539.).
Assim, elementos como as cordas que amarram os corpos, a tinta vermelha simbolizando o sangue, as posições contorcidas e as ações desenvolvidas pelos corpos durante a narrativa do trabalho, o espaço cênico, entre outros, denunciam tais condutas ao revelar ao espectador sinais acerca do histórico de violências praticadas contra os sujeitos negros.
Além disso, os intérpretes da obra fazem parte do elenco da companhia Eclipse, cujo trabalho desenvolvido com a dança de rua pertence a determinada realidade social e dialoga com as comunidades periféricas ao eleger as danças urbanas e a cultura hip-hop como linguagem e voz de expressão para seus discursos, pois, de acordo com Lima e Silva (2004)LIMA, Patrícia Oliveira de Daniele; SILVA, Ana Márcia. Para Além do Hip Hop: juventude, cidadania e movimento social. Motrivivência, Florianópolis, n. 23, p. 61-82, 2004., o hip-hop é um movimento da periferia, do corpo negro, das classes menos favorecidas; é um movimento social que permite dar voz, visibilidade e representatividade para tais comunidades marginalizadas, uma vez que carrega questões e problemáticas relacionadas às condições de vida da periferia para o contexto artístico, político e social.
Segundo Cunha (2004, p. 2)CUNHA, José Marcos Pinto da et al. A Vulnerabilidade Social no Contexto Metropolitano: o caso de Campinas. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 14., 2004, Caxambu. Anais [...]. Caxambu: ABEP, 2004. P. 1-19., as zonas de vulnerabilidade de Campinas foram criadas em razão do “crescimento populacional e pela periferização do crescimento físico-territorial”, ocasionados pelos altos fluxos migratórios no processo de expansão da cidade na década de 1970, especialmente nas direções sudeste e sul. Esse crescimento ocasionou reflexos estruturais que atingem as comunidades ocupantes de tais espaços até hoje, criando zonas sociais de vulnerabilidades.
A periferia, por muitas vezes, tem moradias precárias, é desprovida de serviços essenciais e carece de espaços de socialização e lazer, de segurança e de ações políticas eficazes que possam minimizar tais diferenças. Com isso, o espaço da cidade é dividido entre ricos e pobres ou, por assim dizer, incluídos e excluídos.
Além da exclusão, práticas violentas também recaem sobre os negros e as comunidades periféricas, revelando cenários de injustiças ao permitir ataques e agressões camufladas, criando diferentes formas de serem praticadas diante das leis e normas legislativas e encontrando pontos de fuga que possibilitam a impunidade e a deliberação de certas condutas.
O histórico de violência e soberania da nação europeia à população negra brasileira, datado desde o período colonial do Brasil, revela discursos hegemônicos, pautados em propósitos econômicos e políticos europeus, e favorece o homem branco e o Capital, ocasionando uma onda de terror e matança que assombra o corpo negro – o corpo-escravizado de antigamente e o corpoperiférico na atualidade –, como apontam Gasperi e Theotonio (2020, p. 6)GASPERI, Marcelo Rocco; THEOTONIO, Diogo Angeli. Mil Litros de Preto: uma poética sobre a necropolítica. Conceição/Conception, Campinas, v. 9, n. 00, p. e020004, 2020. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce/article/view/8660778. Acesso em: 20 out. 2022.
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/in...
:
Com o término do período de escravidão no Brasil, a violência contra sujeitos negros ganha novos contornos e se perdura por meio de outras forças. Em especial, as forças advindas da segurança pública, através das corporações militares, conduzidas pelo poder do Estado, cuja atuação se fortalece nos cenários políticos e sociais a partir da marginalização e da criminalização de tais sujeitos (Gasperi; Theotonio, 2020, p. 6GASPERI, Marcelo Rocco; THEOTONIO, Diogo Angeli. Mil Litros de Preto: uma poética sobre a necropolítica. Conceição/Conception, Campinas, v. 9, n. 00, p. e020004, 2020. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce/article/view/8660778. Acesso em: 20 out. 2022.
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/in... ).
Moraes (2006, p. 122)MORAES, Marcelo Navarro de. Uma Análise da Relação entre o Estado e o Tráfico de Drogas: o mito do poder paralelo. Ciências Sociais em Perspectiva, Cascavel, v. 5, n. 8, 1º sem. 2006. reforça essa condição ao afirmar que “[...] o Brasil está no topo da lista dos países mais desiguais do mundo, abrigando pessoas com qualidades de vida, rendas e oportunidades absurdamente desiguais e que a sociedade brasileira encerra contrastes sociais berrantes, frutos da desigualdade do sistema capitalista”. Com isso, os corpos negros seguem alvos de práticas racistas, injustiças e violência, que os atingem sob múltiplas direções: “[...] a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é ‘des-cartável’ e quem não é” (Mbembe, 2016, p. 135MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista do PPGAV, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-151, dez. 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993. Acesso em: 24 jun. 2020.
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/ar...
).
Assim, ao retratar a exploração, as agressões e a violência contra o corpo negro, a videodança também cria espaços para refletir, questionar e criticar o sistema político e a posição da sociedade frente a tamanha violência, possibilitando analisar as condições de existência dos corpos negros periféricos, que, historicamente, carregam uma herança de exploração e matança, sendo apontados pelos autores Gasperi e Theotonio como “[...] seres humanos escravizados, cujos corpos atravessaram todos os tipos de tortura e de privação, passaram a viver – num período pós-escravidão – quase sempre às margens do capitalismo, diante de um cenário de evidente periculosidade” (Gasperi; Theotonio, 2020, p. 8GASPERI, Marcelo Rocco; THEOTONIO, Diogo Angeli. Mil Litros de Preto: uma poética sobre a necropolítica. Conceição/Conception, Campinas, v. 9, n. 00, p. e020004, 2020. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce/article/view/8660778. Acesso em: 20 out. 2022.
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/in...
) e cujas desigualdades não foram resolvidas.
Ao pensar na escolha dos dançarinos negros que interpretam a videodança Fôlego, torna-se possível direcionar o olhar do espectador sobre os altos índices de violência praticados contra essa parcela da população.
Além dos questionamentos emanados pela análise dos corpos e movimentos presentes na videodança Fôlego, o espaço escolhido pela obra também aprofunda tais discussões ao eleger a cidade de Campinas e a Estação Cultura como locais de exploração, possibilitando criar outras conexões e desdobramentos sobre o contexto da escravidão, agora a partir de um recorte específico: a cidade de Campinas.
O espaço escolhido para a gravação da videodança Fôlego foi a antiga estação ferroviária de Campinas, que, em 2002, foi transformada em espaço cultural – a Estação Cultura ‘Prefeito Antônio da Costa Santos’ –, passando a ser administrada pela Prefeitura Municipal de Campinas. O espaço em questão é utilizado pela companhia Eclipse desde 2006 como um local de encontros, ensaios, práticas e eventos de hip-hop, sendo também dividido com outros praticantes e comunidades das danças urbanas de Campinas e região.
Por esse motivo, o espaço se tornou um ponto de referência da cultura hip-hop para Campinas e região, por reunir artistas consolidados desse segmento e por representar um local de luta e representatividade dessas comunidades e de seus valores culturais, fatores que somatizam e potencializam o discurso de manifesto de Fôlego.
Além disso, o espaço carrega dados importantes sobre a história cultural da cidade que se comunicam diretamente com as discussões políticas e sociais repercutidas pela videodança Fôlego. Antes de se tornar um espaço cultural, a estação ferroviária esteve intimamente conectada com a expansão econômica cafeeira de Campinas e, consequentemente, com a exploração do corpo negro.
Segundo Guazzelli (2014)GUAZZELLI, Bárbara Gonçalves. Ferrovia, Trabalho e Habitação: vilas operárias de Campinas (1883-1919). 2014. 186 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014., é a partir de 1850 que a produção cafeeira da região Oeste Paulista se desenvolve como um complexo econômico potente e lucrativo. Com isso, Campinas é elevada à categoria de cidade em 1842 e se torna um polo dinâmico para a economia brasileira, sendo que grande parte desse crescimento se dá em razão da criação do sistema ferroviário que possibilitou tal desenvolvimento, além de abrigar a história da utilização de mão de obra escrava na cidade.
Os chamados Barões do Café de Campinas eram senhores rurais que advinham das famílias produtoras de açúcar, sendo esse mercado considerado responsável pela consolidação e pelo suporte às lavouras cafeeiras. Campinas, antes de se consolidar como cidade, era considerada uma das mais importantes vilas do aglomerado econômico, no qual o trabalho escravo era amplamente explorado, como é possível perceber na distribuição populacional do período: “[...] em 1775, a população do aglomerado é composta de 266 pessoas, passando a 6000 em 1836, das quais 3950 eram escravos” (Guazzelli, 2014, p. 14GUAZZELLI, Bárbara Gonçalves. Ferrovia, Trabalho e Habitação: vilas operárias de Campinas (1883-1919). 2014. 186 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.).
A relação dos seres humanos escravizados com a construção do sistema ferroviário campineiro revela aspectos importantes sobre a utilização de mão de obra escrava na região, assim como sobre os poderes e as disputas em relação à posse e utilização dos seres humanos escravizados. A implementação das vias férreas impulsionava a cidade socioeconomicamente ao facilitar o escoamento da produção cafeeira de Campinas para demais cidades brasileiras, gerando melhorias em setores como o comércio, o transporte, a comunicação, as estradas e a energia.
Embora tal implementação melhorasse a velocidade de circulação das mercadorias, a utilização de mão de obra escrava na construção de ferrovias foi proibida por lei, de modo a proteger o trabalho nas lavouras de café, que viviam um momento de escassez e crise de mão de obra, obrigando a instauração de uma política de imigração e mão de obra livre e remunerada:
A Lei Feijó, assinada pelo regente Padre Diogo Antônio Feijó em 1835, vetou a utilização dos escravos na construção de ferrovias, protegendo assim as lavouras de uma significativa perda de mão-de-obra. Apesar da lei restritiva, o trabalho escravo foi empregado, porém acredita-se que em número menor do que o esperado se a lei não tivesse sido criada (Zambello, 2005, p. 51 apud Guazzelli, 2014, p. 32GUAZZELLI, Bárbara Gonçalves. Ferrovia, Trabalho e Habitação: vilas operárias de Campinas (1883-1919). 2014. 186 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.).
Ainda que a ferrovia tenha proposto mudanças em relação à utilização do trabalho escravo, ela não se isenta de culpas, pois se percebe que a utilização de mão de obra livre não representava um pensamento com intenções humanitárias, mas sim uma disputa de poderes frente ao momento de escassez de mão de obra escravizada, de modo a garantir que o trabalho nas lavouras não fosse interrompido e/ou prejudicado.
Guazzelli (2014)GUAZZELLI, Bárbara Gonçalves. Ferrovia, Trabalho e Habitação: vilas operárias de Campinas (1883-1919). 2014. 186 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. complementa essa informação ao dizer que a mão de obra utilizada na ferrovia de Campinas era composta, em sua maioria, de trabalhadores nacionais, vindos do estado de Minas Gerais, e de imigrantes europeus, que vieram ao Brasil a partir de 1885 no intuito de abandonar seu antigo trabalho com a agricultura. Com isso, “[...] a ferrovia introduziu uma dinâmica de trabalho regular até então inexistente, agindo diretamente na formação de hábitos de trabalho dentro das formas existentes de contratação de mão de obra livre, que até então era empregada, sobretudo, de maneira sazonal” (Guazzelli, 2014, p. 33GUAZZELLI, Bárbara Gonçalves. Ferrovia, Trabalho e Habitação: vilas operárias de Campinas (1883-1919). 2014. 186 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.), exercendo mudanças importantes na contratação de mão de obra e impulsionando a economia do estado.
Porém, essa mão de obra livre ainda mantinha o pensamento escravista, uma vez que, nesse primeiro momento, as condições de trabalho não eram boas. A exploração dos trabalhadores ferroviários era evidente, pois eram expostos a baixos salários (com pouca proteção oferecida pelo Estado), excessivas jornadas de trabalho, horas extras não remuneradas, falta de um plano de saúde que pudesse amparar os acidentados, moradias coletivas e precárias para os cargos mais baixos, condições sanitárias e higiênicas ruins, entre outros fatores que revelavam o cenário de exploração e as intenções capitalistas da Companhia Paulista. Ao conjugar mão de obra barata, lucros altos e falta de concorrência, a empresa se tornava “um empreendimento altamente rentável para o capital agrário” (Guazzelli, 2014, p. 34GUAZZELLI, Bárbara Gonçalves. Ferrovia, Trabalho e Habitação: vilas operárias de Campinas (1883-1919). 2014. 186 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.).
Além de refletir, aprofundar e denunciar tais questões atreladas à escravidão do corpo negro presentes na construção da ferrovia em Campinas no passado, o espaço explorado por Fôlego permite ampliar as reflexões em relação às formas de escravidão e dominação do povo negro na localidade de Campinas e, ainda, no Brasil. A necropolítica pode ser vista ainda mais nas relações econômicas instauradas, sendo compreendida a partir dos eixos do sistema capitalista e da era digital, que segregam e categorizam forças – como países desenvolvidos e não desenvolvidos ou em desenvolvimento, assim como proprietários e mão de obra –, mantendo as relações de poder e de exploração, especialmente sobre pobres e negros.
No caso do Brasil, Porchmann (2022, n. p.) afirma que o país vive sua terceira fase da escravidão, ligada aos bens e serviços digitais, na qual “[...] os países produtores e exportadores de bens e serviços digitais combinam lucros internos extraordinários com resultados favoráveis do comércio externo que, por ser desregulado, produz mais desigualdade no mundo”. Toda essa lucratividade se dá a partir de uma exploração camuflada praticada contra os trabalhadores ou as forças mais fracas desse duelo pela oferta de empregos informais e neoliberais, por exemplo, os bens e serviços digitais como aplicativos de transporte e alimentação, que oferecem salários reduzidos, desproporcionais, sem direitos sociais, trabalhistas ou qualquer tipo de representação coletiva ou sindical.
Essas práticas recaem novamente sobre a população empobrecida, em sua maioria, pessoas negras, evidenciando outras faces da exploração na contemporaneidade, na qual “[...] o tempo humano se consome na produção de dados sem cessar, revelando o desespero de acessar – legal ou ilegalmente – qualquer atividade que ofereça algum crédito necessário para suprir o débito da própria sobrevivência” (Pochmann, 2022, n. p.POCHMANN, Marcio. Era Digital e Brasil sob Escravidão Contemporânea. OutrasPalavras, São Paulo, 21 fev. 2022. Disponível em: https://outraspalavras.net/trabalhoeprecariado/pochmann-era-digital-e-brasil-sob-escravidao-contemporanea/. Acesso em: 22 out. 2022.
https://outraspalavras.net/trabalhoeprec...
). Além disso, diversos casos de trabalhos análogos à escravidão são recentemente encontrados na cidade de Campinas, conforme aponta Gasparelo (2021, n. p.GASPARELO, Bárbara. Campinas Lidera Número de Denúncias da Região por Trabalho Escravo. ACidadeOn Campinas, Campinas, 28 jan. 2021. Disponível em: https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/Campinas-lidera-numero-de-denuncias-da-regiao-por-trabalho-escravo-20210128-0028.html. Acesso em: 20 out. 2022.
https://www.acidadeon.com/campinas/cotid...
):
Nos últimos cinco anos, de 2016 a 2020. o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região recebeu um total de 291 denúncias relacionadas aos temas trabalho escravo e aliciamento e tráfico de trabalhadores. Desse total, 87 denúncias vieram da cidade de Campinas, que teve firmado 12 TACS (Termos de Ajusta de Conduta) e ajuizadas 2 ações civis públicas sobre o tema. Mais uma vez o número de Campinas foi o maior entre as 599 cidades, que juntas somaram 57 termos de ajustamento de conduta e 23 ações acerca do assunto.
A escolha de gravar a videodança Fôlego no espaço descrito anteriormente se deve ao fato de tal localidade carregar elementos importantes acerca do histórico supracitado, revelando dados que se somam à proposta político-social da obra, desvelando, assim, camadas sobre o passado escravista da cidade em paralelo com o cenário exploratório e violento a que a população campineira periférica é ainda submetida.
Por fim, a trilha sonora da obra também é uma homenagem ao compositor campineiro maestro Carlos Gomes, que conquistou tamanho prestígio internacional com suas músicas e criações clássicas, tornando-se o mais importante compositor de ópera brasileiro. A trilha sonora da videodança é composta da versão de Ave Maria, que integra a ópera Il Guarany (O Guarani), composta na Itália por ele e interpretada por Ruth Staerk. A inspiração do artista pelos elementos da cultura brasileira faz de seus trabalhos um manifesto à brasilidade, aos povos originários do Brasil e à cultura do país, representando um elemento adicional ao manifesto, que dialoga com questões sobre visibilidade, sujeitos, dignidade e respeito.
Considerações finais
A partir das reflexões abordadas por este texto, pode-se afirmar que a videodança tem um caráter questionador, experimental e múltiplo, promovendo novos olhares às produções em dança ao inserir a tecnologia em seu processo de criação. Com o surgimento da videodança, as possibilidades criativas da dança puderam ser ampliadas e a criação de Fôlego permitiu trazer o corpo e o movimento ao encontro de novos estados poéticos, explorados a partir de sua condição virtual e imagética, possibilitando produzir diferentes dinâmicas, qualidades e estruturas composicionais à obra e explorando distintas relações com o tempo e o espaço. Além disso, as possibilidades flexíveis de manipulação da narrativa e de seus elementos a partir da tecnologia audiovisual permitiram a construção de outras relações e leituras no que tange à recepção da obra, viabilizando encontrar múltiplos modos de aproximação com as inquietações e problemáticas sociopolíticas apresentadas em Fôlego. Assim, a transformação e a organização dos corpos, do espaço e dos elementos narrativos de Fôlego a partir da virtualidade viabilizaram o encontro de diferentes caminhos e significados para a poética da obra, uma vez que o material criativo concebido pôde ser manipulado pela videodança, edificando relações e criando símbolos que buscaram desafiar o olhar do espectador de diferentes modos.
Considerando o local da gravação e a profundidade desse referencial em conexão com a obra, tornou-se possível resgatar a história dos Barões do Café e o legado escravista de Campinas, que perdurou por décadas, estando diretamente associado às ferrovias campineiras e à Estação Cultura. Ao olhar para trás, para os mesmos galpões da estação, que hoje se encontram vazios e abrigam a arte da periferia local, torna-se difícil desvincular tais fatos de uma realidade assombrosa que constitui parte da história e da ascensão econômica de Campinas. Esse espaço, então, provoca uma dicotomia de realidades na narrativa da obra, mostrando, por um lado, um passado obscuro e perverso e uma realidade alimentada pela violência e pela exploração do corpo negro; por outro, um presente transformador, um espaço cultural, uma ação de resistência e visibilidade que abraça a cultura negra e as minorias sociais campineiras.
Desse modo, os elementos narrativos forjados pela videodança Fôlego permitiram conectar a ação política da obra com a realidade social da cidade, com a marcha do café, o trabalho escravo e a violência contra o negro, alavancando reflexões sobre a supremacia de uma elite branca e sua preponderância nas decisões políticas atuais da cidade, sobre as forças de resistência presentes e que não se calam, sobre a situação da periferia da cidade, entre outros enunciados. O corpo negro, nesse sentido, expandiu tais referências para um contexto mais amplo, revelando cenários de exploração, discriminação e violência que perduram na contemporaneidade, tornando-se um elemento-chave para a narrativa, pois simboliza e direciona tal campo de luta, proposto pela obra.
Notas
-
1
Videodança disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z3pswwOzObw&t=213s. Acesso em: 27 jan. 2023.
-
2
Dentre as principais exposições do trabalho, Fôlego integrou a programação do Festival Internacional de Dança para a Tela de Freiburg, ocorrido na Alemanha, no ano de 2021; além disso, participou do Encontro Internacional de Videodança e Videoperformance de Valência na Espanha, em 2020. No Brasil, o trabalho integrou a terceira edição do Festival Internacional de Videodança Sans Souci - Edição Brasil, em 2022; a Mostra de Dança 2021 do Programa de Qualificação em Artes POIESIS; a Mostra Ibero-Americana de Videodança Midiadança, ocorrida no Ceará, em 2020; o 12º Festival de Videodança de São Carlos, realizado em 2018, entre outros eventos.
-
3
A Cia. Eclipse Cultura e Arte é uma companhia de dança sediada na cidade de Campinas (SP), fundada em 2002 e dirigida por Ricardo Cardoso (Kico Brown) e Ana Cristina Ribeiro (Ana Cris). A companhia atua no cenário artístico-cultural brasileiro e internacional com propostas que investigam a linguagem das danças urbanas, explorando o universo cultural do hip-hop sob uma visão contemporânea. Além do trabalho de criação e pesquisa, a companhia atua com projetos sociais, levando a arte para comunidades periféricas e carentes de Campinas, oferecendo cursos, vivência e formações artísticas.
-
Disponibilidade dos dados da pesquisa: o conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo está publicado no próprio artigo.
-
Este texto inédito também se encontra publicado em inglês neste número do periódico.
Referências
- ABRAHÃO, Fernando Antônio. Escravidão e Abolicionismo em Campinas. IHGG-Campinas, Campinas, 9 jun. 2017. Disponível em: https://ihggcampinas.org/2017/06/09/escravidao-alguns-resultados-do-abolicionismo-em-campinas/ Acesso em: 30 out. 2022.
» https://ihggcampinas.org/2017/06/09/escravidao-alguns-resultados-do-abolicionismo-em-campinas/ - ANGELI, Diogo. A Arte da Videodança: olhares intermidiáticos. Rio de Janeiro: Autografia, 2020.
- CASTRO, Gabriela Tardelli; PAPALI, Maria Aparecida Ribeiro. Resistência a Escravidão: suicídio de escravos em Campinas durante o período de 1871 a 1877. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22., ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 18., e ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2018, Vale do Paraíba. Anais [...] Vale do Paraíba: UNIVAP, 2018. P. 1-5.
- CORRÊA, Murilo Duarte Costa; VIEIRA, Cainã Domit. Necropolítica da Memória Escrava no Brasil Pós-abolição. Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 11, n. 26, p. 368-401, 2019. Disponível em: https://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180311262019368 Acesso em: 30 out. 2022.
» https://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180311262019368 - COSTA, Alexandre Veras. Kino-Coreografias: entre o vídeo e a dança. In: CALDAS, Paulo (Org.). Dança em Foco: ensaios contemporâneos de videodança. Tradução: Ricardo Quintana. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2012.
- CUNHA, José Marcos Pinto da et al. A Vulnerabilidade Social no Contexto Metropolitano: o caso de Campinas. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 14., 2004, Caxambu. Anais [...] Caxambu: ABEP, 2004. P. 1-19.
- CUNHA, Maísa Faleiros da; RIBEIRO, Maria Alice Rosa. A “Segunda Escravidão” na Princesa do Vale (Vassouras, RJ) e na Princesa do Oeste (Campinas, SP), 1797-1888. História (São Paulo), São Paulo, v. 37, 2018.
- FERREIRA, Levi Kaique. Necropolítica: a gestão da morte nas mãos do Estado. MundoNegro, 20 maio 2020. Disponível em: https://mundonegro.inf.br/necropolitica-a-gestao-da-morte-nas-maos-do-estado/ Acesso em: 30 out. 2022.
» https://mundonegro.inf.br/necropolitica-a-gestao-da-morte-nas-maos-do-estado/ - GASPARELO, Bárbara. Campinas Lidera Número de Denúncias da Região por Trabalho Escravo. ACidadeOn Campinas, Campinas, 28 jan. 2021. Disponível em: https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/Campinas-lidera-numero-de-denuncias-da-regiao-por-trabalho-escravo-20210128-0028.html Acesso em: 20 out. 2022.
» https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/Campinas-lidera-numero-de-denuncias-da-regiao-por-trabalho-escravo-20210128-0028.html - GASPERI, Marcelo Rocco; THEOTONIO, Diogo Angeli. Mil Litros de Preto: uma poética sobre a necropolítica. Conceição/Conception, Campinas, v. 9, n. 00, p. e020004, 2020. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce/article/view/8660778 Acesso em: 20 out. 2022.
» https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce/article/view/8660778 - GUAZZELLI, Bárbara Gonçalves. Ferrovia, Trabalho e Habitação: vilas operárias de Campinas (1883-1919). 2014. 186 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.
- LIMA, Patrícia Oliveira de Daniele; SILVA, Ana Márcia. Para Além do Hip Hop: juventude, cidadania e movimento social. Motrivivência, Florianópolis, n. 23, p. 61-82, 2004.
- MBEMBE, Achille As Formas Africanas de Auto-Inscrição. Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, ano 23, n. 1, p. 171-209, 2001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/eaa/a/ddR69Y7Ptm6KDvv4tmHSvbF/abstract/?lang=pt Acesso em: 23 jan. 2023.
» https://www.scielo.br/j/eaa/a/ddR69Y7Ptm6KDvv4tmHSvbF/abstract/?lang=pt - MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra Antígona: Lisboa, 2014.
- MBEMBE, Achille. Necropolítica. Revista do PPGAV, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-151, dez. 2016. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993 Acesso em: 24 jun. 2020.
» https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993 - MORAES, Marcelo Navarro de. Uma Análise da Relação entre o Estado e o Tráfico de Drogas: o mito do poder paralelo. Ciências Sociais em Perspectiva, Cascavel, v. 5, n. 8, 1º sem. 2006.
- POCHMANN, Marcio. Era Digital e Brasil sob Escravidão Contemporânea. OutrasPalavras, São Paulo, 21 fev. 2022. Disponível em: https://outraspalavras.net/trabalhoeprecariado/pochmann-era-digital-e-brasil-sob-escravidao-contemporanea/. Acesso em: 22 out. 2022.
» https://outraspalavras.net/trabalhoeprecariado/pochmann-era-digital-e-brasil-sob-escravidao-contemporanea/. - RÊGO, Isa Sara Pereira. Corpos Virtualizados, Danças Potencializadas: atualizações contemporâneas do corpociborgue. 2013. 181 f. Dissertação (Mestrado em Dança) – Programa de Pós-Graduação em Dança, Escola de Dança, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.
- SANTOS, Marcelo Moreira. Do Teu Olho Sou o Olhar: sobre intenções, mediações e diálogos no cinema. Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação, Covilhã, 2013. Disponível em: http://bocc.ufp.pt/pag/santos-marcelo-2013-do-teu-olhar-sou-o-olhar.pdf Acesso em: 10 set. 2022.
» http://bocc.ufp.pt/pag/santos-marcelo-2013-do-teu-olhar-sou-o-olhar.pdf - SCHEFFER, Rafael da Cunha. Escravos do Sul Vendidos em Campinas: cativos, negociantes e o comércio interno de escravos entre as províncias do sul do Brasil e um município paulista (década de 1870). In: ENCONTRO ESCRAVIDÃO E LIBERDADE NO BRASIL MERIDIONAL, 4., 2009, Curitiba. Anais [...] Curitiba: UFPR, 2009. Disponível em: http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos4/rafaeldacunhascheffer.pdf Acesso em: 30 out. 2022.
» http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos4/rafaeldacunhascheffer.pdf - SUQUET, Annie. Cenas. O Corpo Dançante: um laboratório de percepção. In: COURTINE, Jean-Jacques (Org.). História do Corpo, vol. 3: as mutações do olhar. O século XX. Petrópolis: Vozes, 2008. P. 509-539.
- VELLOSO, Marila. Dramaturgia na Dança: investigação no corpo e ambientes de existência. Sala Preta, São Paulo, USP, v. 10, p. 191-197, 28 nov. 2010.
- ZERO, Arethuza Helena. Escravidão e Liberdade: as alforrias em Campinas no século XIX. 2009. 180 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Econômico) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009. Disponível em: https://www.abphe.org.br/uploads/Banco%20de%20Teses/escravidao-e-liberdade-as-alforrias-em-campinas-no-seculo-xix-1830-1888.pdf Acesso em: 17 out. 2022.
» https://www.abphe.org.br/uploads/Banco%20de%20Teses/escravidao-e-liberdade-as-alforrias-em-campinas-no-seculo-xix-1830-1888.pdf
Editado por
Disponibilidade de dados
Disponibilidade dos dados da pesquisa: o conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo está publicado no próprio artigo.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
05 Jun 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
30 Out 2022 -
Aceito
27 Jan 2023