RESUMO
Este artigo aborda aspectos da trajetória pessoal e escolar de um aluno da EJA, em situação de analfabetismo. Para tratar desses aspectos, procuramos responder esta pergunta: como se configura o patrimônio vivencial de um educando de 20 anos de idade, na atividade de alfabetização, em contexto escolar? Buscando respondê-la, escolhemos, como fundamentação teórica, as noções de perezhivanie (VYGOSTKY, 2010; REY, 2016REY, Fernando González. (2016). Vygotsky’s Concept of Perezhivanie in The Psychology of Art and at the Final Moment of His Work: Advancing His Legacy. Abingdon: Routledge. Mind, culture, and activity. v. 23, n. 4, p. 1-10.; VERESOV, 2016VERESOV, Nikolai. (2016). Perezhivanie as a phenomenon and a concept: Questions on clarification and methodological meditations. Cultural-historical psychology, Frankston, Australia: Australia Monash University, vol. 12, n. 3, p. 129-148.), agência (NININ; MAGALHÃES, 2016), repertório (BLOMMAERT; BACKUS, 2012BLOMMAERT, Jan.; BACKUS, Ad. (2012). Superdiverse Repertoires and the Individual. Tilburg Papers in Cultural Studies, v. 24, p. 1-32.; BUSCH, 2017BUSCH, Brigitta. (2017). Expanding the Notion of the Linguistic Repertoire: On the Concept of Spracherleben – The Lived Experience of Language. Applied Linguistics. Oxford: University Press, v. 38, n. 3, p. 340-358.; GUIMARÃES; MOITA LOPES, 2017GUIMARÃES, Thayse Figueira; MOITA LOPES, Luiz Paulo da. (2017). Trajetória de um texto viral em diferentes eventos comunicativos: entextualização, indexicalidade, performances identitárias e etnografia. Alfa: Revista de Linguística, São Paulo, v. 61, n. 1, p. 11-33.) e patrimônio (MOLL et al., 1992MOLL, Luis C.; AMANTI, Cathy; NEFF, Deborah; GONZÁLEZ, Norma. (1992). Funds of knowledge for teaching: using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory into Practice, vol. 31, n. 2, pp. 132–141.; ESTEBAN-GUITART; MOLL, 2014ESTEBAN-GUITART, Moises; MOLL, Luis (2014). Funds of Identity: A new concept based on the Funds of Knowledge approach. Culture & Psychology. Vol. 20(1), p. 31-48.; LIBERALI; MEGALE, 2020MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74.). A metodologia de pesquisa é qualitativo-interpretativista, na forma de estudo de caso. Os procedimentos de geração de dados são: uma entrevista semiestruturada e conversas entre o educando e a professora-pesquisadora. Tais dados, interpretados à luz do referido arcabouço teórico, sugerem que há uma transformação na agência do sujeito de pesquisa. Essa transformação é reputada não só a fatores internos, mas também a fatores externos, como a relação com a professora alfabetizadora e com a escola onde o educando estuda. Essas mudanças constituem seu patrimônio vivencial.
Palavras-chave:
teoria da atividade sócio-histórico-cultural; perezhivanie; agência; repertório; patrimônio vivencial
ABSTRACT
This article explores aspects of an illiterate Adult and Youth Education (EJA, in Brazil) student’s personal and academic trajectory. To investigate these aspects, we seek to answer this question: how are the student’s funds of perezhivania structured, in the school context, considering that he is learning how to read and write at the age of twenty? To answer it, we discuss the notions of perezhivanie (VYGOTSKY, 2010; REY, 2016REY, Fernando González. (2016). Vygotsky’s Concept of Perezhivanie in The Psychology of Art and at the Final Moment of His Work: Advancing His Legacy. Abingdon: Routledge. Mind, culture, and activity. v. 23, n. 4, p. 1-10.; VERESOV, 2016VERESOV, Nikolai. (2016). Perezhivanie as a phenomenon and a concept: Questions on clarification and methodological meditations. Cultural-historical psychology, Frankston, Australia: Australia Monash University, vol. 12, n. 3, p. 129-148.), agency (NININ; MAGALHÃES, 2016), repertoire (BLOMMAERT, BACKUS, 2012BLOMMAERT, Jan.; BACKUS, Ad. (2012). Superdiverse Repertoires and the Individual. Tilburg Papers in Cultural Studies, v. 24, p. 1-32.; BUSCH, 2017BUSCH, Brigitta. (2017). Expanding the Notion of the Linguistic Repertoire: On the Concept of Spracherleben – The Lived Experience of Language. Applied Linguistics. Oxford: University Press, v. 38, n. 3, p. 340-358.; GUIMARÃES, MOITA LOPES, 2017GUIMARÃES, Thayse Figueira; MOITA LOPES, Luiz Paulo da. (2017). Trajetória de um texto viral em diferentes eventos comunicativos: entextualização, indexicalidade, performances identitárias e etnografia. Alfa: Revista de Linguística, São Paulo, v. 61, n. 1, p. 11-33.), and funds (of knowledge, identity, and perezhivania) (MOLL et al., 1992MOLL, Luis C.; AMANTI, Cathy; NEFF, Deborah; GONZÁLEZ, Norma. (1992). Funds of knowledge for teaching: using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory into Practice, vol. 31, n. 2, pp. 132–141.; ESTEBAN-GUITART, MOLL, 2014ESTEBAN-GUITART, Moises; MOLL, Luis (2014). Funds of Identity: A new concept based on the Funds of Knowledge approach. Culture & Psychology. Vol. 20(1), p. 31-48.; LIBERALI, MEGALE, 2020MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74.). The research method is qualitative-interpretative research (case study). The procedures to gather data are one semi-structured interview and conversations between student and researcher-teacher. Based on the literature review, our data interpretation suggests that there is a transformation in the subject’s agency. We believe that internal and external factors, as well as the student-teacher relationship and the student’s interaction with the school, led to this transformation. These changes constitute the subject’s funds of perezhivania.
Keywords:
social-historical-cultural activity theory; perezhivanie; agency; repertoire; funds of perezhivania
INTRODUÇÃO
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2020IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação 2019. 2020. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf>. Acesso em: 28 maio 2021.
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualiza...
), no Brasil, vivem 6,6% de pessoas em situação de analfabetismo, o que equivale a 11 (onze) milhões de habitantes. Neste texto, problematizamos aspectos dessa injustiça social (FREIRE, 1974FREIRE, Paulo. (1974/1987). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.) de uma maneira biograficamente sensível: sob essa perspectiva, entendemos que se possa operar com a noção de patrimônio vivencial (LIBERALI; MEGALE, 2020MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74.). Tal conceito se refere a todos os meios pelos quais os sujeitos interagem no e com o mundo, o que abrange aspectos linguísticos, culturais, emocionais e sociais. Pautando-nos, sobretudo, nesse conceito, no presente artigo, nosso objetivo consiste em responder à seguinte questão: como se configura o patrimônio vivencial de um educando de 20 anos de idade, na atividade de alfabetização, em contexto escolar?
O contexto da pesquisa relatada neste artigo é uma escola de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que atende os educandos em período integral (das 7h30 às 22h15). Por esse ambiente, circulam sujeitos de quem foi roubado, muitas vezes, o direito de aprender a ler e escrever quando eram crianças, o direito de “dizer a sua palavra” (FREIRE, 1974FREIRE, Paulo. (1974/1987). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra., p. 54). Compreendemos que, no âmbito dessa discussão, é importante combater as barreiras que silenciam esses sujeitos, levando-os à marginalização. Com o propósito de fazer com que as suas vozes sejam ouvidas e que as suas trajetórias sejam valorizadas, buscamos responder à questão supramencionada a partir de um estudo de caso realizado com um desses educandos.
Acreditamos que a trajetória particular de Pedro2 2 Trata-se de um nome fictício, que foi escolhido pelo próprio sujeito da pesquisa para que a sua identidade fosse preservada. , nosso sujeito de pesquisa, e sua participação na cultura letrada pela via da educação reflitam as biografias de milhões de brasileiros que, ainda hoje, vivem em situação de analfabetismo, em uma sociedade digital e grafocêntrica. Assim, conhecer seus recursos, repertório, agência e patrimônio – conceitos a serem abordados nas próximas seções – pode iluminar, em alguma medida, nosso entendimento sobre como as práticas de linguagem em contextos escolares são inseparáveis das biografias dos sujeitos que circulam por esses ambientes.
Finalizada esta introdução, discorremos sobre o referencial teórico que alicerça o presente artigo, procurando discutir, brevemente, os conceitos de meio, perezhivanie, recursos semióticos, repertório, mobilidade, agência e patrimônio vivencial. Em seguida, expomos a fundamentação metodológica da pesquisa, que, por dedicar-se à investigação das singularidades de um único sujeito em contexto escolar, pode ser considerada um estudo de caso (LEFFA, 2006). Posteriormente, mostramos, à luz do aporte teórico, a interpretação dos dados gerados, ressaltando que essa interpretação é apenas uma entre tantas possíveis. Por fim, apresentamos as nossas considerações finais, que buscam sumarizar as reflexões aqui propostas e sugerir possibilidades de pesquisas futuras que se centrem no conceito de patrimônio vivencial.
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Meio, perezhivanie, evento dramático, recursos semióticos, repertório, mobilidade, agência e patrimônio são noções ligadas a diferentes áreas do conhecimento, como a Psicologia Social e a Sociolinguística, que, em nosso olhar, podem contribuir com a discussão sobre um aspecto importante do desenvolvimento humano, na nossa cultura: a possibilidade de transformação3 3 Baseando-nos em Ninin e Magalhães (2017), embora essas autoras não expliquem claramente o que elas chamam de transformação, podemos considerá-la como um processo que envolve mudanças nos modos como o sujeito age para construir relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo. pela via da educação.
Somamos a isso outro ponto central desta pesquisa: essas noções, principalmente se forem articuladas, dão sustentação a estudos em Linguística Aplicada nos quais a perspectiva biográfica dos sujeitos é essencial para a compreensão de práticas de linguagem. Com isso, não queremos afirmar que se trata de uma escolha que exclui elementos do ambiente social; pelo contrário, há, aqui, uma proposta de encadeamento dialético de ideias: o social e o individual interagem e são interdependentes. A biografia de Pedro, nessa direção, não se separa das práticas de linguagem de que ele participa, nem de suas condições de vida concretas.
Essa visão dialética é apoiada pelo trabalho de Vygotsky (2010). Para esse autor, o meio é fonte de desenvolvimento. Essa definição, contudo, exige algumas ressalvas. A primeira delas refere-se à diferença entre meio e espaço, no sentido de locus geográfico. O meio, a nosso ver, está sempre em mutação e é composto por diferentes elementos da história, da sociedade e da cultura. Portanto, distintos espaços compõem o meio a que Vygotsky alude.
A segunda ressalva é o papel da subjetividade. O meio não elimina as emoções, a cognição e a volição do sujeito (VYGOTSKY, 2010; REY, 2016REY, Fernando González. (2016). Vygotsky’s Concept of Perezhivanie in The Psychology of Art and at the Final Moment of His Work: Advancing His Legacy. Abingdon: Routledge. Mind, culture, and activity. v. 23, n. 4, p. 1-10.; VERESOV, 2016VERESOV, Nikolai. (2016). Perezhivanie as a phenomenon and a concept: Questions on clarification and methodological meditations. Cultural-historical psychology, Frankston, Australia: Australia Monash University, vol. 12, n. 3, p. 129-148.; LIBERALI; FUGA, 2018LIBERALI, Fernanda Coelho; FUGA, Valdite Pereira. (2018). A importância do conceito de perezhivanie na constituição de agentes transformadores. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 35, n. 4, p. 363-373.). Com efeito, a subjetividade está entrelaçada na noção vygotskyana de meio. Assim, compreendemos que as diferentes escolas por onde Pedro passou compuseram, como uma espécie de bricolagem, seu meio. No entanto, no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA), o meio de Pedro é diferente não só porque se trata de outro espaço, mas também, conforme veremos adiante, porque as atitudes de Pedro parecem ter mudado.
A definição de meio em que nos respaldamos sugere que as vivências, em um mesmo espaço, podem ser completamente distintas. Apoiados nesse argumento, podemos alegar que, nas salas de aula por onde Pedro passou, cada aluno vivenciou o processo de ensino-aprendizagem de uma forma diferente e única. Para entender essas diferenças, uma noção fundamental é a de perezhivanie (VYGOTSKY, 2010; REY, 2016REY, Fernando González. (2016). Vygotsky’s Concept of Perezhivanie in The Psychology of Art and at the Final Moment of His Work: Advancing His Legacy. Abingdon: Routledge. Mind, culture, and activity. v. 23, n. 4, p. 1-10.; VERESOV, 2016VERESOV, Nikolai. (2016). Perezhivanie as a phenomenon and a concept: Questions on clarification and methodological meditations. Cultural-historical psychology, Frankston, Australia: Australia Monash University, vol. 12, n. 3, p. 129-148.; LIBERALI; FUGA, 2018LIBERALI, Fernanda Coelho; FUGA, Valdite Pereira. (2018). A importância do conceito de perezhivanie na constituição de agentes transformadores. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 35, n. 4, p. 363-373.).
Переживание (perezhivanie4 4 Na tradução do russo para o português, a grafia perezhivanie marca a declinação, no termo original, do substantivo singular; perezhivania, do substantivo plural. ) significa, em russo, “estado de alma derivado de profundas sensações, de fortes impressões” (ZALTRON, 2012ZALTRON, Michele A. (2012). “Переживание” (perejivanie) e o “trabalho do ator sobre si mesmo” em K. Stanislavski. Anais do VII Congresso da ABRACE - Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas. Porto Alegre, p. 1-7., p. 01). Vygotsky usou essa palavra em mais de um trabalho5 5 Rey (2016) e Veresov (2016) escrutinam os usos de perezhivanie em toda a obra de Vygotsky . Em português, Vinha e Welcman (2010)VINHA, Márcia Pileggi; WELCMAN, Max. (2010). Quarta aula: a questão do meio na pedologia. Lev Semionovich Vygotsky Psicol. USP, São Paulo, v. 21, n. 4, p. 681-701, 2010. traduzem-na como vivência. Em inglês, Veresov (2016)VERESOV, Nikolai. (2016). Perezhivanie as a phenomenon and a concept: Questions on clarification and methodological meditations. Cultural-historical psychology, Frankston, Australia: Australia Monash University, vol. 12, n. 3, p. 129-148. usa experience. Temos, assim, uma questão linguística que contribui para a opacidade desse termo.
Vygotsky (2010) usa a noção de perezhivanie para explicar como o meio influencia, de forma relativa, o desenvolvimento psicológico da criança. O psicólogo russo ilustra esse raciocínio com a metáfora do prisma. Essa metáfora sugere que o sujeito refrata o meio, em vez de refleti-lo. Por isso, a perezhivanie é sempre individual, ainda que os sujeitos partilhem de um ambiente social supostamente idêntico. Ademais, Vygotsky argumenta que os diferentes caminhos do desenvolvimento psicológico não dependem, exclusivamente, de elementos externos, mas exigem a interpretação do sujeito sobre aquilo que ele vivenciou e/ou vivencia.
Ao considerar a necessidade de reflexão, Vygotsky (2010) amplia o sentido da perezhivanie como um fenômeno psíquico e constitutivo da subjetividade. O desenvolvimento provocado por perezhivania não é apenas uma cadeia de eventos, mas um processo composto por situações sociais que são interpretadas por quem as vive. A esse respeito, Veresov (2016, p. 130VERESOV, Nikolai. (2016). Perezhivanie as a phenomenon and a concept: Questions on clarification and methodological meditations. Cultural-historical psychology, Frankston, Australia: Australia Monash University, vol. 12, n. 3, p. 129-148., tradução nossa) escreve: “a perezhivanie é um nexo complexo de processos psicológicos, que incluem emoções, processos cognitivos, memória e até volição6 6 No original: “complex nexus of psychological processes that includes emotions, cognitive processes, memory and even volition”. ”.
Em um estudo sobre a perezhivanie, Veresov (2016)VERESOV, Nikolai. (2016). Perezhivanie as a phenomenon and a concept: Questions on clarification and methodological meditations. Cultural-historical psychology, Frankston, Australia: Australia Monash University, vol. 12, n. 3, p. 129-148. afirma que essa noção pode ser abordada como um conceito, carregado de conteúdos estruturantes e articulado a um quadro teórico mais amplo, e/ou como um fenômeno. Numa lógica fenomenológica, a perezhivanie pode ser capturada, pois é empiricamente observável. Na pesquisa relatada neste artigo, optamos por privilegiar o estudo da perezhivanie como fenômeno, considerando a própria materialidade dos dados, segundo o relato do participante.
Entendemos, ainda, que a noção de perezhivanie dialoga com a de evento dramático, segundo Megale e Liberali (2020, p. 63)MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74.. Para as autoras, trata-se de uma “situação crítica”, que resulta de perezhivania vividas num grupo e que podem reconfigurar a subjetividade e compor o patrimônio vivencial do sujeito.
Para compreendermos a transformação do educando, consideramos, também, a noção de recursos semióticos. Segundo Liberali e Fuga (2018, p. 368)LIBERALI, Fernanda Coelho; FUGA, Valdite Pereira. (2018). A importância do conceito de perezhivanie na constituição de agentes transformadores. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 35, n. 4, p. 363-373., pautadas em Blommaert (2015)BLOMMAERT, Jan. (2015). Chronotopes, scales and complexity in the study of language in society. Annual Review of Anthropology, v. 44, p. 105-116., os recursos semióticos “são vistos como materializações de histórias sócio-histórico-culturalmente construídas, que podem viajar e ser replicadas em um novo contexto”. Essa definição amplia a ideia de recursos linguísticos, isto é, de suportes da língua que ajudam o falante a se comunicar. Entendemos, então, que os recursos semióticos incluem suportes de natureza biográfica: tudo aquilo que tem algum valor na trajetória pessoal e que está disponível ao sujeito para agir no mundo. Nessa visão, relacionamos as refrações de Pedro à parte de seus recursos semióticos, à medida que ele as convoca para participar das práticas de linguagem escolares.
Notamos, entretanto, que os recursos semióticos são, também, linguístico-discursivos. Para fins de pesquisa, a análise desses recursos ocorre por meio da indexicalidade. De acordo com Bucholtz (2009)BUCHOLTZ, Mary. (2009). From stance to style. In: JAFFE, Alexandra. Stance: sociolinguistic perspectives. Oxford Scholarship Online, 2009. p. 1-49. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~eckert/PDF/bucholtz2009.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2021. doi: 10.1093/acprof:oso/9780195331646.003.0007.
https://web.stanford.edu/~eckert/PDF/buc...
, a relação indexical entre a linguagem e o significado social envolve dois níveis. O nível da indexicalidade direta (ou de baixo para cima) engloba as formas linguísticas que indexam mais imediatamente as posturas interacionais, ou seja, as orientações subjetivas para a conversa contínua, o que abrange as posturas afetivas, avaliativas e epistêmicas. O nível da indexicalidade indireta (de cima para baixo) diz respeito a essas mesmas formas linguísticas que se ligam, supostamente, a tipos sociais particulares. É no nível indexical indireto que a ideologia opera com mais força, uma vez que aqui as posturas adquirem associações semióticas mais duradouras. Os processos indexicais, tanto no nível direto quanto indireto, contribuem para a construção de identidades numa visão não essencializante. Nessa perspectiva, trabalham Guimarães e Moita Lopes (2017, p. 18)GUIMARÃES, Thayse Figueira; MOITA LOPES, Luiz Paulo da. (2017). Trajetória de um texto viral em diferentes eventos comunicativos: entextualização, indexicalidade, performances identitárias e etnografia. Alfa: Revista de Linguística, São Paulo, v. 61, n. 1, p. 11-33., para quem a indexicalidade é “a propriedade do signo linguístico de apontar para projeções semiótico-textuais”. Essas projeções são locais e translocais, pois pedaços de texto podem ser colocados em outros contextos, indexando diferentes valores. Esse processo é designado entextualização (BAUMAN; BRIGGS, 1990BAUMAN, Richard; BRIGGS, Charles. (1990). Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology, California, n.19, p. 59-88.7
7
BAUMAN, Richard; BRIGGS, Charles. (1990). Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology, California, n. 19, p. 59-88.
apud GUIMARÃES & MOITA LOPES, 2017GUIMARÃES, Thayse Figueira; MOITA LOPES, Luiz Paulo da. (2017). Trajetória de um texto viral em diferentes eventos comunicativos: entextualização, indexicalidade, performances identitárias e etnografia. Alfa: Revista de Linguística, São Paulo, v. 61, n. 1, p. 11-33.). Na seção 4, mostraremos como a indexicalidade serve ao estudo de recursos linguístico-discursivos, a partir de episódios narrados por Pedro.
A propósito dos recursos semióticos, fixamos, aqui, outra noção que nos ajuda a interpretar elementos do processo transformativo de Pedro. Para Blommaert e Backus (2012)BLOMMAERT, Jan.; BACKUS, Ad. (2012). Superdiverse Repertoires and the Individual. Tilburg Papers in Cultural Studies, v. 24, p. 1-32., Busch (2017)BUSCH, Brigitta. (2017). Expanding the Notion of the Linguistic Repertoire: On the Concept of Spracherleben – The Lived Experience of Language. Applied Linguistics. Oxford: University Press, v. 38, n. 3, p. 340-358., Liberali e Rocha (2017)LIBERALI, Fernanda Coelho; ROCHA, Cláudia Hilsdorf. (2017). Ensino de línguas nos anos iniciais de escolarização: reflexões sobre bilinguismo e letramentos. In: RODRIGUES, A. F.; FORTUNATO, M. P. (Orgs.). Alfabetização e letramento: prática reflexiva no processo educativo. São Paulo: Humanitas, p. 127-144., o conjunto de recursos constitui o repertório de cada sujeito. Latente a essa ideia, está a noção de repertório da Sociolinguística, segundo Gumperz e Hymes8 8 Uma revisão crítica do trabalho de Gumperz e Hymes aparece em Busch (2017). . A noção a que nos filiamos não apresenta o repertório como uma reserva de estratégias discursivas ou de marcas linguísticas de uma comunidade de falantes, mas, sim, como uma espécie de estoque de saberes, emoções e percepções construídas ao longo da vida. Nesse sentido, o repertório é sempre individual e dinâmico, porque não armazena recursos semióticos sem promover deslocamentos subjetivos. Aliás, como nos ensina Busch (2017)BUSCH, Brigitta. (2017). Expanding the Notion of the Linguistic Repertoire: On the Concept of Spracherleben – The Lived Experience of Language. Applied Linguistics. Oxford: University Press, v. 38, n. 3, p. 340-358., a percepção da ausência de elementos também constitui o repertório, já que essa experiência interpela o sujeito. Neste trabalho, reconhecemos a não apropriação da leitura e da escrita por Pedro como parte essencial de seu repertório.
Todavia, repetimos, o repertório não é estático, daí sua relação com o conceito de mobilidade. A partir de Guimarães e Moita Lopes (2017)GUIMARÃES, Thayse Figueira; MOITA LOPES, Luiz Paulo da. (2017). Trajetória de um texto viral em diferentes eventos comunicativos: entextualização, indexicalidade, performances identitárias e etnografia. Alfa: Revista de Linguística, São Paulo, v. 61, n. 1, p. 11-33., Azzari (2018)AZZARI, Eliane Fernandes. (2018). Mobilidade, paisagens digitais e práticas (trans)linguísticas. The ESPecialist, São Paulo, v. 39, n. 2, p. 1-15. e Liberali e Fuga (2018)LIBERALI, Fernanda Coelho; FUGA, Valdite Pereira. (2018). A importância do conceito de perezhivanie na constituição de agentes transformadores. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 35, n. 4, p. 363-373., podemos concluir que, num mundo globalizado, pessoas, textos e recursos são móveis e, portanto, podem deslocar-se ou ser deslocados. Interessa-nos, aqui, o movimento de recursos semióticos, em particular. Consideramos que a transformação de Pedro decorra, entre outros aspectos, da forma como ele mobiliza seus recursos (tanto as vivências anteriores com a leitura e a escrita quanto a capacidade de pichar9 9 No início das aulas de alfabetização das quais Pedro participava com a professora-pesquisadora, o aluno afirmou não saber escrever, mas saber pichar. Pedro, então, a pedido da educadora, registrou seu próprio nome usando a linguagem da pichação. Em seguida, adotou o mesmo procedimento para registrar o nome da professora. ). Não se trata, portanto, de apenas possuir o recurso necessário para a mudança, mas querer e saber como deslocá-lo em direção a um objetivo pessoal, em contextos sócio-histórico-culturais específicos.
A conexão entre recursos semióticos, mobilidade e repertório pode nos levar, na perspectiva sócio-histórico-cultural, à noção de agência. De acordo com Ahearn (2001)AHEARN, Laura M. (2001). Language and agency. Annual Review of Anthropology, vol. 30, s.n., p. 109-137. Disponível em:<https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.anthro.30.1.109>. Acesso em: 25 ago. 2019.
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10...
, agência é um construto muito amplo e incompleto. A pesquisadora define-o como a capacidade socioculturalmente mediada de agir. Diante dessa liquidez terminológica, pesquisadores de linha vygotskyana têm proposto diferentes tipos de agência, como agência individual (ENGESTRÖM, 2005 apud VIRKKUNEN, 2006VIRKKUNEN, Jaakko. (2006). Dilemmas in building shared transformative agency. Activités. França, vol. 3, n. 1, p. 43-66.); agência transformativa compartilhada (VIRKKUNEN, 2006VIRKKUNEN, Jaakko. (2006). Dilemmas in building shared transformative agency. Activités. França, vol. 3, n. 1, p. 43-66.) ou agência transformativa e criativa (STETSENKO, 2019STETSENKO, Anna. (2019). Creativity as dissent and resistance: Transformative approach premised on social justice agenda. In: LEBUDA, I.; GLAVEANU, V. (Org.). The Palgrave Handbook of Social Creativity, Londres: Springer, p. 431-446.). Essas designações têm em comum o fato de que o(s) sujeito(s) age(m) de forma intencional e consciente. Contudo, as particularidades desses conceitos não vão totalmente ao encontro daquilo que entendemos por agência, no caso específico de Pedro.
Compreendemos que agência é o modo de agir, com intencionalidade e consciência, que rompe com padrões pré-estabelecidos, mobilizando o sujeito a buscar aquilo que ele considera que tenha valor para si e para os outros. Escolhemos o conceito de agência, porque, nele, encontramos um aporte para pensar a atividade de ler e escrever, em contexto escolar, segundo a teoria da atividade sócio-histórico-cultural. Nesse quadro teórico, a atividade “é realizada por sujeitos que se propõem a atuar coletivamente para o alcance de objetos compartilhados” (LIBERALI, 2009LIBERALI, Fernanda Coelho. Atividade social nas aulas de língua estrangeira. São Paulo: Moderna, 2009., p. 12). Esse conceito implica, na visão de Leontiev (1977), o encontro entre o interesse do agente e o objetivo da atividade. Para nós, é fundamental refletir sobre a transformação de Pedro por meio da/na atividade. Sabemos que sua trajetória de vida extrapola os muros escolares, porém, tendo em mente nosso objetivo com a pesquisa relatada, atemo-nos a uma atividade que nos ajude a conhecer sua agência e, consequentemente, o que temos chamado, aqui, de transformação.
Diante desse panorama teórico, embora existam orientações diferentes entre as noções e as definições em que nos pautamos, julgamos pertinente a adoção de um referencial que integre tanto os aspectos ligados à relação entre o sujeito e o meio (como propõem as noções de perezhivanie e de agência) quanto aqueles interessados em pesquisar as práticas de linguagem sob uma perspectiva biográfica (como sugerem as ideias de recursos, mobilidade e repertório). Talvez, um referencial que abarque toda essa complexidade seja o de patrimônio vivencial (LIBERALI; MEGALE, 2020MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74.).
O patrimônio vivencial expande as ideias de patrimônio de conhecimento (MOLL et al., 1992MOLL, Luis C.; AMANTI, Cathy; NEFF, Deborah; GONZÁLEZ, Norma. (1992). Funds of knowledge for teaching: using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory into Practice, vol. 31, n. 2, pp. 132–141.) e de patrimônio de identidade (ESTEBAN-GUITART; MOLL, 2014ESTEBAN-GUITART, Moises; MOLL, Luis (2014). Funds of Identity: A new concept based on the Funds of Knowledge approach. Culture & Psychology. Vol. 20(1), p. 31-48.; POOLE; HUANG, 2018POOLE, Adam; HUANG, Jingyi. (2018). Resituating funds of identity within contemporary interpretations of perezhivanie. Mind, Culture, and Activity, v. 25, n. 2, p. 125-137.10 10 Patrimônio de conhecimento e patrimônio de identidade são traduções de Liberali e Megale (2020) para, respectivamente, as expressões funds of knowledge (MOLL et al., 1992) e funds of identity (ESTEBAN-GUITART; MOLL, 2014). ). Inicialmente, Moll et al. (1992, p. 133MOLL, Luis C.; AMANTI, Cathy; NEFF, Deborah; GONZÁLEZ, Norma. (1992). Funds of knowledge for teaching: using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory into Practice, vol. 31, n. 2, pp. 132–141., tradução nossa) apresentam o patrimônio de conhecimento como “corpos de conhecimento historicamente acumulados e culturalmente desenvolvidos11 11 No original: “historically accumulated and culturally developed bodies of knowledge”. ”, gerados na vida familiar e comunitária de cada sujeito. Com essa ideia em mente, os autores propõem uma metodologia de pesquisa qualitativa para o contexto escolar que considere os saberes construídos pelas crianças, frequentemente negligenciados pela escola.
Mais tarde, Esteban-Guitart e Moll (2014)ESTEBAN-GUITART, Moises; MOLL, Luis (2014). Funds of Identity: A new concept based on the Funds of Knowledge approach. Culture & Psychology. Vol. 20(1), p. 31-48., a partir da noção de identidade12 12 Para Esteban-Guitart e Moll (2014), a identidade não consiste em uma coisa; trata-se de um construto social, vagamente referido a um conjunto complexo de fenômenos. , reformulam a ideia de patrimônio em uma vertente vygotskyana. Para esses autores, a identidade não é uma parte do self, mas um construto social. Assim, o patrimônio de conhecimento torna-se patrimônio de identidade “quando as pessoas, ativamente, internalizam recursos da família e da comunidade para produzirem sentido e para descreverem a si mesmas13 13 No original: “when people actively internalize family and community resources to make meaning and to describe themselves”. ” (ESTEBAN-GUITART; MOLL, 2014ESTEBAN-GUITART, Moises; MOLL, Luis (2014). Funds of Identity: A new concept based on the Funds of Knowledge approach. Culture & Psychology. Vol. 20(1), p. 31-48., p. 33, tradução nossa).
Num exercício contínuo de expansão teórica, Megale e Liberali (2020)MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74. articulam o patrimônio de conhecimento ao patrimônio de identidade e ao repertório de cada sujeito. Ao patrimônio vivencial, pertencem os saberes oriundos da vida familiar e da comunidade, a identidade coconstruída e socioculturalmente mediada e a trajetória biográfica, caracterizada pela participação e pela ausência em práticas de linguagem. Nas palavras das pesquisadoras:
[o] patrimônio vivencial, como propomos, é, portanto, o conjunto de recursos acumulados a partir de eventos dramáticos vividos com o outro, que se materializam (ou não) nos “meios de falar” (BLOMMAERT; BACKUS, 2012BLOMMAERT, Jan.; BACKUS, Ad. (2012). Superdiverse Repertoires and the Individual. Tilburg Papers in Cultural Studies, v. 24, p. 1-32., p. 3), que são todos os meios pelos quais os sujeitos interagem com o mundo, e compreendem aspectos linguísticos, culturais, emocionais e sociais (MEGALE; LIBERALI, 2020MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74., p. 68).
Para ilustrar o conceito de Megale e Liberali (2020)MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74., propomos uma imagem que explica o percurso interpretativo das autoras:
Patrimônio vivencial, baseado em Megale e Liberali (2020)MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74.
A abrangência da noção de patrimônio vivencial é, em si, um risco. Muitos elementos constituem-no, o que exige do pesquisador uma visão ecológica do sujeito de pesquisa e de seu meio. Entretanto, vemos aí uma possibilidade interpretativa que busca unir aspectos individuais a aspectos sociais, valorizando a subjetividade sem descartar os saberes historicamente acumulados. É com base nessa noção que estruturamos nossa pergunta de pesquisa.
2. A METODOLOGIA ADOTADA
Visando compreender, na prática, os conceitos apresentados neste artigo, realizamos uma pesquisa que se insere no paradigma qualitativo de cunho interpretativista. Por isso, podemos afirmar, com base em Celani (2005, p. 110), que se trata muito “mais [de] um desdobrar-se do que um plano definitivo”.
Como o relato desta pesquisa busca se concentrar nas especificidades de um único sujeito, optamos por uma metodologia que nos permitisse conhecer pormenorizadamente os aspectos que constituem seu patrimônio vivencial. Assim, escolhemos realizar um estudo de caso. Para Leffa (2006, p. 14), o estudo de caso consiste em uma investigação sobre “tudo o que é possível saber sobre o sujeito ou grupo escolhido e que achamos que possa ser relevante para a pesquisa”.
Considerando os limites de um artigo, não poderíamos realizar um estudo exaustivo sobre todas as singularidades do participante. Desse modo, este texto focaliza apenas aspectos relevantes de seu patrimônio vivencial em contexto escolar e, mais especificamente, em sua relação com a leitura e a escrita.
Para tanto, procuramos investigar como se configura o patrimônio vivencial de um jovem de 20 anos de idade em processo de alfabetização. Visando ilustrar o percurso de tal investigação, primeiramente, apresentaremos o sujeito participante da pesquisa e o contexto escolar em que ele está inserido. Em seguida, descreveremos, brevemente, os instrumentos e os procedimentos de geração de dados.
2.1. O participante da pesquisa
O sujeito da pesquisa que aqui relatamos, como já foi dito, é um jovem de 20 anos de idade. Ele se chama Pedro e está matriculado em um CIEJA, localizado na periferia da cidade de São Paulo.
Nesse município, há cinco modalidades de EJA: o CIEJA, a EJA regular, a EJA modular, o Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT) e o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA). Como se sabe, a EJA foi criada para garantir o acesso à educação àqueles que, por diversos motivos, não puderam frequentar a escola quando eram crianças e adolescentes.
Nos últimos anos, além de atender esse público, a EJA também tem atendido muitos jovens que frequentaram a escola de ensino fundamental na idade considerada adequada, mas tiveram insucessos nas instituições educacionais por onde passaram. Esses insucessos, possivelmente, se devem, entre outros aspectos, ao fato de esses jovens não terem conseguido se adaptar a processos de ensino-aprendizagem que não levam em conta seus saberes, suas necessidades e seus interesses. É desse contexto que faz parte o sujeito de nossa pesquisa. Pedro frequentou duas escolas municipais de ensino fundamental: uma por poucos meses, porque se mudou de bairro; e outra por quase oito anos (essa instituição é próxima à casa onde ele mora). No entanto, por motivos que poderemos melhor compreender em excerto a ser trabalhado à frente, Pedro foi, de acordo com seu relato, expulso dessa última instituição.
Depois disso, ele passou pelo sistema prisional, onde permaneceu por sete meses. Egresso desse sistema, o jovem ficou alguns meses sem frequentar a escola e, no final de 2018, foi matriculado no CIEJA. Essas e outras informações foram dadas a uma das autoras do presente artigo pelo próprio educando, em conversas informais que aconteceram durante as aulas extras de alfabetização que lhe eram oferecidas por ela. Ressaltamos que o vínculo entre a professora-pesquisadora e Pedro começou a se estabelecer antes do início dessas aulas, situação a ser detalhada adiante. Durante as conversas, Pedro aceitou o convite da professora-pesquisadora para participar deste estudo. Em seguida, assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, lido em voz alta pela educadora. Frisamos que Pedro assinou tal documento com autonomia, porque havia acabado de aprender a escrever seu nome completo.
O CIEJA tem um amplo horário de funcionamento: as aulas são das 7h30 às 22h15, sendo divididas em seis períodos de duas horas e quinze minutos de aula, com pequenos intervalos entre os períodos. Os estudantes dessa instituição educacional, embora sejam matriculados em um único período, têm a possibilidade de frequentá-la nos horários que quiserem e/ou puderem. Pedro está matriculado no período da manhã, porém, muitas vezes, além de assistir às aulas desse período, assiste às da tarde.
Apesar de ter passado cerca de oito anos em escolas de ensino fundamental e de passar algumas horas diárias no CIEJA, Pedro ainda não estava alfabetizado14 14 O termo alfabetização pode ter diferentes sentidos, que variam conforme os autores que se propõem a defini-lo. Neste artigo, com base em Galvão e Di Pierro (2012), pode-se afirmar que, depois que o termo letramento passou a ser amplamente utilizado no Brasil, a alfabetização passou a designar, especificamente, o processo de ensino-aprendizagem do sistema de notação alfabético, abrangendo as habilidades de leitura e de escrita. Assim, ao afirmar que Pedro não estava alfabetizado, queremos dizer que ele ainda não se apropriara da língua em sua modalidade escrita e alfabética, razão pela qual ele ainda não conseguia ler e escrever. . Por isso, ele apenas copiava o que os professores escreviam na lousa; contudo, não conseguia ler nem escrever.
Pedro demonstrava interesse pelas atividades propostas dentro e fora da escola. Ele participava, inclusive, do Digit-M-Ed, um projeto de desencapsulação curricular, coordenado pela professora Dra. Fernanda Liberali. Esse projeto envolve pesquisadores, professores, coordenadores pedagógicos, diretores e estudantes de diversas escolas da rede pública e privada. Os pesquisadores que participam desse projeto tinham reuniões semanais ou quinzenais para organizar os encontros, que ocorriam mensalmente na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo15 15 Para saber mais sobre o Digit-M-Ed, sugerimos a leitura de Manzati (2018). .
Foi a participação de Pedro no Digit-M-ed que fez com que uma das autoras deste artigo tivesse contato com esse educando. Mesmo sendo docente do CIEJA, essa professora-pesquisadora ainda não tinha conhecido o estudante, pois ele frequentava a escola, geralmente, nos períodos matutino e vespertino, e a professora leciona no período noturno nessa instituição. Ao saber que Pedro e mais dois estudantes jovens dessa unidade educacional ainda não conseguiam ler e escrever, ela lhes propôs aulas extras de leitura e escrita. Todavia, dos três alunos, apenas Pedro aceitou participar dos encontros. Desse modo, em setembro de 2019, iniciaram-se as aulas, que ocorriam16 16 Desde meados de março de 2020, em decorrência da pandemia de COVID-19, todas as atividades escolares presenciais, inclusive as aulas extras de alfabetização, foram suspensas. Em fevereiro de 2021, com muitas restrições (como horários reduzidos e revezamento entre os discentes), as aulas presenciais vêm sendo lentamente retomadas, contudo, Pedro, devido à precariedade de suas condições de vida, retornou ao CIEJA em agosto de 2021. Um dos motivos pelos quais ele ainda não retornara consiste no fato de que o seu direito à gratuidade do transporte tinha sido suspenso temporariamente. A sua ida à escola está condicionada a essa política pública, uma vez que o aluno mora em um bairro distante da instituição educacional. Portanto, sem acesso gratuito ao transporte público, ele não conseguia ir ao CIEJA. às segundas-feiras das 15h às 16h30 e que possibilitaram uma maior aproximação entre tal autora e o discente.
Pensando nesses aspectos, consideramos que seria muito interessante estudar, na prática, os conceitos já apresentados na seção anterior, tendo, como sujeito de pesquisa, Pedro, um jovem cuja vida fora marcada por experiências de diversas ordens e que é marcada, também, pelo fato de ele ainda não ter aprendido a “dizer a sua palavra17 17 Para Freire (1974), alfabetizar-se significa aprender a dizer a sua própria palavra. ” (FREIRE, 1974FREIRE, Paulo. (1974/1987). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra., p. 54).
Na próxima subseção, apresentaremos os instrumentos e os procedimentos de geração de dados.
2.2. Instrumentos e procedimentos de geração de dados
O principal instrumento de geração de dados desta pesquisa consiste numa entrevista semiestruturada, que foi gravada em áudio no dia 13 de novembro de 2019, numa das salas de aula do CIEJA onde Pedro está matriculado. A entrevista, que durou pouco mais de 17 (dezessete) minutos, foi conduzida por uma das autoras deste artigo e pode ser considerada semiestruturada, pois não se pautou em um roteiro rígido (YIN, 2016YIN, Robert K. (2016). Pesquisa qualitativa do início ao fim. Trad. Daniel Bueno. Revisão técnica: Dirceu da Silva. Porto Alegre: Penso.). Embora a professora-pesquisadora já tivesse escolhido algumas das perguntas que ela faria a Pedro, ela não preparou uma lista completa de questões a serem respondidas pelo discente. Ademais, a docente elaborou algumas delas exatamente no momento da entrevista, com base nas respostas do educando.
Essa entrevista teve como objetivo conhecer especificidades das experiências de Pedro em contexto escolar para tentar compreender como se configura o seu patrimônio vivencial no que tange à sua relação com a leitura e a escrita. Visando alcançar esse propósito, foram feitas várias questões ao estudante, entre as quais:
-
Como você se sentia nas aulas pelo fato de não ler?
-
O professor sabia que você não sabia ler?
-
Por que, para você, é importante aprender a ler e a escrever?
Poucos dias após a entrevista, nós – os três autores deste artigo –, nos reunimos para escutá-la algumas vezes, transcrevermos alguns de seus trechos e fazermos uma análise preliminar dos dados. Os trechos transcritos foram os que, a nosso ver, nos auxiliariam mais na compreensão e na interpretação das singularidades das experiências vivenciadas por Pedro em âmbito escolar.
Para interpretar a entrevista, também nos pautamos em conversas informais entre o educando e uma das autoras deste texto, durante as aulas de leitura e escrita. Essas conversas informais também nos permitiram conhecer e procurar compreender peculiaridades das experiências do educando sob seu ponto de vista.
Ademais, para entender esses dados, procuramos interpretá-los à luz do arcabouço teórico já apresentado. Na próxima seção, exporemos a nossa interpretação dos dados.
3. ASPECTOS DO PATRIMÔNIO VIVENCIAL DE PEDRO: UMA INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL
Nesta seção, retomamos a pergunta de pesquisa: como se configura o patrimônio vivencial do sujeito de pesquisa, na atividade de alfabetização, em contexto escolar? Para respondê-la, partimos, inicialmente, de um excerto da entrevista conduzida pela professora-pesquisadora:
-
01. Pesquisadora: Mas como você se sentia pelo fato de não ler? Porque o professor passava coisas na lousa, não passava?
-
02. Pedro: Quando o professor mandava ler na lousa, aí chegava a minha vez, “professor, eu vou ali, no banheiro”. Aí, NUNCA MAIS VOLTOOÔ.... Pegava minha bolsa e ia embora. Eu dava a bolsa pro moleque lá fora, falava: “Segura minha bolsa aí, que eu vou pegar lá a bolsa. Fala que é sua”.
-
03. Pesquisadora: SÉRIO? Você não ficava na aula?
-
04. Pedro: Não, não ficava na aula.
-
05. Pesquisadora: Mas o professor sabia que você não sabia ler?
-
06. Pedro: Não. Nem os professores sabia.
-
07. Pesquisadora: Nem os professores? Como eles não sabiam? Eles nunca pediram pra você escrever?
-
08. Pedro: Tinha uns professores... esses professores que não faziam nada na escola, não queriam nem saber quem não sabia ler. Só entrava na sala e [eu] falava “vixe, já sei o que eu vou fazê”.
-
09. Pesquisadora: Sério? Mas e esses dois professores, de português e de matemática?
-
10. Pedro: Ah, o de português, depois que fiquei dois mês na aula de português, a professora ficou sabendo que eu não sabia ler. Aí, ela tentou me colocar no reforço. Mas eu não gostava da professora de reforço. Aí, nem ia.
-
11. Pesquisadora: E por que você não gostava?
-
12. Pedro: Ah, porque aconteceu que, um dia, nóis ia fazer reforço... mas, o dia que nóis entrou na quadra, ela xingou nóis. Xingou nóis, chamou nóis de trombadinha18 18 Embasados no trabalho de Bortoni-Ricardo (2008), nessa transcrição, adotamos a seguinte legenda: as LETRAS MAIÚSCULAS indicam aumento na entonação do falante, o que sugere ênfase; parênteses apontam para gestos, movimentos ou expressões faciais do sujeito. Além disso, apresentamos os excertos de forma literal. Eventuais inadequações gramaticais foram preservadas para garantir fidelidade às expressões dos participantes. .
Na visão de Pedro, esse excerto, especificamente nos turnos de 01 a 08, parece sugerir uma total negligência da escola no processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita. Essa negligência se traduz no fato de que, até o momento em que este artigo foi redigido, o educando não estava alfabetizado. Além disso, a imagem dos professores caracteriza-se pela omissão. Nesses turnos, vemos, também, os recursos semióticos que Pedro mobilizou para não mostrar sua situação de analfabetismo, como sair da sala de aula nos momentos em que poderia ser solicitada a sua leitura em voz alta. Por trás disso, observamos, ainda, a vergonha (BUSCH, 2017BUSCH, Brigitta. (2017). Expanding the Notion of the Linguistic Repertoire: On the Concept of Spracherleben – The Lived Experience of Language. Applied Linguistics. Oxford: University Press, v. 38, n. 3, p. 340-358.) de não fazer parte da cultura letrada. Entendemos cultura letrada como as práticas culturais que envolvem leitura e escrita, em esferas comunicativas de prestígio.
Retornando ao papel da escola, nos turnos de 09 a 12, Pedro relata que recebeu o olhar da professora de português do ensino fundamental, quando ela o encaminhou às “aulas de reforço19 19 Pedro denominava “aulas de reforço” tanto as aulas extras de português que ele teve na escola de ensino fundamental quanto as aulas extras de leitura e escrita de que ele participava no CIEJA e que lhe eram dadas por uma das autoras deste artigo. ”. Contudo, essa ação não repercutiu positivamente, pois, segundo Pedro, a professora de reforço ofendeu-o, ao chamá-lo de “trombadinha”. Essa forma linguística, no nível direto, alude a uma relação depreciativa entre a professora e os alunos, os quais, ao que parece, são rotulados e estigmatizados. No nível indireto, a mesma forma linguística indica uma relação hierárquica abusiva, no sentido de que revela uma condenação por parte da professora. A ideologia subjacente a essa interação parece ter uma natureza determinista. Adicionalmente, a palavra “trombadinha” foi entextualizada, à medida que foi retirada da arena social em que crianças e jovens vulneráveis são associados a infratores para ser empregada no contexto escolar. Com isso, a professora revelou seu preconceito contra Pedro. O reforço, nesse caso, foi o de uma estigmatização ligada ao sentimento de marginalidade.
A fala de Pedro parece mostrar transformações significativas quando questionado sobre a experiência específica no CIEJA, conforme vemos no excerto a seguir:
-
13. Pedro: Agora, eu tô gostando, tô aprendendo bastante nessa escola. Antes, nas outra escola que eu ia, eu nem ficava na sala de aula. Ficava andando na escola. Parecia turista. (Risos) Bebia água. Não fazia mais nada. Ficava na porta, chamando os outro pra ficar fora da sala.
-
14. Pesquisadora: Mas, agora, você gosta da escola?
-
15. Pedro: (Voz baixa) Agora, eu faço lição. Agora, eu tô focado, né? Não é igual nas outras escola. Nas outras escola... essa escola é diferente das outras.
-
16. Pesquisadora: Por que você acha que o CIEJA é diferente?
-
17. Pedro: Porque as pessoas... como que se fala? As professoras dão atenção, conversa mais. Pergunta se você tem dificuldade. No primeiro dia, deixa eu ver... Nossa, a Fran é um amor de pessoa. A Fran, eu não tenho mal de falar da Fran.
-
18. Pesquisadora: É, ela é ótima, mesmo. Não tem diretora igual ela, né?
-
19. Pedro: Mas é da hora essa escola. Eu gostei.
Em contraste com o sentimento de vergonha da experiência na escola de ensino fundamental, nos turnos de 13 a 19, Pedro mostra empolgação em estar na escola e, a nosso ver, em participar da cultura letrada. Essa empolgação aparece em expressões como “eu faço lição”, “tô focado”, “as professoras dão atenção”, “a Fran é um amor de pessoa”, “é da hora essa escola”. Essa empolgação, ressalvamos, não diz respeito apenas às ações do próprio sujeito, como passar a fazer as tarefas. Engloba, na verdade, a interação de Pedro com o próprio meio. Para ele, o ambiente escolar deixou de ser um lugar onde ele não queria estar. Pedro, na escola de ensino fundamental, mobilizava recursos para não permanecer em sala de aula. No CIEJA, ao contrário, o educando passava mais horas do que o exigido pela instituição. Ademais, em conversas informais com a professora-pesquisadora, ele afirmou que uma de suas atividades preferidas consistia em participar das visitas educativas promovidas por essa instituição.
Amparados pela perspectiva sócio-histórico-cultural, entendemos que, no processo de transformação de Pedro, há um entrelaçamento de elementos sociais e individuais. Para tratar do aspecto social, retomamos a ideia de meio, segundo Vygotsky (2010). Neste artigo, por um lado, não temos condições de discorrer sobre o meio em que Pedro se desenvolveu como um todo, mas podemos deduzir que a escola de ensino fundamental, como um espaço constituinte do meio, não promoveu o ingresso do educando no mundo da escrita. O ambiente do CIEJA, por outro lado, parece ter propiciado um novo meio a Pedro. Nele, parece que o educando se sentia acolhido, como sugerem os turnos 17 e 19.
No aspecto individual, talvez seja possível atribuir determinadas transformações de Pedro às perezhivania que ele vivenciou ao longo dos anos. Assumimos que, com base em Vygotsky (2010), a emergência de uma perezhivanie requer uma reflexão do sujeito sobre o que se vive ou o que se viveu. Nesse sentido, os turnos 2 e 13 permitem-nos reconhecer um contraste estabelecido por Pedro entre sua vivência na escola de ensino fundamental e no CIEJA. Esse contraste está presente no trecho “Antes, nas outra escola que eu ia, eu nem ficava na sala de aula”. Ao usar o advérbio antes, Pedro sugere que há dois momentos distintos: se, anteriormente, Pedro não ficava no ambiente de aprendizagem; no CIEJA, ele permanecia na turma, porque se sentia mais confiante; se, anteriormente, Pedro atrapalhava a aula, conforme o relato do próprio sujeito no turno 13 (“Ficava na porta, chamando os outro pra ficar fora da sala”); no CIEJA, ele colaborava para o processo de ensino-aprendizagem, como se pode perceber na fala do sujeito expressa no turno 15.
É provável que Pedro tenha vivido diversos eventos dramáticos, isto é, perezhivania em contextos sociais, no interior da escola, à medida que não conseguia ler e escrever, em um ambiente grafocêntrico, em que outros, alunos e professores, liam e escreviam. Como a noção de perezhivanie busca compreender a relação individual – e subjetiva, portanto – do sujeito com o meio, não podemos fixar um evento como deflagrador absoluto de perezhivania. Podemos, entretanto, reconhecer, na fala de Pedro, pedaços de texto que revelam sua interpretação sobre suas próprias vivências e prováveis eventos dramáticos. Um exemplo de possível evento dramático é ser chamado de “trombadinha” (turno 12) por uma professora. Essa experiência, vivida no coletivo, com outros alunos, ficou impregnada em sua memória.
Adicionalmente, a perezhivanie, como fenômeno, implica as diferentes refrações de um mesmo sujeito. Na biografia parcial de Pedro a que tivemos acesso, o sujeito narrou, em conversas informais, dois pretensos eventos dramáticos que podem ser associados a esse fenômeno. Na escola de ensino fundamental, Pedro disse ter ateado fogo aos livros da biblioteca, como se vê no excerto a seguir:
-
20. Pesquisadora: Você disse que foi expulso da Escola Raul Pompéia? Por que, mesmo, que você foi expulso?
-
21. Pedro: Ah, porque eu tava brigando muito. Aprontava.
-
22. Pesquisadora: Aquela história lá de queimar os livros tinha a ver com isso?
-
23. Pedro: Tinha.
-
24. Pesquisadora: Os livros?
-
25. Pedro: Sim. Eu queimei.
-
26. Pesquisadora: Você lembra por que você fez isso?
-
27. Pedro: Ah, porque tava com raiva na hora. Fiquei bravo. Aí peguei os livro, peguei a lixeira, aí taquei fogo.
-
28. Pesquisadora: E, por que que você tava com raiva? O que que tinha acontecido? Você lembra?
-
29. Pedro: Ah, eu não lembro, não; só lembro que eu tava com raiva.
Pedro reputa ao sentimento de raiva (turno 29) sua atitude, embora não tenha conseguido explicar, detalhadamente, o que motivou essa emoção. Em contraste a esse relato, Pedro, no momento da entrevista, mostra outra relação com a cultura letrada, ao dizer: “Eu penso mesmo em escrever um livro”.
Vemos, nesses episódios, os modos como Pedro, presumivelmente, refratou a experiência de estar na escola de ensino fundamental, sem conseguir corresponder a suas demandas, e como refrata outra experiência ao estudar no CIEJA. Ainda que não tenha se apropriado da notação alfabética, Pedro vivia a experiência de aprender a ler e a escrever de uma maneira muito diferente. Essa diferença na forma de se enxergar na situação de aprendizagem pode resultar, para Vygotsky (2010) e para Veresov (2016)VERESOV, Nikolai. (2016). Perezhivanie as a phenomenon and a concept: Questions on clarification and methodological meditations. Cultural-historical psychology, Frankston, Australia: Australia Monash University, vol. 12, n. 3, p. 129-148., de distintas perezhivania. Argumentamos isso porque entendemos que as perezhivania, vividas em eventos dramáticos, causam impactos no sujeito e podem, assim, se tornar recursos para futuras experiências.
A transformação em Pedro pode ser interpretada, também, à luz do conceito de agência. Em primeiro lugar, conforme vemos nos turnos 13 e 15, Pedro mudou seus modos de agir em relação ao contexto escolar. Seu padrão de ação (turno 13), consciente e intencional, era caracterizado por um não envolvimento nas práticas de leitura e escrita, já que ele não ficava dentro da sala, mas, à porta, chamando outros alunos para saírem. Pedro rompeu esse padrão quando aceitou a ajuda da professora-pesquisadora e mudou suas atitudes, de acordo com o turno 15. O rompimento de padrões, mobilizado pela agência, tem duas direções opostas. Inicialmente, Pedro parecia lutar contra os padrões impostos pela instituição escolar, que parecia não o acolher. Depois, seu padrão de rebeldia ou dissenso deu lugar a outro comportamento: confiar no CIEJA, como vemos no turno 17. Essa confiança lhe trouxe forças para acreditar na possibilidade de superar, naquele momento, aquilo que parecia ser uma dificuldade.
Em segundo lugar, ao participar do processo de ensino-aprendizagem, Pedro não só mostrou ter se dado mais uma chance, apesar da sensação de fracasso em sua experiência escolar anterior, mas também contribuiu para o conluio entre o motivo e o objetivo da atividade social de ler e escrever. Na perspectiva sócio-histórico-cultural, para uma ação tornar-se atividade, é necessário que o motivo do agente, caracterizado por um desejo, se concretize no objetivo da própria atividade, colaborativamente coconstruída (LEONTIEV, 1977). Aparentemente, pela primeira vez, a vontade de Pedro encontrou-se com o objetivo da escola, planejado, de forma intencional, pela professora-pesquisadora. Além disso, os dados apontam que Pedro entendeu que havia normas do ambiente escolar que poderiam ser seguidas, sem que ele se sentisse necessariamente desconfortável (cf. turno 13). Assim, no CIEJA, Pedro conseguia seguir uma rotina institucional e realizar tarefas que lhe pareciam muito dificultosas.
A agência de Pedro compõe, também, seu repertório e seu patrimônio. Nesse sentido, a situação de analfabetismo é parte integrante do repertório do sujeito. Embora se trate de uma característica que o coloca, nas palavras de Freire (1987, p. 35)FREIRE, Paulo. (1974/1987). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra., numa posição de “um ser para os outros”, ela não pode ser descartada ou abordada como algo de menor valia.
No caso dos recursos semióticos de Pedro, destacamos, dentre outros, a pichação. Na primeira aula com a professora-pesquisadora, Pedro afirmou que sabia escrever apenas seu nome e a expressão “Pichadores do Morro”. Ela, então, lhe pediu que escrevesse essa expressão. Pedro, então, pichou “PDM” e, depois, a pedido dela, leu “Pichadores do Morro”. Percebendo o interesse do educando pela pichação, a professora-pesquisadora lhe indagou mais sobre essa linguagem. Posteriormente, ela narrou esse episódio à diretora do CIEJA, que acolheu o interesse de Pedro, convidando-o a pichar futuramente uma das paredes de tal instituição.
Tal episódio parece revelar dois aspectos. O primeiro é a postura compreensiva da escola ao valorizar os recursos de Pedro, ainda que estejam associados a uma linguagem marginalizada. O segundo é a flexibilidade da professorapesquisadora, que, inicialmente, previa sondar as hipóteses de escrita do educando segundo um roteiro pré-definido20 20 A sondagem que a professora-pesquisadora pretendia fazer consistia em solicitar ao educando que ele escrevesse quatro palavras de um mesmo campo semântico: uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. . Entretanto, esse roteiro foi modificado em prol das necessidades e dos interesses do sujeito. Ressaltamos que, em nosso entendimento, a pichação era um recurso multissemiótico de Pedro que constitui, conforme Busch (2017)BUSCH, Brigitta. (2017). Expanding the Notion of the Linguistic Repertoire: On the Concept of Spracherleben – The Lived Experience of Language. Applied Linguistics. Oxford: University Press, v. 38, n. 3, p. 340-358., o seu repertório, e, nos termos de Megale e Liberali (2020)MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74., o seu patrimônio vivencial.
Interpretamos, ainda, que Pedro não usava a pichação apenas como um recurso para participar de determinada “instância de comunicação” (LIBERALI; ROCHA, 2017LIBERALI, Fernanda Coelho; ROCHA, Cláudia Hilsdorf. (2017). Ensino de línguas nos anos iniciais de escolarização: reflexões sobre bilinguismo e letramentos. In: RODRIGUES, A. F.; FORTUNATO, M. P. (Orgs.). Alfabetização e letramento: prática reflexiva no processo educativo. São Paulo: Humanitas, p. 127-144., p. 131). Ao escolher essa linguagem, Pedro expressava uma forma estrategicamente identitária. Essa estratégia de explicitar seu pertencimento a um grupo social sem negligenciar sua individualidade está presente também na construção “Pichadores do Morro”, um dos primeiros registros grafados por Pedro, na interação com a professora-pesquisadora. Ao usá-la, Pedro aponta para uma manifestação cultural e intervenção urbana (a pichação), num lugar de estigma (o morro). Assim, Pedro se posiciona frente à cultura letrada. Ele não se negou a grafar algo para a professora-pesquisadora, mas, espontaneamente, sem que ela sugerisse, escolheu aquilo com que se identificava, mesmo sabendo não se tratar da linguagem valorizada, socio-historicamente, pela sociedade grafocêntrica. Em síntese, Pedro produziu sentido por meio de um recurso potente para si – não para a escola.
Expandindo a noção de repertório, conforme discutimos na seção teórica, Liberali e Megale (2020)MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74. propõem o conceito de patrimônio vivencial. Esse conceito abarca tanto a noção de repertório quanto as perezhivania. Alguns aspectos do patrimônio vivencial de Pedro que emergem na atividade de alfabetização são: seus recursos semióticos; as emoções; as experiências anteriores, dentro e fora da escola; e, fundamentalmente, a capacidade de tomar posse de sua própria história, a ponto de querer escrever um livro sobre sua vida.
Posto isso, buscando responder à pergunta de pesquisa aqui proposta anteriormente, podemos afirmar que, na atividade de aprender a ler e escrever, em contexto escolar, o patrimônio vivencial de Pedro é também configurado por componentes como a ação da professora-pesquisadora, as oportunidades do ambiente escolar e a vontade do educando. Esses elementos, contudo, não estão justapostos, mas articulados. Essa articulação pode mostrar a trajetória de transformação de Pedro que, possivelmente, não será restrita a ele. Acreditamos que, a partir dela, o estudante possa influenciar outras pessoas no seu entorno, promovendo, talvez, por meio de sua nova postura, uma transformação no coletivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, abordamos conceitos como meio, perezhivanie, recursos semióticos, repertório, mobilidade, agência e patrimônio vivencial. A respeito de patrimônio, recuperamos desdobramentos teóricos como o patrimônio identitário e o patrimônio vivencial. Este, aliás, é um conceito recente, que engloba, em síntese, os conhecimentos, as identidades, perezhivania e o repertório dos sujeitos. A pesquisa aqui relatada se pauta em estudos sócio-histórico-culturais e sociolinguísticos. Com base nesse arcabouço teórico, realizamos um estudo de caso. O sujeito da pesquisa é um educando da EJA, com 20 anos de idade, matriculado no 4º módulo de uma escola pública (equivalente ao 8º e 9º anos do ensino fundamental), em situação de analfabetismo.
A busca por conhecer o patrimônio vivencial de Pedro na atividade de ler e escrever nos remete a Paulo Freire (1993, p. 140)FREIRE, Paulo. (1993/2017). Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. 27.ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra.. Para esse educador brasileiro, nossas relações com os educandos demandam “nosso respeito a eles e a elas [...] e o nosso conhecimento das condições concretas de seu contexto”. Na aplicação do conceito de patrimônio vivencial no contexto escolar, vemos potenciais pontos de encontro com o pensamento freiriano, o que pode sugerir possibilidades para futuras pesquisas na área de Linguística Aplicada.
Nesta investigação, tivemos a oportunidade de nos dedicar ao estudo do patrimônio vivencial de um sujeito. Contudo, no que concerne à aplicabilidade desse conceito em contextos escolares, observamos, ainda, dois pontos fundamentais. O primeiro é a necessidade de mais pesquisas pautadas nesse aporte teórico. O segundo é a viabilidade desse conceito para pesquisas em ambientes escolares onde há salas superlotadas e professores já extenuados em suas tarefas. Entendemos, desse modo, que os limites de aplicação de qualquer conceito esbarram em sua possibilidade de uso em contextos concretos. Daí o desafio posto a pesquisadores interessados em usar a ideia de patrimônio vivencial em suas produções.
Com este trabalho, aprendemos que, possivelmente, a existência de uma escola acolhedora e de uma professora que enxergou Pedro como um sujeito foram importantes para o desenvolvimento de sua agência. De um aluno que fugia das aulas de leitura e que ateou fogo aos livros da biblioteca escolar, Pedro tornou-se uma pessoa interessada em transformar sua história em livro. Como afirmamos no decorrer deste artigo, consideramos transformação um processo que envolve mudanças nos modos como o sujeito age para construir relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo, e não como algo finalizado e completo. Além disso, como sugere o desenrolar de nossos argumentos, a transformação a que nos referimos não envolve juízo de valor. No caso de Pedro, sua transformação parece ter tido aspectos positivos no que tange à sua maneira de se relacionar no e com o ambiente escolar. Entretanto, isso não significa que, necessariamente, sua trajetória será semelhante à de tantos outros Pedros, já que o patrimônio vivencial é sempre um componente particular.
Embora seja um estudo influenciado pela biografia de um sujeito, este artigo reafirma o papel transformador da escola e das relações interpessoais no contexto escolar. Mostra, por fim, que a transformação de uma pessoa depende de um conjunto de fatores sociais, culturais, afetivos e coletivos.
-
1
Dedicamos este artigo aos Pedros, que querem uma vida melhor.
-
2
Trata-se de um nome fictício, que foi escolhido pelo próprio sujeito da pesquisa para que a sua identidade fosse preservada.
-
3
Baseando-nos em Ninin e Magalhães (2017)NININ, Maria Otília.; MAGALHÃES, Maria Cecília Camargo. (2017). A linguagem da colaboração crítica no desenvolvimento da agência de professores de ensino médio em serviço. Alfa: Revista de Linguística, São Paulo, v. 61, n. 3, p. 625-652., embora essas autoras não expliquem claramente o que elas chamam de transformação, podemos considerá-la como um processo que envolve mudanças nos modos como o sujeito age para construir relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo.
-
4
Na tradução do russo para o português, a grafia perezhivanie marca a declinação, no termo original, do substantivo singular; perezhivania, do substantivo plural.
-
5
Rey (2016)REY, Fernando González. (2016). Vygotsky’s Concept of Perezhivanie in The Psychology of Art and at the Final Moment of His Work: Advancing His Legacy. Abingdon: Routledge. Mind, culture, and activity. v. 23, n. 4, p. 1-10. e Veresov (2016)VERESOV, Nikolai. (2016). Perezhivanie as a phenomenon and a concept: Questions on clarification and methodological meditations. Cultural-historical psychology, Frankston, Australia: Australia Monash University, vol. 12, n. 3, p. 129-148. escrutinam os usos de perezhivanie em toda a obra de Vygotsky
-
6
No original: “complex nexus of psychological processes that includes emotions, cognitive processes, memory and even volition”.
-
7
BAUMAN, Richard; BRIGGS, Charles. (1990)BAUMAN, Richard; BRIGGS, Charles. (1990). Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology, California, n.19, p. 59-88.. Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology, California, n. 19, p. 59-88.
-
8
Uma revisão crítica do trabalho de Gumperz e Hymes aparece em Busch (2017)BUSCH, Brigitta. (2017). Expanding the Notion of the Linguistic Repertoire: On the Concept of Spracherleben – The Lived Experience of Language. Applied Linguistics. Oxford: University Press, v. 38, n. 3, p. 340-358..
-
9
No início das aulas de alfabetização das quais Pedro participava com a professora-pesquisadora, o aluno afirmou não saber escrever, mas saber pichar. Pedro, então, a pedido da educadora, registrou seu próprio nome usando a linguagem da pichação. Em seguida, adotou o mesmo procedimento para registrar o nome da professora.
-
10
Patrimônio de conhecimento e patrimônio de identidade são traduções de Liberali e Megale (2020)MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74. para, respectivamente, as expressões funds of knowledge (MOLL et al., 1992MOLL, Luis C.; AMANTI, Cathy; NEFF, Deborah; GONZÁLEZ, Norma. (1992). Funds of knowledge for teaching: using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory into Practice, vol. 31, n. 2, pp. 132–141.) e funds of identity (ESTEBAN-GUITART; MOLL, 2014ESTEBAN-GUITART, Moises; MOLL, Luis (2014). Funds of Identity: A new concept based on the Funds of Knowledge approach. Culture & Psychology. Vol. 20(1), p. 31-48.).
-
11
No original: “historically accumulated and culturally developed bodies of knowledge”.
-
12
Para Esteban-Guitart e Moll (2014)ESTEBAN-GUITART, Moises; MOLL, Luis (2014). Funds of Identity: A new concept based on the Funds of Knowledge approach. Culture & Psychology. Vol. 20(1), p. 31-48., a identidade não consiste em uma coisa; trata-se de um construto social, vagamente referido a um conjunto complexo de fenômenos.
-
13
No original: “when people actively internalize family and community resources to make meaning and to describe themselves”.
-
14
O termo alfabetização pode ter diferentes sentidos, que variam conforme os autores que se propõem a defini-lo. Neste artigo, com base em Galvão e Di Pierro (2012)GALVÃO, Ana Maria de Oliveira; DI PIERRO, Maria Clara. (2012). Preconceito contra analfabeto. 2ª ed. São Paulo: Cortez., pode-se afirmar que, depois que o termo letramento passou a ser amplamente utilizado no Brasil, a alfabetização passou a designar, especificamente, o processo de ensino-aprendizagem do sistema de notação alfabético, abrangendo as habilidades de leitura e de escrita. Assim, ao afirmar que Pedro não estava alfabetizado, queremos dizer que ele ainda não se apropriara da língua em sua modalidade escrita e alfabética, razão pela qual ele ainda não conseguia ler e escrever.
-
15
Para saber mais sobre o Digit-M-Ed, sugerimos a leitura de Manzati (2018)MANZATI, Guilherme Rittner. Projeto Digit-M-Ed-Hiperconectando: alunos como formadores no ambiente escolar. São Paulo, 2018. 123 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo..
-
16
Desde meados de março de 2020, em decorrência da pandemia de COVID-19, todas as atividades escolares presenciais, inclusive as aulas extras de alfabetização, foram suspensas. Em fevereiro de 2021, com muitas restrições (como horários reduzidos e revezamento entre os discentes), as aulas presenciais vêm sendo lentamente retomadas, contudo, Pedro, devido à precariedade de suas condições de vida, retornou ao CIEJA em agosto de 2021. Um dos motivos pelos quais ele ainda não retornara consiste no fato de que o seu direito à gratuidade do transporte tinha sido suspenso temporariamente. A sua ida à escola está condicionada a essa política pública, uma vez que o aluno mora em um bairro distante da instituição educacional. Portanto, sem acesso gratuito ao transporte público, ele não conseguia ir ao CIEJA.
-
17
Para Freire (1974)FREIRE, Paulo. (1974/1987). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra., alfabetizar-se significa aprender a dizer a sua própria palavra.
-
18
Embasados no trabalho de Bortoni-Ricardo (2008)BORTONI-RICARDO, Stella Maris. (2008). O professor pesquisador: introdução à pesquisa qualitativa. São Paulo: Parábola Editorial., nessa transcrição, adotamos a seguinte legenda: as LETRAS MAIÚSCULAS indicam aumento na entonação do falante, o que sugere ênfase; parênteses apontam para gestos, movimentos ou expressões faciais do sujeito. Além disso, apresentamos os excertos de forma literal. Eventuais inadequações gramaticais foram preservadas para garantir fidelidade às expressões dos participantes.
-
19
Pedro denominava “aulas de reforço” tanto as aulas extras de português que ele teve na escola de ensino fundamental quanto as aulas extras de leitura e escrita de que ele participava no CIEJA e que lhe eram dadas por uma das autoras deste artigo.
-
20
A sondagem que a professora-pesquisadora pretendia fazer consistia em solicitar ao educando que ele escrevesse quatro palavras de um mesmo campo semântico: uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba.
REFERÊNCIAS
- AHEARN, Laura M. (2001). Language and agency Annual Review of Anthropology, vol. 30, s.n., p. 109-137. Disponível em:<https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.anthro.30.1.109>. Acesso em: 25 ago. 2019.
» https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.anthro.30.1.109 - AZZARI, Eliane Fernandes. (2018). Mobilidade, paisagens digitais e práticas (trans)linguísticas. The ESPecialist, São Paulo, v. 39, n. 2, p. 1-15.
- BAUMAN, Richard; BRIGGS, Charles. (1990). Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology, California, n.19, p. 59-88.
- BORTONI-RICARDO, Stella Maris. (2008). O professor pesquisador: introdução à pesquisa qualitativa São Paulo: Parábola Editorial.
- BLOMMAERT, Jan.; BACKUS, Ad. (2012). Superdiverse Repertoires and the Individual. Tilburg Papers in Cultural Studies, v. 24, p. 1-32.
- BLOMMAERT, Jan. (2015). Chronotopes, scales and complexity in the study of language in society. Annual Review of Anthropology, v. 44, p. 105-116.
- BUCHOLTZ, Mary. (2009). From stance to style. In: JAFFE, Alexandra. Stance: sociolinguistic perspectives. Oxford Scholarship Online, 2009. p. 1-49. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~eckert/PDF/bucholtz2009.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2021. doi: 10.1093/acprof:oso/9780195331646.003.0007.
» https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195331646.003.0007» https://web.stanford.edu/~eckert/PDF/bucholtz2009.pdf - BUSCH, Brigitta. (2017). Expanding the Notion of the Linguistic Repertoire: On the Concept of Spracherleben – The Lived Experience of Language. Applied Linguistics Oxford: University Press, v. 38, n. 3, p. 340-358.
- EDWARDS, Anne. (2005). Relational agency: learning to be a resourceful practioner. International Journal of Educational Research, v. 43, n. 3, p.168-182.
- ESTEBAN-GUITART, Moises; MOLL, Luis (2014). Funds of Identity: A new concept based on the Funds of Knowledge approach. Culture & Psychology Vol. 20(1), p. 31-48.
- FREIRE, Paulo. (1974/1987). Pedagogia do oprimido Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- FREIRE, Paulo. (1993/2017). Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar 27.ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra.
- GALVÃO, Ana Maria de Oliveira; DI PIERRO, Maria Clara. (2012). Preconceito contra analfabeto 2ª ed. São Paulo: Cortez.
- GUIMARÃES, Thayse Figueira; MOITA LOPES, Luiz Paulo da. (2017). Trajetória de um texto viral em diferentes eventos comunicativos: entextualização, indexicalidade, performances identitárias e etnografia. Alfa: Revista de Linguística, São Paulo, v. 61, n. 1, p. 11-33.
- IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação 2019. 2020. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf>. Acesso em: 28 maio 2021.
» https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf - LIBERALI, Fernanda Coelho; FUGA, Valdite Pereira. (2018). A importância do conceito de perezhivanie na constituição de agentes transformadores. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 35, n. 4, p. 363-373.
- LIBERALI, Fernanda Coelho; ROCHA, Cláudia Hilsdorf. (2017). Ensino de línguas nos anos iniciais de escolarização: reflexões sobre bilinguismo e letramentos. In: RODRIGUES, A. F.; FORTUNATO, M. P. (Orgs.). Alfabetização e letramento: prática reflexiva no processo educativo. São Paulo: Humanitas, p. 127-144.
- LIBERALI, Fernanda Coelho. Atividade social nas aulas de língua estrangeira. São Paulo: Moderna, 2009.
- MANZATI, Guilherme Rittner. Projeto Digit-M-Ed-Hiperconectando: alunos como formadores no ambiente escolar. São Paulo, 2018. 123 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
- MEGALE; Antonieta Heyden; LIBERALI, Fernanda Coelho. (2020). As implicações do conceito de patrimônio vivencial como uma alternativa para a educação multilíngue. Revista X, v.15, n.1, p. 55-74.
- MOLL, Luis C.; AMANTI, Cathy; NEFF, Deborah; GONZÁLEZ, Norma. (1992). Funds of knowledge for teaching: using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory into Practice, vol. 31, n. 2, pp. 132–141.
- NININ, Maria Otília.; MAGALHÃES, Maria Cecília Camargo. (2017). A linguagem da colaboração crítica no desenvolvimento da agência de professores de ensino médio em serviço. Alfa: Revista de Linguística, São Paulo, v. 61, n. 3, p. 625-652.
- POOLE, Adam; HUANG, Jingyi. (2018). Resituating funds of identity within contemporary interpretations of perezhivanie. Mind, Culture, and Activity, v. 25, n. 2, p. 125-137.
- REY, Fernando González. (2016). Vygotsky’s Concept of Perezhivanie in The Psychology of Art and at the Final Moment of His Work: Advancing His Legacy. Abingdon: Routledge. Mind, culture, and activity. v. 23, n. 4, p. 1-10.
- STETSENKO, Anna. (2019). Creativity as dissent and resistance: Transformative approach premised on social justice agenda. In: LEBUDA, I.; GLAVEANU, V. (Org.). The Palgrave Handbook of Social Creativity, Londres: Springer, p. 431-446.
- VERESOV, Nikolai. (2016). Perezhivanie as a phenomenon and a concept: Questions on clarification and methodological meditations. Cultural-historical psychology, Frankston, Australia: Australia Monash University, vol. 12, n. 3, p. 129-148.
- VINHA, Márcia Pileggi; WELCMAN, Max. (2010). Quarta aula: a questão do meio na pedologia. Lev Semionovich Vygotsky Psicol. USP, São Paulo, v. 21, n. 4, p. 681-701, 2010.
- VIRKKUNEN, Jaakko. (2006). Dilemmas in building shared transformative agency. Activités. França, vol. 3, n. 1, p. 43-66.
- YIN, Robert K. (2016). Pesquisa qualitativa do início ao fim. Trad. Daniel Bueno. Revisão técnica: Dirceu da Silva. Porto Alegre: Penso.
- ZALTRON, Michele A. (2012). “Переживание” (perejivanie) e o “trabalho do ator sobre si mesmo” em K. Stanislavski. Anais do VII Congresso da ABRACE - Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas. Porto Alegre, p. 1-7.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
19 Ago 2022 -
Data do Fascículo
May-Aug 2022
Histórico
-
Recebido
09 Out 2020 -
Aceito
22 Out 2021 -
Publicado
15 Jul 2022
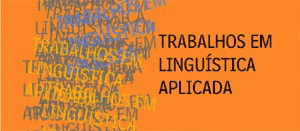


 Fonte: Imagem elaborada por Diego Satyro (2020).
Fonte: Imagem elaborada por Diego Satyro (2020).