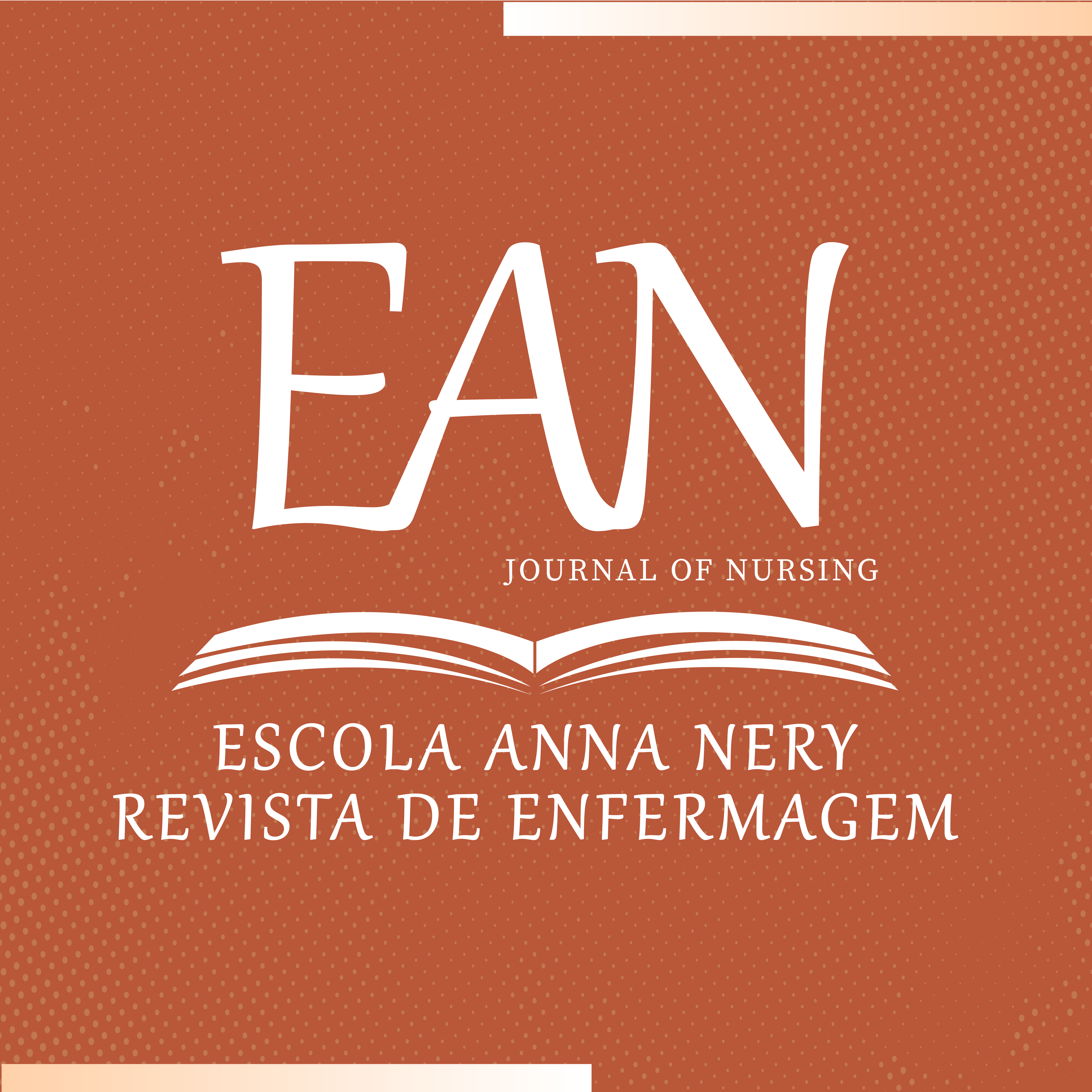RESUMO
Objetivo
analisar a internalização do cuidado com o corpo pelo escolar com a doença falciforme com base na teoria do desenvolvimento de Vigotski e no conceito de cuidado de Collière.
Método
Estudo qualitativo com 15 escolares que convivem com a doença falciforme, acompanhados em ambulatório na cidade de Vitoria – ES. A técnica utilizada foi a entrevista individual e a análise temática. A hidratação corporal, o brincar, a prevenção e manejo da crise falcêmica, a alimentação e as roupas foram as unidades temáticas que emergiram.
Resultados
Os participantes referiram ingerir variados tipos de líquidos. As brincadeiras foram predominantemente ativas. Os medicamentos foram de reparação e manutenção da saúde. Não se evidenciou consumo de alimentos saudáveis. Observou-se a utilização de roupas adequadas ao frio. A dor foi um signo da internalização do cuidado e do conhecimento para brincadeiras. A diminuição de líquidos e roupas inadequadas desencadearam a crise falcêmica.
Considerações Finais
Evidenciaram-se a internalização do conhecimento e dos cuidados mediados pela dor e o despreparo dos professores pela falta de conhecimento.
Implicações para a prática
este estudo poderá subsidiar a melhor articulação entre profissional de saúde, criança e escola.
Palavras-chave:
Anemia Falciforme; Criança; Autocuidado; Pesquisa qualitativa; Desenvolvimento Infantil
RESUMEN
Objetivo
analizar la internalización de la atención por parte del escolar con la enfermedad de células falciformes basado en la teoría del desarrollo de Vigotski y el concepto de atención de Collière.
Método
Estudio cualitativo con 15 escolares que viven con la enfermedad de células falciformes, monitoreados en una clínica ambulatoria en la ciudad de Vitoria - ES. La técnica fue la entrevista individual y el análisis temático. La hidratación corporal, el juego, la prevención y el manejo de la crisis falcémica, la alimentación y la ropa fueron las unidades temáticas que emergieron.
Resultados
Los participantes informaron de la ingestión de varios tipos de líquidos. Los juegos fueron predominantemente activos. Los medicamentos fueron de reparación y mantenimiento de la salud. No se ha demostrado el consumo de alimentos saludables. Se observó el uso de ropa adecuada para el frío. El dolor fue un signo de la internalización de la atención y el conocimiento para los juegos. La disminución de líquidos y la ropa inadecuada desencadenaron la crisis falcémica.
Consideraciones finales
Se señalaron la internalización del conocimiento y la atención mediados por el dolor y la falta de preparación de los maestros debido a la falta de conocimiento.
Implicaciones para la práctica
este estudio podrá subsidiar la mejor articulación entre los profesionales de la salud, los niños y la escuela.
Palavras clave: Anemia de Células Falciformes; Niño. Autocuidado; Investigación Cualitativa; Desarrollo Infantil
ABSTRACT
Objective
to analyze the internalization of body care by the schoolchildren with sickle cell disease based on Vigotski's development theory and Collière's concept of care.
Method
Qualitative study with 15 schoolchildren living with sickle cell disease, followed in an outpatient clinic in the city of Vitoria - ES. The technique was the individual interview and thematic analysis. Body hydration, playing, prevention and management of the sickle cell crisis, food and clothing were the thematic units that emerged.
Results
Participants reported ingesting various types of liquids. The games were predominantly active. The medications were repair and maintenance of health. It was observed no consumption of healthy foods. The use of clothes suitable for the cold was evidenced. Pain was a sign of the internalization of care and knowledge for games. The decrease in liquids and inadequate clothing triggered the sickle cell crisis.
Final Considerations
The internalization of knowledge and care mediated by pain and the unpreparedness of teachers due to lack of knowledge were highlighted.
Implications for practice
this study can support the best articulation between health professionals, children and school.
Keywords:
Anemia; Sickle Cell; Child; Self Care; Qualitative Research; Child Development
INTRODUÇÃO
O termo doença falciforme abrange diversas hemoglobinopatias presentes em todo o mundo, entre as quais a anemia falciforme é a majoritária.11 Gomes ILV, Campos DB, Custodio LP, Oliveira RS, organizadores. Doença falciforme: saberes e práticas do cuidado integral na Rede de Atenção à Saúde [Internet]. Fortaleza: EdUECE; 2019 [citado 2019 fev 12]. Disponível em: http://www.uece.br/eduece/dmdocuments/Doenca_falciforme_EDUECE_2019.pdf
http://www.uece.br/eduece/dmdocuments/Do...
No Brasil, estima-se que de 60 a 100.000 pessoas vivam com a doença, principalmente nas regiões que receberam grande quantidade de africanos.22 Tiné L. Tratamento para doença falciforme está disponível no SUS [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde, 2019 [citado 2019 fev 12]. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/servicos/53902-tratamento-para-doenca-falciforme-esta-disponivel-no-sus
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/s...
Historicamente, a doença surgiu no continente africano e foi trazida para o Brasil pelos negros escravizados, e alguns estados apresentam uma incidência de um recém-nascido diagnosticado com a doença falciforme para cada 13.500 nascimentos, como Santa Catarina e Paraná, provavelmente influenciada pelo menor número de negros na região sul do país. Neste mesmo contexto, a incidência da doença falciforme pode chegar a 1:4.000 em São Paulo, 1:1.800 no Espírito Santo, 1:1.400 nos estados de Minas Gerais e Goiás, 1:1.300 no Rio de Janeiro, até 1:650 na Bahia.33 Ministério as Saúde (BR). Doença falciforme: hidroxiuréia: uso e acesso. Brasília: Ministério da Saúde; 2014.
A evolução da doença falciforme inclui a isquemia e infarto de quaisquer órgãos e hemólise decorrente da falcização das hemácias,44 Novelli EM, Gladwin MT. Crises in sickle cell disease. Contemporary Reviews in Critical Care Medicine. 2016 abr;149(4):1082-93. http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2015.12.016.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2015.1...
e os sinais e sintomas são variados, com maior ou menor intensidade. Crianças apresentam complicações frequentes.55 Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Doença falciforme: saiba o que é e onde encontrar tratamento. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.
As crises falcêmicas podem ser desencadeadas diretamente por situações que alteram o estado de hidratação e oxigenação,66 Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Doença falciforme: condutas básicas para tratamento. Brasília: Ministério da Saúde; 2013. e o quadro clínico geralmente inclui dor em qualquer parte do corpo, edema em pés e mãos, palidez, icterícia, úlceras de membros inferiores, acidente vascular encefálico e priapismo.55 Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Doença falciforme: saiba o que é e onde encontrar tratamento. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.
A partir da idade escolar a criança começa a desenvolver o pensamento mais concreto, o que lhe confere maior compreensão sobre os mecanismos de funcionamento do próprio corpo e sobre a fisiopatologia da doença, e lhe proporciona a possibilidade de apreender cuidados preventivos e curativos. Nesta idade, a criança é sensível a qualquer coisa que constitua ameaça ou sugestão de lesão, e pode ser capaz de identificar alteração de padrão de saúde e atuar a seu favor.77 Hockenberry MJ, Wilson D. Wong fundamentos da enfermagem pediátrica. 9a ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2014.
As crianças devem aprender desde cedo, a cuidar do seu próprio corpo, o que precisa ser internalizado, para que elas se tornem sujeitos ativos na manutenção da sua saúde. O cuidado com o corpo, quando existe, aparece fragilizado, fragmentado e voltado apenas para as questões relacionadas com a dor ou crises álgicas. Isso ficou evidenciado pela revisão de literatura para este estudo, realizada nas fontes de dados LILACS, Medline, ScieLO, CINAHL e CAPES. Há carência de outros cuidados, além da identificação e intervenção da dor, bem como a necessidade de as crianças obterem maior conhecimento sobre a doença falciforme e internalizarem o cuidado com o corpo, objeto deste estudo, para uma vida saudável.
Cuidar é um ato individual que prestamos a nós mesmos e serve para manter e sustentar a vida.88 Collière MF. Promover a vida: da prática das mulheres de virtude aos cuidados de enfermagem. Lisboa: Lidel; 1999. O processo de internalização do cuidado constitui uma operação que, inicialmente representa uma atividade externa, que é reconstruída e transforma, internamente, os conceitos, por meio da utilização de instrumentos e signos. É um processo interpessoal transformado em intrapessoal, resultado de vários eventos que ocorrem ao longo do seu desenvolvimento.99 Vigotski LS. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes; 2007.
O signo relaciona-se à atividade psicológica e serve de auxílio para a atenção, memória e acúmulo de informação. Já o instrumento auxilia em ações concretas, capacita o homem para agir sobre a natureza, com a função de regular as ações sobre os objetos.99 Vigotski LS. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes; 2007.
Assim, neste estudo buscou-se apoio na Teoria do Desenvolvimento de Vigotski99 Vigotski LS. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes; 2007. para dar suporte no que tange aos níveis de desenvolvimento da criança em idade escolar e à internalização do cuidado com o próprio corpo, e em Collière88 Collière MF. Promover a vida: da prática das mulheres de virtude aos cuidados de enfermagem. Lisboa: Lidel; 1999. para embasar a discussão relacionada à tipologia do cuidado desenvolvido pelo escolar.
Com o intuito de contribuir para a construção de um sujeito autônomo, corresponsável pela manutenção da sua saúde, o presente estudo teve o objetivo de analisar o processo de internalização do cuidado com o corpo pelo escolar com a doença falciforme.
METODO
Estudo qualitativo, realizado no ambulatório de hematologia pediátrica de um hospital geral de Vitoria – Espírito Santo, no qual participaram 9 meninas e 6 meninos cujas idades variavam de 6 a 12 anos completos, selecionados através da agenda de acompanhamento na referida instituição durante o período previsto para a coleta dos dados.
Foram considerados como critérios de inclusão: ter o diagnóstico de doença falciforme, já ter sido hospitalizado em algum momento de sua vida em decorrência da doença. Como critério de exclusão, foi estabelecida a presença de alguma intercorrência no momento da coleta dos dados. Não houve qualquer exclusão, recusa ou desistência de participantes neste estudo.
As entrevistas foram gravadas após a assinatura do Termo de Assentimento Informado (TAI) pelo escolar, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo seu responsável e aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) das instituições proponente e coparticipante, sob os números 825.549 e 850.125. Todos os aspectos éticos foram respeitados de acordo com a Resolução nº466/2012,1010 Resolução no 466, de 12 de dezembro de 2012 (BR). Diário Oficial da União [periódico na internet], Brasília (DF), 2012 [citado 2014 jan 4]. Disponível em: http://www.conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
http://www.conselho.saude.gov.br/web_com...
do Conselho Nacional de Saúde. Aos participantes do estudo nenhum tipo de compensação foi-lhes assegurado. Apenas, ao final do estudo, todos receberam um kit escolar contendo uma caixa de lápis de cor, lápis preto, apontador, borracha, cola, régua e caneta esferográfica como forma de agradecimento.
Os dados foram coletados no período de novembro de 2015 a maio de 2016, por meio de um formulário de caracterização dos participantes e de um roteiro de perguntas abertas acerca dos cuidados relacionados com o corpo. Estes instrumentos foram validados através de uma entrevista inicial cujas informações foram descartadas após a identificação de necessidade de ajuste em uma pergunta do roteiro.
A coleta foi realizada no próprio ambulatório, em uma sala privativa, e cada entrevista foi transcrita em até 48 horas e conferida por pesquisadora única, autora do estudo. Foi realizada uma única entrevista com cada participante, em presença de seu responsável. As entrevistas duraram em média 26:33 minutos cada, sem que houvesse espaço a fim de evitar compartilhamento posterior para comentários ou correções dos participantes.
Durante a técnica da entrevista foram utilizados cartazes contendo figuras variadas, encontradas na mídia eletrônica, relacionadas aos cuidados com o corpo ou a falta deles no contexto da doença falciforme. Os cartazes continham figuras de vários tipos de líquidos para ingerir, brinquedos diversos, crianças em situações e brincadeiras ativas e passivas, medicamentos, alimentos considerados saudáveis e não saudáveis, roupas e utensílios utilizados em dias quentes e frios, os quais foram utilizados apenas com o intuito de ativar a memória dos pesquisados. Cada escolar respondeu individualmente às questões abertas, relacionadas com os cuidados considerados fundamentais para a manutenção e recuperação da saúde da criança que convive com a doença falciforme. Os escolares foram identificados pela letra C de criança e o número da sequência das entrevistas, ou seja, C1, C2, em diante. As palavras relacionadas com marcas comerciais foram substituídas por termos genéricos no momento da transcrição dos dados.
A amostra foi definida por saturação teórica que corresponde à constatação da inexistência de novos elementos nos depoimentos coletados até dado momento. Buscou-se a regularidade dos achados nos depoimentos coletados, utilizando-se o sistema de codificação colorimétrica. Assim, os temas foram identificados por cores e os trechos das falas puderam ser agrupados de acordo com cada tema. Desta forma, foi possível identificar a constância e consistência dos enunciados. A seguir, buscou-se nas entrevistas a presença de elementos novos, de acordo com cada tema.
Neste contexto, pode-se afirmar que o tema relacionado à utilização de roupas foi o primeiro a atingir a saturação teórica, o que ocorreu a partir da segunda entrevista. O último a atingir a saturação teórica foi o tema relacionado à hidratação corporal, a partir da décima- primeira entrevista.
A análise temática possibilitou descobrir os núcleos de sentido do material obtido e ocorreu de acordo com os preceitos de Minayo,1111 Minayo MCS, organizador. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14a ed. São Paulo: Hucitec; 2014. em três etapas: pré-análise, exploração do material, e tratamento dos dados, inferência e interpretação.
A pré-análise consistiu na compreensão e interpretação do material e organização de ideias iniciais. Buscou-se a constituição do corpus textual, e verificou-se que o material contemplava os aspectos levantados que atendiam os objetivos do estudo.
Na segunda etapa, de exploração do material, buscou-se o vínculo estabelecido entre as asserções e as falas dos participantes, compatibilizando com a utilização de instrumentos e signos, relação interpessoal e intrapessoal, e internalização do conhecimento para o cuidado de Vigotski99 Vigotski LS. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes; 2007. e Collière,88 Collière MF. Promover a vida: da prática das mulheres de virtude aos cuidados de enfermagem. Lisboa: Lidel; 1999. tendo em vista que foram estes os referenciais teóricos utilizados.
A etapa de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, consistiu em colocar em relevo as informações obtidas. A partir dessa etapa, foram feitas inferências e interpretação do material à luz do referencial teórico proposto para o presente estudo. A apresentação dos resultados foi organizada de acordo com a análise do material empírico e apontou as seguintes unidades e subunidades temáticas: Hidratação Corporal; Brincar; Prevenção e Manejo da Crise falcêmica; Alimentação e Roupas.
RESULTADOS
Doze escolares obtiveram o diagnóstico por meio do teste do pezinho, sendo oito com anemia falciforme (SS), cinco com doença falciforme SC e dois com S-talassemia.
-
a
Hidratação corporal
Neste tópico de análise, serão apresentados os diferentes tipos de líquidos ingeridos, frequentemente, pelos escolares participantes do estudo.
A totalidade dos entrevistados referiu ingerir água, bem como outros líquidos, de acordo com suas necessidades e momentos do dia. Destacam-se nas falas a seguir:
Às vezes, leite, água, refrigerante. Na escola é suco (C2, 7 anos).
Em casa tomo café, suco de caixinha ou refrigerante (C8, 12 anos).
Apesar de todos referirem o consumo de água no domicílio e/ou na escola, este líquido não teve lugar de destaque na maioria das falas. No entanto, treze escolares descreveram alguns líquidos consumidos que sabem fazer mal à saúde, como: líquidos industrializados, adocicados e ricos em gordura. Alguns deles associaram a ingesta destes outros líquidos à experiência da dor na vesícula e abdominal, conforme as falas de C8 e C9:
Achocolatado me dá dor de barriga. (C8, 12 anos).
Achocolatado faz doer a vesícula por causa da pedra (C9, 12 anos).
A ingestão de determinado líquido, que acarreta algum tipo de desconforto, levou os escolares a associar causa e efeito e a internalizar este conhecimento, de acordo com suas experiências. Eles informaram ainda a importância dos líquidos na prevenção das crises:
Sem água eu tenho crise álgica, as artérias entopem. (C1, 12 anos).
A gente passa mal se não bebe muita água. (C2, 7 anos).
Para melhorar a barriga. (C6, 6 anos).
É para circular o sangue. Fica um negócio na veia que para e não tem como passar o sangue, fica doendo (C9, 12 anos).
Além da importância da ingestão de líquidos para a prevenção das crises falcêmicas, os pesquisados demonstraram conhecimento sobre a ocorrência de congestão do vaso sanguíneo diante da diminuição da hidratação corporal. Também foi mencionada a dificuldade de ingestão de líquido e a dificuldade de eliminação na escola:
Lá é difícil. Tem hora (C4, 12 anos)
A professora não deixa. Minha colega mijou nas calças. (C7, 6 anos).
Depois do lanche eu peço para o professor (C9, 12 anos)
Não tem água (C12, 10 anos)
Tem hora certa, na terceira e na última aula (C13, 12 anos).
Tem que pedir (C15, 6 anos).
Ficou evidenciado neste estudo que, na escola, a criança não tem suas necessidades de hidratação e eliminação atendidas plenamente. Destaca-se que, para a criança com doença falciforme, é recomendada a ingestão de maior volume de líquidos, o que a faz usar o banheiro mais frequentemente. Se o professor proíbe sua saída, o escolar pode passar a ingerir menos líquido do que o necessário. Ainda no que concerne a este aspecto, a fala de C7 revela que quando o escolar não consegue aguardar a liberação do professor, pode urinar na roupa e ficar constrangido perante toda a classe, o que incorre na violação de um direito seu.
-
b
Brincar
Os escolares falaram sobre as brincadeiras, atividades físicas e de lazer nos diversos contextos, assim como os tipos de brincadeiras e jogos, exposição ao sol e à água fria.
Quanto ao tipo de brincadeiras e jogos, eles referiram atividades ativas e passivas:
Pique esconde e bola em casa, os meninos chutam e eu tento agarrar. No hospital, de boneco do Ben 10, de bola (C2, 7 anos).
Na escola eu brinco de pique-pega, pique esconde. (C5, 10 anos).
Piscina, videogame do meu irmão e no computador (C10, 12 anos).
A diversidade de atividades desenvolvidas pelo escolar requer gasto de energia. A casa e os espaços ao redor foram os locais mais citados para brincar. Os escolares entrevistados demonstraram se ocupar dos mesmos tipos de brincadeiras da população pediátrica, em geral, e o fato de ter a doença falciforme não constitui empecilho para limitá-lo nas atividades, inicialmente.
Por outro lado, eles citaram a exposição ao sol, contato com água fria, e atividades que exigem esforço físico como desencadeantes de crise:
No sol, minha cabeça dói. Na piscina, meus braços (C4, 12 anos). Se brincar no sol, eu fico dodói...dor nas costas, barriga, braço, perna e dor de cabeça, por causa da anemia falciforme. (C7, 6 anos).
Muito exercício dá dor nas pernas, nos braços (C8, 12 anos).
Os escolares correlacionam o excesso das atividades físicas durante as brincadeiras, a exposição a determinados ambientes onde estas brincadeiras acontecem, a exposição ao sol e à água, como fatores desencadeantes da crise falcêmica, demonstrando a internalização do seu cuidado na prevenção das crises, conforme o destaque da fala de C8 e C9:
Eu nem faço muito exercício físico. Eu acabo passando mal, com dor no braço e pernas. Então, deito, e minha mãe bota bolsa térmica para esquentar onde fica doendo (C8, 12 anos).
Eu passo gel. Muita dor... paro de brincar (C9, 12 anos).
Cessar a atividade física, manter-se em repouso ou deitado, aplicar compressas mornas ou gel na parte afetada pela dor são os principais cuidados desenvolvidos com o intuito de amenizar o desconforto no momento de crise falcêmica.
-
c
Prevenção e manejo de crise falcêmica
Os medicamentos de reparação e manutenção utilizados pelo escolar com doença falciforme e os mediadores destes cuidados são apresentados nesta unidade temática.
Quando questionados sobre os cuidados diante as crises de dor, três escolares citaram fazer uso de analgésicos:
Dipirona quando eu sinto dor de cabeça, dor de barriga (C3, 10 anos). Dor no estômago, na barriga... eu tomo ibuprofeno, eu tomo dipirona. Só quando eu estou com dor. Eu mesmo sei tomar (C4, 12 anos).
Dipirona, quando eu estou com dor de cabeça (C9, 12 anos).
Dos quinze entrevistados somente três informaram o motivo de utilizar o analgésico nas crises de dor, demonstrando que este cuidado de reparação está internalizado nos escolares que estão, frequentemente, nesta situação.
Para manter a saúde, os escolares relataram o uso regular de medicamentos, como a hidroxiureia e ácido fólico:
Eu tomo desse (hidroxiureia), há muito tempo. Sempre à noite e de manhã, eu tomo remédio da anemia falciforme (C2, 7 anos).
Por causa da minha anemia, eu tomo acido fólico desde pequena... à noite, segunda, quarta e sexta (C4, 12 anos).
Hidroxiureia e ácido fólico há muito tempo, para anemia falciforme... a hora não sei. Só sei que eu tomo de noite, sou eu que pego (C5, 10 anos).
Destaca-se que dos escolares entrevistados, sete citaram os medicamentos utilizados e seus horários para a manutenção da sua saúde, no entanto, as falas indicam que eles não conhecem, efetivamente, a ação dos mesmos, conforme verifica-se nas falas a seguir:
Tomo hidroxiureia para evitar internações, evitar a crise (C1, 12 anos).
Serve para eu melhorar da anemia falciforme (C2, 7 anos).
É vitamina para ajudar na doença, para sarar a doença (C4, 12 anos).
As pessoas que contribuem para a internalização do conhecimento e, portanto, para a manutenção da saúde são os pais, a enfermeira e a médica, citados por seis escolares:
Minha mãe fala e a enfermeira falou que é para melhorar (C2, 7 anos).
A doutora falou que tem que tomar (C5, 10 anos).
A médica cuida de mim, me ensina o que eu devo fazer. Eu sigo as ordens da doutora e do meu pai...(C9, 12 anos).
Minha mãe pergunta: você tomou o remédio hoje? Para não ficar doente e não ser internado (C11, 10 anos).
O escolar recebe informações de outras pessoas para tomar a medicação de manutenção, com a justificativa de não adoecimento ou para a melhora da saúde, no entanto, parecem não entender que, mesmo que tomem a medicação regularmente, pode ocorrer a crise falcêmica, pois outras condições interferem na sua manifestação.
-
d
Alimentação
Os tipos de alimentos consumidos pelos escolares e o conhecimento dos mesmos acerca dos alimentos saudáveis também foram abordados e estão descritos a seguir.
Todos referiram consumir variações dos grupos alimentares, como carboidratos, proteínas, doces, cereais, verduras, frutas e legumes, conforme as falas a seguir:
Pão com manteiga, biscoito recheado... arroz, feijão, carne, ovos, macarrão instantâneo (C3, 10 anos).
Pão de sal, arroz, feijão, carne, banana... salada de alface, cenoura, tomate...na escola eu como bolo. (C14, 11 anos).
Os escolares referem consumir, predominantemente, arroz, feijão e carne nas grandes refeições, mas, por outro lado, a maioria consome outros alimentos que considera não saudáveis, como os ricos em gordura, açúcar e sal:
Batatinha frita, biscoito com recheio, chips, sorvete, chocolate, pirulito, salgadinho, e biscoito, porque tem muito açúcar (C2, 7 anos).
Bala eu como quase todo dia. Dá dor de barriga, cárie no dente, dor no dente (C8, 12 anos).
Salgado frito, biscoito. Essas coisas com muita gordura ficam doendo a vesícula (C9, 12 anos).
Estes dados revelaram que, mesmo tendo conhecimento sobre os prejuízos à saúde, causados por alimentos não saudáveis, os mesmos continuaram a ingeri-los. Neste contexto, pode-se afirmar que os escolares internalizaram o conhecimento sobre alimentos consumidos e saúde, no entanto, não foram capazes de deixar de consumir os alimentos considerados não saudáveis, demonstrando não ter internalizado o cuidado com o próprio corpo no que tange à alimentação.
-
d
Roupas
Esta unidade temática apresenta o uso de roupas adequadas para o clima. Todos os escolares destacaram a importância do uso de roupas adequadas ao clima:
Se eu sentir muito frio eu posso ter crise. Se eu sinto muito calor, acontece. Eu começo a passar mal, sentir falta de ar (C1, 12 anos).
Coloco calça, jaqueta. Se eu ficar muito no frio, eu posso ficar com dor no braço, dor de cabeça (C8, 12 anos).
Eu coloco blusa de frio e calça comprida por causa da dor. No calor, vestido, blusinha e short porque também pode dar dor (C13, 12 anos).
O cuidado com a escolha das roupas no inverno ou nos dias mais frios mostrou-se àquele de maior preocupação, tendo em vista que foi no ambiente frio que a maioria referiu apresentar dor quando não estava vestido de maneira adequada. Assim, pode-se afirmar que ocorreu a internalização deste cuidado por meio da experiência da dor.
DISCUSSÃO
Nas últimas décadas, houve um fortalecimento progressivo das políticas voltadas para a assistência integral à saúde das pessoas que convivem com a doença falciforme, o que contribui para diminuir a invisibilidade da doença, cultivada durante todo o século passado.
No caso da criança, o diagnóstico precoce da doença falciforme pode significar a oportunidade de acesso à assistência adequada já nos primeiros meses de vida. À medida que cresce, a criança tem a oportunidade de ser assistida por uma equipe multiprofissional e humanizada para que, juntamente com a sua família, seja preparada para o autocuidado.1212 Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. Doença falciforme: diretrizes básicas para a linha de cuidado. Brasília: Ministério da Saúde; 2015.
Neste sentido, são recomendados alguns cuidados para se evitar a desidratação, como utilizar roupas adequadas ao clima, manter maior frequência da ingestão hídrica, evitar exercícios físicos de grande intensidade para minimizar a perda insensível e a demanda de oxigênio. Estes são exemplos de cuidados que podem ser apreendidos e implementados pela criança.
A desidratação é um fator que precipita as crises nas crianças com doença falciforme, pois estas possuem mais água corpórea do que os adultos e requerem mais água para eliminar os resíduos hidrossolúveis através do rim.77 Hockenberry MJ, Wilson D. Wong fundamentos da enfermagem pediátrica. 9a ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2014.,1313 Costa DO, Araújo FA, Xavier ASG, Araújo LDS, Silva UBD, Santos EA et al. Autocuidado de homens com priapismo e doença falciforme. Rev Bras Enferm. 2018 set/out;71(5):2418-24. http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0464. PMid:30304171.
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017...
A hidratação corporal é muito importante, uma vez que as células vermelhas do sangue adquirem o formato de foice quando perdem água, aumentando o risco de vaso-oclusão, causando dor, derrame e danos aos órgãos.1414 Dyson S. Doença falciforme: escola, saúde e segurança. Manual para políticas sobre a doença falciforme na escola [Internet]. Belo Horizonte: UFMG; 2014 [citado 20018 nov 12]. Disponível em: https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/12/Cartilha-Versao-final-Portugues.pdf
https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-co...
A manutenção da hidratação corporal pelo escolar com doença falciforme costuma ser alcançada por meio de líquidos variados, como ficou evidenciado neste estudo. Em contrapartida, apesar de a água ter sido o líquido mais citado, teve seu valor desprestigiado pelos escolares em termos de primeira escolha para evitar a crise falcêmica. Destaca-se, ainda, a capacidade de alguns escolares terem internalizado o conhecimento sobre os líquidos que não fazem bem à saúde, por meio das repetidas experiências negativas, como em relação à dor abdominal. Em contrapartida, não internalizaram o cuidado relacionado a este tema, pois, apesar de saber que são prejudiciais, continuam consumindo tais líquidos. Neste contexto, há que se considerar, também, que a indisponibilidade de líquidos saudáveis foi não mencionada pelos participantes.
É por meio das experiências repetidas que a criança aprende, mentalmente, a planejar sua atividade e, ao longo do seu desenvolvimento, apresenta crescente habilidade para controlar o próprio comportamento. Isto é possível porque as atividades externas e as funções interpessoais se transformam em atividades internas, intrapsicológicas, ou seja, ocorre a internalização mediada pelo uso de signos e instrumentos.99 Vigotski LS. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes; 2007. Neste contexto, destaca-se que os líquidos foram os mediadores do aprendizado acerca da importância e efeitos dos líquidos no organismo do escolar.
Outrossim, destaca-se a eliminação vesical que está diretamente relacionada à ingesta hídrica, pois quanto mais líquido ingerido, maior a necessidade de eliminação. No contexto da escola, constatou-se que a eliminação do escolar com doença falciforme é, geralmente não atendida, podendo resultar em menor ingesta de líquidos e elevar o risco de crise falcêmica, ou ainda, insuficiência renal ao longo do tempo.
A privação de água no doente falcêmico associada à baixa concentração de O2, hipertonicidade e baixo pH da urina é desencadeadora da deformação das hemácias (falcização), resultado do aumento da viscosidade sanguínea, edema e obstrução vascular que predispõe à isquemia e infarto da microcirculação renal.1515 Alhwiesh A. Un update in sickle cell nephrophaty. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2014 mar;25(2):249-65. http://dx.doi.org/10.4103/1319-2442.128495. PMid:24625990.
http://dx.doi.org/10.4103/1319-2442.1284...
Em consequência da lesão renal, a pessoa com doença falciforme tem dificuldade em concentrar a urina e produz grande quantidade de urina diluída. Por isso, precisam ir ao banheiro com maior frequência e isto não deve ser limitado.1414 Dyson S. Doença falciforme: escola, saúde e segurança. Manual para políticas sobre a doença falciforme na escola [Internet]. Belo Horizonte: UFMG; 2014 [citado 20018 nov 12]. Disponível em: https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/12/Cartilha-Versao-final-Portugues.pdf
https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-co...
Por outro lado, as equipes pedagógicas precisam ser esclarecidas quanto às particularidades de quem convive com a doença falciforme, reconhecendo o direito que a criança tem de atender às suas necessidades de eliminação, quantas vezes forem necessárias, independentemente de horários fixos. É preciso, também, pensar em estratégias que facilitem a ida ao banheiro, sem causar desconforto ou constrangimento à criança.1414 Dyson S. Doença falciforme: escola, saúde e segurança. Manual para políticas sobre a doença falciforme na escola [Internet]. Belo Horizonte: UFMG; 2014 [citado 20018 nov 12]. Disponível em: https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/12/Cartilha-Versao-final-Portugues.pdf
https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-co...
Embora conviva com a realidade de uma doença crônica como a doença falciforme, a criança não deixa de desenvolver atividades de brincar/brincadeiras de acordo com os tipos de brincadeiras realizadas pela população infantil, em geral. Ao mesmo tempo, para Vigotiski99 Vigotski LS. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes; 2007. as brincadeiras ampliam as possibilidades de interação das crianças com outras crianças, pessoas e o mundo, firmando-se como mediadores de aprendizado no universo infantil.
Neste contexto, a partir das suas experiências, os escolares pesquisados demonstraram ter internalizado algumas atividades desenvolvidas e o tempo de exposição a determinadas temperaturas como desencadeantes de crise falcêmica, o que os estimulou a cessar a atividade e a fazer repouso.
Ao modificar o comportamento durante o brincar ou a brincadeira na tentativa de evitar a crise de dor, o escolar demonstra ter internalizado um cuidado que, de acordo com Collière,88 Collière MF. Promover a vida: da prática das mulheres de virtude aos cuidados de enfermagem. Lisboa: Lidel; 1999. é mantenedor da sua saúde.
As crianças com doença falciforme são capazes de demonstrar habilidade para distinguir fatores desencadeantes da dor, o que pode servir como mecanismo de proteção para as mesmas,1616 Dias TL, Oliveira CGT, Enumo SRF, Paula KMP. A dor no cotidiano de cuidadores e crianças com anemia falciforme. Psicol USP. 2013 set/dez;24(3):391-411. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642013000300003.
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642013...
e é a partir dos seis anos de idade que as crianças são capazes de entender suas responsabilidades frente à doença falciforme e de reconhecer que esta condição de doente crônico os obriga a adotar determinados comportamentos, diferentemente de outras crianças,1717 Stegenga K, Burks LM. Using photovoice to explore the unique life perspectives of youth with sickle cell disease: a pilot study. J Pediatr Oncol Nurs. 2013 ago;30(5):269-74. http://dx.doi.org/10.1177/1043454213493508. PMid:23962960.
http://dx.doi.org/10.1177/10434542134935...
o que não ficou evidenciado no presente estudo.
Infecções, clima frio e úmido, poluição, desidratação, atividade física intensa, estresse e mudanças bruscas de temperatura são os principais fatores precipitantes de crises de dor na doença falciforme, portanto, é recomendado que este se mantenha aquecido e não faça atividades físicas intensas.1414 Dyson S. Doença falciforme: escola, saúde e segurança. Manual para políticas sobre a doença falciforme na escola [Internet]. Belo Horizonte: UFMG; 2014 [citado 20018 nov 12]. Disponível em: https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/12/Cartilha-Versao-final-Portugues.pdf
https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-co...
Na iminência da crise falcêmica os escolares relataram fazer uso de analgésicos como um cuidado reparador da saúde. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, as pessoas que convivem com a doença falciforme são orientadas a tomar este grupo de medicamentos quando necessário.33 Ministério as Saúde (BR). Doença falciforme: hidroxiuréia: uso e acesso. Brasília: Ministério da Saúde; 2014. A dipirona, por exemplo, é um analgésico e antipirético bastante utilizado por esta população.1818 Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. Doença falciforme: orientações básicas no espaço de trabalho. Brasília: Ministério da Saúde; 2014. Por outro lado, foram citados o uso de hidroxiureia e/ou ácido fólico em uso contínuo na manutenção da saúde da criança com doença falciforme.
A hidroxiureia é um medicamento utilizado na doença falciforme, conduzindo à melhora clínica e hematológica, reduzindo os episódios de vaso-oclusão ao aumentar a concentração de hemoglobina fetal (HbF) em 60% das pessoas tratadas e diminuindo a polimerização das hemácias defeituosas e a adesão vascular.1818 Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. Doença falciforme: orientações básicas no espaço de trabalho. Brasília: Ministério da Saúde; 2014. Apesar do mecanismo de proteção da HbF no doente falciforme não ter sido completamente estabelecido, verifica-se uma associação positiva entre HbF e saturação de oxigênio (SpO2). Assim, considerando a fisiopatologia da doença, pode-se afirmar que aumentar a HbF reduz a gravidade da doença em parte, aumentando a SpO2.1919 Nkya S, Mgaya J, Urio F, Makubi A, Thein SL, Menzel S et al. Fetal hemoglobin is associated with peripheral oxygen saturation in sickle cell disease in Tanzania. EBioMedicine. 2017 set;23:146-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2017.08.006. PMid:28844412.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2017.0...
Já o ácido fólico é essencial para a multiplicação celular de todos os tecidos, incluindo os elementos figurados do sangue2020 Ministério da Saúde (BR), Consultoria Jurídica, Advocacia Geral da União. Nota Técnica N°207/2013 de abril de 2013. Brasília: Ministério da Saúde; 2013. é recomendado, regularmente, para portadores de doença falciforme,2121 Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti. Protocolos de tratamento: hematologia e hemoterapia [Internet]. 4a ed. Rio de Janeiro: Hemorio; 2014 [citado 2007 out 2]. Disponível em: http://www.hemorio.rj.gov.br/protocolo.pdf
http://www.hemorio.rj.gov.br/protocolo.p...
no entanto, nem todos, necessariamente, fazem uso.
Diante do cuidado da manutenção e reparação da saúde pelo uso de medicamentos, contatou-se neste estudo que os escolares conseguiram internalizar o uso dos analgésicos, relacionados diretamente à cessação da dor, ou seja, os escolares têm ciência sobre o uso de hidroxiureia e/ou ácido fólico, no entanto, desconhecem a ação destes medicamentos.
Neste contexto, a interação com a mãe, a enfermeira, a médica e o pai, destacada nas falas dos participantes, contribuiu para a internalização deste conhecimento, considerando que a aprendizagem é uma ação conjunta que, inicialmente, ocorre no plano externo, na interação com outras pessoas e, posteriormente, no plano individual, interno. O que, de certa forma, impulsiona os processos de desenvolvimento da criança, os quais não seriam possíveis de outra forma.99 Vigotski LS. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes; 2007.
Além disso, em relação aos seus cuidados, os escolares referiram a necessidade de uma alimentação saudável, como um cuidado fundamental para o seu crescimento e desenvolvimento e citaram os variados grupos alimentares que fazem parte das suas dietas diárias. No entanto, constatou-se que alimentos como: doces, salgados e frituras são consumidos, frequentemente, por boa parte deles, mesmo sendo considerados como prejudiciais à saúde. Constata-se a internalização dos escolares no que se refere ao conhecimento da qualidade dos alimentos consumidos, contudo, foram incapazes de modificar o comportamento na ingestão destes alimentos em benefício da sua saúde. Neste contexto, há de se considerar, ainda, que a disponibilidade de alimentos saudáveis dependia não apenas dos entrevistados, considerando a complexidade do referido tema. Apesar disso, nenhum participante associou o uso de alimentação inadequada à sua dificuldade de obter certos alimentos.
Embora a doença falciforme em si não exija uma alimentação diferenciada, ela deve ser balanceada e rica em micro e macronutrientes para minimizar os riscos de desnutrição crônica e atraso no crescimento e desenvolvimento, o que implicaria negativamente o prognóstico da doença.2222 Trevisan JSD, Reis MC, Silva P, Matarazis R, Cordovil K, Freitas AC et al. Práticas educativas na promoção da alimentação adequada e saudável para as pessoas com doença falciforme. Demetra. 2014;9(1, Supl):341-56. http://dx.doi.org/10.12957/demetra.2014.10539.
http://dx.doi.org/10.12957/demetra.2014....
Por fim, no que se refere ao cuidado de manutenção da saúde através do uso de roupas adequadas ao clima, os escolares revelaram preocupação maior com o clima frio. Pode-se considerar que a roupa foi um instrumento, um elemento mediador, utilizado pela criança como um elo com o ambiente para a aquisição de conhecimento99 Vigotski LS. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes; 2007. sobre como se vestir adequadamente para evitar a dor.
Assim, o estudo aponta que o escolar internalizou o cuidado com o uso de vestimentas adequadas, mediado pela experiência da dor.
A exposição ao frio é um fator desencadeante da crise falcêmica. Crianças e adolescentes com doença falciforme podem adoecer quando expostos ao calor ou ao frio extremo. O frio pode piorar o seu estado de saúde e a utilização de roupas adequadas ao clima é uma medida que auxilia na prevenção da crise.1414 Dyson S. Doença falciforme: escola, saúde e segurança. Manual para políticas sobre a doença falciforme na escola [Internet]. Belo Horizonte: UFMG; 2014 [citado 20018 nov 12]. Disponível em: https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/12/Cartilha-Versao-final-Portugues.pdf
https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-co...
O estudo evidenciou que a internalização dos cuidados se deu pelas experiências de dor provocadas, de um modo geral, pela redução da ingesta de líquidos, excesso de brincar/brincadeira e a escolha de roupas inadequadas ao clima. Ainda, o uso de analgésicos foi internalizado pelo seu efeito imediato sobre a dor. Os cuidados relacionados à eliminação, à qualidade dos alimentos ingeridos e ao uso de medicamentos de manutenção como a hidroxiureia e o ácido fólico são reproduzidos e não internalizados, pois os escolares desconhecem as razões da necessidade desses outros cuidados, e mantêm a sua conduta.
Constata-se que os signos e instrumentos utilizados para a internalização do cuidado foram: os líquidos, as brincadeiras, os medicamentos e as roupas. A internalização aconteceu na interação da criança com os pais, principalmente, as mães que exigem de seus filhos o cuidado necessário, porém, sem explicitar os motivos para tais cuidados.
Ainda assim, observam-se readequações na rotina diária das famílias de crianças com doenças crônicas, que encontram diferentes estratégias para garantir o cuidado da criança.2323 Okido ACC, Almeida A, Vieira MM, Neves ET, Mello DF, Lima RAG. As demandas de cuidado das crianças com Diabetes Mellitus tipo 1. Esc Anna Nery. 2017 fev; 21(2):e20170034. https://doi.org/10.5935/1414-8145.20170034.
https://doi.org/10.5935/1414-8145.201700...
Considera-se que o processo de internalização ocorre ao longo do desenvolvimento e consiste na transformação de um processo interpessoal em intrapessoal. As funções no desenvolvimento da criança aparecem, inicialmente, em nível social, na interação com as pessoas do seu convívio, depois disso, ocorre a transformação, internamente, na criança. A internalização origina-se das relações reais entre pessoas que interagem entre si.99 Vigotski LS. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes; 2007.
Neste contexto, chama a atenção o pouco envolvimento dos profissionais de saúde nas ações de educação que, geralmente, é voltada para o responsável legal, resultando na pouca valorização do escolar como um sujeito capaz de cuidar-se.
Assim, faz-se necessário desenvolver melhor o aspecto relacional do cuidado prestado à criança com doença crônica para contribuir no processo de internalização do cuidado com o corpo.2424 Silva TP, Silva ÍR, Leite JL. Interações no gerenciamento do cuidado de enfermagem à criança hospitalizada em condição crônica: revelando condições intervenientes. Texto Contexto Enferm. 2016;25(2), e1980015. https://doi.org/10.1590/0104-07072016001980015.
https://doi.org/10.1590/0104-07072016001...
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A internalização do cuidado ocorre ou é efetivada pela experiência de dor, principal signo da internalização e ocupou um espaço transversal neste processo, pois aqueles que tiveram crises falcêmicas mais frequentes internalizaram mais facilmente alguns cuidados. Ou seja, os escolares internalizaram o cuidado por medo de ter a crise, e não pelo conhecimento a ele repassado sobre a doença, nem pela observação do cuidado a ele prestado. Ainda, os signos e instrumentos utilizados foram construídos, principalmente, no contexto do domicílio, sendo seus pais, especialmente a mãe, os principais mediadores.
Conclui-se que os escolares não são valorizados como sujeitos capazes de cuidar-se, principalmente, no contexto hospitalar, quando os profissionais de saúde fazem as orientações direcionando-as ao responsável que os acompanham, omitindo, ainda a fisiopatologia da doença e todos os cuidados que possam provocar ou prevenir a crise falcêmica, resultando na reprodução do que deve ou não fazer, sendo o familiar incapaz de justificar determinado cuidado ao escolar. Por outro lado, a escola não é pensada como um local de manutenção do cuidado da criança com doença falciforme, porque o professor desconhece a situação clínica que a criança pode experimentar quando limitada à ingestão de líquidos e ao uso do banheiro, fazendo-se necessária a articulação do hospital com a escola, através de ações permanentes de educação continuada, visando instrumentalizar mais adequadamente o professor.
Desta forma, ao se desvelar o processo de internalização do cuidado pelo escolar espera-se contribuir para um melhor direcionamento da assistência individual prestada à criança, valorizando-a como sujeito de direitos, bem como auxiliar na construção das políticas públicas, principalmente no que tange à saúde escolar, para que protejam populações vulneráveis e auxiliem no alcance da assistência integral à saúde, principalmente no que se refere às crianças com doenças crônicas, como a população estudada.
Entre as limitações do estudo, destaca-se a complexidade da internalização do cuidado pelo escolar com doença falciforme em um contexto socialmente complicado. Desta forma, propõe-se a realização de novos estudos, abordando amplamente o contexto social.
Recomenda-se o desenvolvimento de novos estudos sobre a temática e abordagem teórico-metodológica a fim de contribuir para que a prática assistencial de enfermagem atenda às necessidades das crianças, em particular, os escolares com doença falciforme.
REFERÊNCIAS
-
1Gomes ILV, Campos DB, Custodio LP, Oliveira RS, organizadores. Doença falciforme: saberes e práticas do cuidado integral na Rede de Atenção à Saúde [Internet]. Fortaleza: EdUECE; 2019 [citado 2019 fev 12]. Disponível em: http://www.uece.br/eduece/dmdocuments/Doenca_falciforme_EDUECE_2019.pdf
» http://www.uece.br/eduece/dmdocuments/Doenca_falciforme_EDUECE_2019.pdf -
2Tiné L. Tratamento para doença falciforme está disponível no SUS [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde, 2019 [citado 2019 fev 12]. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/servicos/53902-tratamento-para-doenca-falciforme-esta-disponivel-no-sus
» http://www.blog.saude.gov.br/index.php/servicos/53902-tratamento-para-doenca-falciforme-esta-disponivel-no-sus -
3Ministério as Saúde (BR). Doença falciforme: hidroxiuréia: uso e acesso. Brasília: Ministério da Saúde; 2014.
-
4Novelli EM, Gladwin MT. Crises in sickle cell disease. Contemporary Reviews in Critical Care Medicine. 2016 abr;149(4):1082-93. http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2015.12.016
» http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2015.12.016 -
5Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Doença falciforme: saiba o que é e onde encontrar tratamento. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.
-
6Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Doença falciforme: condutas básicas para tratamento. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.
-
7Hockenberry MJ, Wilson D. Wong fundamentos da enfermagem pediátrica. 9a ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2014.
-
8Collière MF. Promover a vida: da prática das mulheres de virtude aos cuidados de enfermagem. Lisboa: Lidel; 1999.
-
9Vigotski LS. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes; 2007.
-
10Resolução no 466, de 12 de dezembro de 2012 (BR). Diário Oficial da União [periódico na internet], Brasília (DF), 2012 [citado 2014 jan 4]. Disponível em: http://www.conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
» http://www.conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html -
11Minayo MCS, organizador. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14a ed. São Paulo: Hucitec; 2014.
-
12Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. Doença falciforme: diretrizes básicas para a linha de cuidado. Brasília: Ministério da Saúde; 2015.
-
13Costa DO, Araújo FA, Xavier ASG, Araújo LDS, Silva UBD, Santos EA et al. Autocuidado de homens com priapismo e doença falciforme. Rev Bras Enferm. 2018 set/out;71(5):2418-24. http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0464 PMid:30304171.
» http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0464 -
14Dyson S. Doença falciforme: escola, saúde e segurança. Manual para políticas sobre a doença falciforme na escola [Internet]. Belo Horizonte: UFMG; 2014 [citado 20018 nov 12]. Disponível em: https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/12/Cartilha-Versao-final-Portugues.pdf
» https://www.nupad.medicina.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/12/Cartilha-Versao-final-Portugues.pdf -
15Alhwiesh A. Un update in sickle cell nephrophaty. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2014 mar;25(2):249-65. http://dx.doi.org/10.4103/1319-2442.128495 PMid:24625990.
» http://dx.doi.org/10.4103/1319-2442.128495 -
16Dias TL, Oliveira CGT, Enumo SRF, Paula KMP. A dor no cotidiano de cuidadores e crianças com anemia falciforme. Psicol USP. 2013 set/dez;24(3):391-411. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642013000300003
» http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642013000300003 -
17Stegenga K, Burks LM. Using photovoice to explore the unique life perspectives of youth with sickle cell disease: a pilot study. J Pediatr Oncol Nurs. 2013 ago;30(5):269-74. http://dx.doi.org/10.1177/1043454213493508 PMid:23962960.
» http://dx.doi.org/10.1177/1043454213493508 -
18Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. Doença falciforme: orientações básicas no espaço de trabalho. Brasília: Ministério da Saúde; 2014.
-
19Nkya S, Mgaya J, Urio F, Makubi A, Thein SL, Menzel S et al. Fetal hemoglobin is associated with peripheral oxygen saturation in sickle cell disease in Tanzania. EBioMedicine. 2017 set;23:146-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2017.08.006 PMid:28844412.
» http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2017.08.006 -
20Ministério da Saúde (BR), Consultoria Jurídica, Advocacia Geral da União. Nota Técnica N°207/2013 de abril de 2013. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.
-
21Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti. Protocolos de tratamento: hematologia e hemoterapia [Internet]. 4a ed. Rio de Janeiro: Hemorio; 2014 [citado 2007 out 2]. Disponível em: http://www.hemorio.rj.gov.br/protocolo.pdf
» http://www.hemorio.rj.gov.br/protocolo.pdf -
22Trevisan JSD, Reis MC, Silva P, Matarazis R, Cordovil K, Freitas AC et al. Práticas educativas na promoção da alimentação adequada e saudável para as pessoas com doença falciforme. Demetra. 2014;9(1, Supl):341-56. http://dx.doi.org/10.12957/demetra.2014.10539
» http://dx.doi.org/10.12957/demetra.2014.10539 -
23Okido ACC, Almeida A, Vieira MM, Neves ET, Mello DF, Lima RAG. As demandas de cuidado das crianças com Diabetes Mellitus tipo 1. Esc Anna Nery. 2017 fev; 21(2):e20170034. https://doi.org/10.5935/1414-8145.20170034
» https://doi.org/10.5935/1414-8145.20170034 -
24Silva TP, Silva ÍR, Leite JL. Interações no gerenciamento do cuidado de enfermagem à criança hospitalizada em condição crônica: revelando condições intervenientes. Texto Contexto Enferm. 2016;25(2), e1980015. https://doi.org/10.1590/0104-07072016001980015
» https://doi.org/10.1590/0104-07072016001980015
Editado por
EDITOR ASSOCIADO
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
26 Ago 2020 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
29 Nov 2019 -
Aceito
14 Jun 2020