Resumo
O circuito madeireiro é um ingrediente de peso na renda amazônica. Este setor, que há tempos responde por elevados níveis de exploração de recursos naturais e sociais, nos últimos anos, se depara com um novo padrão de produção na periferia, a superexploração da força de trabalho, um elemento presente na estrutura de produção de diversos circuitos produtivos na Amazônia, como no madeireiro, nosso objeto de análise. A superexploração da força de trabalho vem respondendo pelos alarmantes níveis de marginalização social na região, e assim, no desenvolvimento periférico. O artigo analisa aspectos da superexploração da força de trabalho observados no circuito madeireiro do município de Nova Esperança do Piriá, localizado no nordeste paraense. O materialismo dialético foi o método utilizado para entender as contradições que envolvem a produção nesse circuito. Como procedimentos metodológicos utilizou-se da pesquisa de campo, com entrevistas não estruturadas dialogadas não nominais com ex-empresários do setor, registro fotográfico, além de análise de dados do CAGED e RAIS. A atuação desse circuito, funcionando a partir da superexploração da força das massas trabalhadoras, não possibilita melhor qualidade de vida local, pois concentra a renda e a riqueza, sendo assim radicular no desenvolvimento periférico regional.
Palavras-chave:
Precarização do trabalho; Amazônia; Nova Esperança do Piriá.
Abstract
The logging circuit is a major ingredient in Amazon income. This sector, which has long been responsible for high levels of exploitation of natural and social resources, in recent years has faced a new production pattern on the periphery, the overexploitation of the workforce, an element present in the production structure of several productive circuits in the Amazon, as in the logger, our object of analysis. The overexploitation of the workforce has been responsible for the alarming levels of social marginalization in the region, and thus, in peripheral development. The article analyzes aspects of the overexploitation of the workforce observed in the logging circuit of the municipality of Nova Esperança do Piriá, located in the northeast of Pará. The logical-historical and dialectical method was used to understand the contradictions that involve production in this circuit. As methodological procedures, field research was used, with unstructured non-nominal dialogued interviews with former businessmen of the sector, photographic records, in addition to data analysis from CAGED and RAIS. The performance of this circuit, operating from the overexploitation of the strength of the working masses, does not allow for a better quality of local life, as it concentrates income and wealth, thus being rooted in regional peripheral development.
Keywords:
Precariousness of work; Amazon; Nova Esperança do Piriá.
Resumen
El circuito maderero es un ingrediente importante en los ingresos de Amazon. Este sector, que durante mucho tiempo ha sido responsable de altos niveles de explotación de los recursos naturales y sociales, en los últimos años ha enfrentado un nuevo patrón productivo en la periferia, la sobreexplotación de la mano de obra, elemento presente en la estructura productiva de varios circuitos productivos en la Amazonía, como en el maderero, nuestro objeto de análisis. La sobreexplotación de la mano de obra ha sido responsable de los alarmantes niveles de marginación social en la región y, por ende, en el desarrollo periférico. El artículo analiza aspectos de la sobreexplotación de la mano de obra observada en el circuito maderero del municipio de Nova Esperança do Piriá, ubicado en el noreste de Pará. Se utilizó el método lógico-histórico y dialéctico para comprender las contradicciones que envuelven la producción en este circuito. Como procedimientos metodológicos se utilizó la investigación de campo, con entrevistas no estructuradas no nominales dialogadas a ex empresarios del sector, registros fotográficos, además del análisis de datos del CAGED y RAIS. La actuación de este circuito, operando desde la sobreexplotación de la fuerza de las masas trabajadoras, no permite una mejor calidad de vida local, ya que concentra ingresos y riquezas, arraigándose así en el desarrollo regional periférico.
Palabras clave:
Precariedad del trabajo; Amazonas; Nova Esperança do Piriá.
Introdução
Em face do atual padrão de produção que se instala na Amazônia, a partir de 1960, em vista de um novo contexto de “desenvolvimento regional” para as porções mais setentrionais do Brasil, diversos circuitos espaciais de produção territorializam-se sobre este vasto espaço, a saber, os circuitos: da soja, do eucalipto, do ferro, do alumínio, do gado e o circuito madeireiro, setores que se dinamizam a partir de um contexto desenvolvimentista.
Tendo em vista que o funcionamento desses circuitos espaciais de produção se dá mediante a presença de grandes empreendimentos que visam a reprodução de seus capitais, a partir da exploração dos vastos recursos naturais regional e da exploração do trabalho das massas amazônidas empobrecidas, resulta-se, assim, um espaço de reduzidos índices de desenvolvimento humano, radicular no desenvolvimento periférico regional que se observa.
Dessa forma, este artigo se volta para um fenômeno que é hoje um estigma do “desenvolvimento” da periferia do capitalismo, com destaque para o espaço latino-americano: a exploração da força de trabalho de forma intensificada - a superexploração da força de trabalho. Essa superexploração, que responde assim pelo desenvolvimento periférico amazônico, onde a produção da riqueza se estabelece em face de relações de produção coletivizadas, porém, de acumulação privada, e assim, desigual, a partir de superexploração de massas de sujeitos trabalhadores.
Este artigo, desenvolve-se em torno do corpus de análise - o trabalho, especificamente a partir da categoria superexploração da força de trabalho, proposta de Ruy Mauro Marini (2005)MARINI, R. M. Dialética da dependência, 1973. In: TRASPADINI, R.; STÉDILE, J. P. (org.). Ruy Mauro Marini: vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 137-180.. Dessa forma, busca-se analisar aspectos da superexploração da força de trabalho observados no circuito madeireiro do município de Nova Esperança do Piriá, localizado no nordeste paraense. Para isso, partimos do seguinte questionamento norteador do estudo “de que forma se observa aspectos da superexploração da força de trabalho no circuito madeireiro do município de Nova Esperança do Piriá?”
Essa superexploração de sujeitos trabalhadores é o principal ativo em que se dá o processo de acumulação do capital nesse circuito de produção, sendo a superexploração, um produto do contexto em que se dão as relações de trabalho e como categoria que evidencia a face da vulnerabilidade das massas, da exploração de sujeitos, da construção socioespacial da pobreza, implicando, assim, o desenvolvimento periférico territorial do referido município.
Dadas as relações contextuais e dialéticas entre os diversos elementos que organizam o circuito madeireiro e que garantem o seu funcionamento, partimos do materialismo dialético, como método de abordagem de nossa análise e que se apoia na ênfase qualitativa das informações e dados advindos dos procedimentos metodológicos.
Como referencial teórico-metodológico, utilizou-se a categoria “superexploração da força de trabalho”, proposta por Ruy Mauro Marini (2005)MARINI, R. M. Dialética da dependência, 1973. In: TRASPADINI, R.; STÉDILE, J. P. (org.). Ruy Mauro Marini: vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 137-180. e amplamente debatida por Jaime Osorio (2009)OSORIO, Jaime. Dependência e superexploração. MARTINS, Carlos Eduardo et al. (Orgs.) A América Latina e os Desafios da Globalização. São Paulo: Boitempo, 2009., para uma análise crítica das relações de produção no interior do circuito espacial de produção da madeira serrada bruta em Nova Esperança do Piriá. A análise teórica dos aspectos que envolvem essa superexploração expôs como esses aspectos são percebidos nas operações desse circuito madeireiro. E em associação a categoria superexploração da força de trabalho, trazemos o conceito de desenvolvimento periférico, como “pano de fundo”, e elemento implicado a essa forma intensa de exploração do trabalho.
Além da pesquisa bibliográfica, utilizou-se como procedimentos metodológicos: consulta aos bancos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); pesquisa de campo, com aplicação de entrevistas não estruturadas dialogadas não nominais, com atuais e ex-trabalhadores do circuito madeireiro; registro fotográfico, procedimento metodológico que permitiu correlacionar as fotografias com as análises do contexto e das condições do trabalho.
Na pesquisa de campo realizou-se visita a uma área de exploração de madeira nativa em que, por meio da observação, pôde-se verificar as etapas de trabalho, avaliar o esforço exigido, o ritmo de trabalho imposto, bem como o impacto sobre quem trabalha. Observando-se esses aspectos do trabalho, pôde-se aferir as situações de acidentes, doenças, óbitos e toda a gama de reflexos sobre o corpo e a psique do trabalhador.
O artigo se estrutura em três encadeamentos analíticos: no primeiro faz-se uma discussão conceitual e teórica da categoria de análise superexploração da força do trabalho, no segundo segmento, traça-se uma caracterização dos sujeitos, do trabalho e das categorias de trabalhadores que atuam neste circuito madeireiro; no terceiro e último segmento, trazemos as considerações que a pesquisa permitiu acerca das condições de trabalho que os sujeitos estão submetidos no circuito madeireiro.
A superexploração da força de trabalho: categoria e discussões teórico-conceituais
Antes de discorrermos sobre as análises pertinentes à superexploração da força de trabalho, cerne deste estudo, se faz necessário estabelecer que linha de raciocínio este entende por trabalho. Assim, para este estudo, é pertinente a linha de raciocínio que associa o trabalho ao labor, considerando-o como uma atividade coordenada de caráter físico e intelectual, de forma associativa, usado pelo indivíduo e necessário ao desempenho de qualquer tarefa, realizado mediante a aplicação de forças e faculdades corporais alcançando determinado fim (Albornoz, 2012ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. 9ª edição. São Paulo: Brasilense, 2012.).
Outro aspecto acerca do trabalho é sua competência na criação de valor, ou seja, criação de objetos com valor de troca. Não há forma de criação de valor que não seja com o trabalho. Junto a isso, no decorrer dos diferentes modos de produção que se sucederam na história, determinados grupos passam a apoderar-se de vultosos excedentes de trabalho, criando uma realidade de desigualdades que passa a marcar as relações de produção e apropriação do valor e da riqueza que o trabalho produz (Albornoz, 2012ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. 9ª edição. São Paulo: Brasilense, 2012.).
Esta pesquisa parte da categoria superexploração da força de trabalho como base teórica e metodológica, está que se trata de um mecanismo a que recorrem às economias dependentes, na tentativa de revisar os desequilíbrios da balança comercial internacional (Marini, 2000MARINI, R. M. Dialética de dependência: uma antologia da obra de Ruy Mauro Marini. Organização e apresentação Emir Sader. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: Clacso, 2000.). Seus efeitos nas políticas trabalhistas reverberam na vulnerabilidade das relações de trabalho nos espaços de desenvolvimento capitalista periférico.
No entendimento de Marini, a superexploração pode ser entendida como uma violação do valor do trabalho, seja porque este é pago abaixo do seu valor, seja porque é consumida pelo capital além das condições normais, levando ao esgotamento prematuro da força vital do trabalhador (Marini, 2005MARINI, R. M. Dialética da dependência, 1973. In: TRASPADINI, R.; STÉDILE, J. P. (org.). Ruy Mauro Marini: vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 137-180.). A superexploração da força de trabalho se apresenta então como uma forma de burlar o valor da força de trabalho, um mecanismo de extração de mais-valia em patamares mais intensos do que os “normais”, em que não se respeita nem mesmo o valor da força de trabalho do indivíduo (Osorio, 2009OSORIO, Jaime. Dependência e superexploração. MARTINS, Carlos Eduardo et al. (Orgs.) A América Latina e os Desafios da Globalização. São Paulo: Boitempo, 2009.).
Assim sendo, as três dimensões de apropriação desse mais-valor pelo capital, que fundamentam a superexploração do trabalho são: a) prolongamento da jornada de trabalho; b) aumento da intensidade do trabalho, ou seja, produz-se mais em menor intervalo de tempo; e c) conversão do fundo de consumo necessário do operário em capital a ser acumulado (Marini, 2000MARINI, R. M. Dialética de dependência: uma antologia da obra de Ruy Mauro Marini. Organização e apresentação Emir Sader. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: Clacso, 2000.). Esta última dimensão é um produto do trabalho realizado do modo descrito nas duas dimensões anteriores, isto é, por tempo prolongado e com mais intensidade, porém, aqui, de modo não remunerado.
Dessa forma, a superexploração da força de trabalho culmina no acúmulo no presente do capital oriundo dos anos futuros, que não serão trabalhados, em virtude de o trabalhador, sem condições físicas e psicológicas, ter esgotado sua vida produtiva nos anos trabalhados. Esse mais trabalho (de ampla jornada, intenso e de baixa remuneração) reduzem consideravelmente a vida útil e a vida total do sujeito trabalhador (Marini, 2000MARINI, R. M. Dialética de dependência: uma antologia da obra de Ruy Mauro Marini. Organização e apresentação Emir Sader. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: Clacso, 2000.).
Nessa última dimensão da superexploração, o capital se apropria do fundo de consumo e do fundo de vida do trabalhador (Luce, 2013LUCE, M. S. A superexploração da força de trabalho no Brasil: evidências da história recente. In: ALMEIDA FILHO, N. Desenvolvimento e subdesenvolvimento: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília, DF: IPEA, 2013. p. 145-166.). A superexploração da força de trabalho pode se dar mediante diferentes formas ou modalidades, mas todas implicando a intensificação do trabalho e o aumento da mais-valia, conforme explica Marini (2000)MARINI, R. M. Dialética de dependência: uma antologia da obra de Ruy Mauro Marini. Organização e apresentação Emir Sader. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: Clacso, 2000.:
[...] O aumento da intensidade do trabalho aparece, nessa perspectiva, como um aumento da mais-valia, obtido através de uma maior exploração do trabalhador e não do incremento de sua capacidade produtiva. O mesmo se poderia dizer da prolongação da jornada de trabalho, isto é, do aumento da mais-valia absoluta na sua forma clássica; diferentemente do primeiro, trata-se aqui de aumentar simplesmente o tempo de trabalho excedente, que é aquele em que o operário continua produzindo depois de criar um valor equivalente ao dos meios de subsistência para seu próprio consumo. Deve-se assinalar, finalmente, um terceiro procedimento, que consiste em reduzir o consumo do operário mais além do seu limite normal, pelo qual "o fundo necessário de consumo do operário se converte de fato, dentro de certos limites, em um fundo de acumulação de capital", implicando assim em um modo específico de aumentar o tempo de trabalho excedente (Marini, 2000MARINI, R. M. Dialética de dependência: uma antologia da obra de Ruy Mauro Marini. Organização e apresentação Emir Sader. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: Clacso, 2000., p. 123-124).
A superexploração da força de trabalho é uma categoria específica da economia dependente, sendo inválido confundi-la com uma simples elevação das taxas de mais-valia. Ela é o mecanismo de reversão do desequilíbrio que afeta o mercado das trocas das economias dependentes.
O que aparece claramente, portanto, é que as nações desfavorecidas pela troca desigual não buscam tanto corrigir o desequilíbrio entre os preços e o valor de suas mercadorias exportadas (o que implicaria um esforço redobrado para aumentar a capacidade produtiva do trabalho), mas procuram compensar a perda de renda gerada pelo comércio internacional por meio do recurso de uma maior exploração do trabalhador (Marini, 2005MARINI, R. M. Dialética da dependência, 1973. In: TRASPADINI, R.; STÉDILE, J. P. (org.). Ruy Mauro Marini: vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 137-180., p. 153).
Essa superexploração é o “mecanismo de compensação” utilizado pela economia periférica para se “desenvolver” (Amaral; Carcanholo, 2009AMARAL, M. S; CARCANHOLO, M. D. A superexploração do trabalho em economias periféricas dependentes. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 12, n. 2, p. 216-225, jul./dez. 2009.). Ao contrário de se basear no incremento técnico da produtividade interna, esse mecanismo se apoia na intensificação do trabalho com remuneração abaixo do valor real (Marini, 2005MARINI, R. M. Dialética da dependência, 1973. In: TRASPADINI, R.; STÉDILE, J. P. (org.). Ruy Mauro Marini: vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 137-180.), conformando o padrão de crescimento para fora, em detrimento das demandas socioeconômicas internas.
Ao negligenciar uma melhoria nos padrões qualitativos de vida das massas trabalhadoras, a superexploração da força de trabalho atenta diretamente contra o fundo de vida dos sujeitos, tornando decrépitas as condições e a qualidade de vida do trabalhador e intensificando a miséria que impera nos espaços periféricos, visto que.
[...] a superexploração da força de trabalho, que redunda em um pagamento de salário para a força de trabalho abaixo do seu valor, produz, na economia dependente, uma distribuição regressiva tanto da renda quanto da riqueza, bem como a intensificação das mazelas sociais, aprofundando uma característica já própria de qualquer economia capitalista (Carcanholo, 2013CARCANHOLO, M. D. O atual resgate crítico da teoria marxista da dependência. Trabalho, educação e saúde, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 191-205, jan./abr. 2013., p. 200).
A superexploração é uma forma particular de exploração da força de trabalho, seja porque há uma violação no mecanismo de compra e venda desta, seja porque isso ocorre no próprio processo de trabalho - via desgaste “anormal”, extensivo e/ou intensivo da força vital do sujeito que trabalha (Osorio, 2013OSORIO, J. Fundamentos da superexploração. In: ALMEIDA FILHO, N. Desenvolvimento e subdesenvolvimento: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília, DF: IPEA, 2013. p. 49-70.). Assim, suas formas possíveis se manifestam em uma mistura de elementos que atentam ora contra o fundo de consumo (via violação do valor da força de trabalho), ora contra o próprio fundo de vida do trabalhador, uma vez que, dadas as condições do trabalho, observa-se nitidamente a impossibilidade de condições de acesso do indivíduo aos bens de consumo necessários para a reposição de sua força vital, levando à degradação de suas condições de vida.
A categoria superexploração deve ser entendida, portanto, como i) um conjunto de modalidades que implicam a remuneração da força de trabalho abaixo de seu valor e o esgotamento prematuro da força físico-psíquica do trabalhador; e ii) que configuram o fundamento do capitalismo dependente, junto com a transferência de valor e a cisão entre as fases do ciclo do capital (Luce, 2013LUCE, M. S. A superexploração da força de trabalho no Brasil: evidências da história recente. In: ALMEIDA FILHO, N. Desenvolvimento e subdesenvolvimento: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília, DF: IPEA, 2013. p. 145-166., p.147).
O ponto de partida de Marini para o arcabouço teórico-metodológico da “superexploração da força de trabalho” é baseado na teoria marxista do valor, que se apoia, no conceito-chave de mais-valia. Para Marx, a exploração do trabalho é radicular na sociedade histórica capitalista e edifica a teoria da mais-valia e do lucro no capitalismo.
Na teoria do valor, mercadorias são trocadas por seus respectivos valores, inclusive a força de trabalho. Para se chegar a tal valor, não se leva em consideração uma simples multiplicação da jornada diária ou semanal de trabalho por um determinado valor monetário. O cálculo leva em conta o valor total da força de trabalho1 1 Que leva em consideração o tempo de vida útil e vida média total, ou seja, o período de vida em que a pessoa apresenta condições de vender sua força de trabalho mais o tempo de aposentadoria. ; é esse valor total que determina o valor diário da força de trabalho e, assim, o salário a ser pago ao trabalhador. Esse salário deve dar ao trabalhador condições para que ele possa repor o desgaste físico e psicológico em seu período produtivo e não produtivo.
Em Marx, a exploração do trabalho tem um amplo sentido. Significa usar, utilizar, consumir ou explorar a capacidade que a mercadoria possui de satisfazer a necessidade de quem a utiliza (Carcanholo, 2013CARCANHOLO, M. D. O atual resgate crítico da teoria marxista da dependência. Trabalho, educação e saúde, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 191-205, jan./abr. 2013.), o que inclui o trabalho como mercadoria. Acerca dessa característica do trabalho, Peliano (1990)PELIANO, J. C. Acumulação de trabalho e mobilidade do capital. Brasília, DF: Editora da Universidade de Brasília, 1990. explica:
[...] é a única mercadoria que é força em ação, cuja atividade é a transformação de energia, em contrastes com as demais que são forças materializadas em produtos, energias transformadas; em outros termos, consumida a força de trabalho de forma produtiva o processo de trabalho, “o trabalho está incorporado ao objeto sobre que atuou... o que se manifesta em movimento, do lado do trabalhador, se revela agora qualidade fixa, na forma de ser, ao lado do produto (Peliano, 1990PELIANO, J. C. Acumulação de trabalho e mobilidade do capital. Brasília, DF: Editora da Universidade de Brasília, 1990., p. 42-43).
O sujeito que compra uma mercadoria adquire o direito de utilizá-la como bem entender e de se apropriar do resultado dessa mercadoria. Isso também vale para o trabalho. Quem compra a força de trabalho acredita deter o poder de utilizá-la sem limites, apropriando-se do mais-trabalho (mais-valia) que a força de trabalho produz.
Em seu sistema metabólico de controle social, a lógica do capital subordina o valor de uso das coisas ao valor de troca (Mészáros, 1995MÉSZÁROS, I. Beyond capital: towards a theory of transition. Londres: Merlin Press, 1995.). No capitalismo, as mercadorias, apesar de produzidas sob relações sociais coletivizadas, são apropriadas por relações privadas. Uma vez despojada dos meios de produção, a classe trabalhadora só pode vender a si mesma, como força de trabalho (uma mercadoria), aspecto resultante de um processo histórico de mudança entre o trabalho e suas condições de realização.
Nesse contexto, o trabalho é a mercadoria básica para viabilizar a produção, assumindo posição de principal ativo no acúmulo do lucro. Sem ele o sistema não existe; com ele, o sistema se perpetua (Peliano, 1990PELIANO, J. C. Acumulação de trabalho e mobilidade do capital. Brasília, DF: Editora da Universidade de Brasília, 1990.). Nesse sentido, o aumento da precarização e das taxas de superexploração da força de trabalho está diretamente relacionado com as taxas de produtividade, logo, de lucratividade. A intensificação da exploração do trabalhador tem se mostrado central no desenvolvimento do capitalismo periférico e dependente.
Uma de suas formas é o prolongamento da jornada de trabalho, que decorre da submissão do trabalhador a uma jornada ampliada (legal ou não), visando ampliar os níveis de produção e, assim, elevar a extração de mais-valia e sua apropriação por quem detém os meios de produção. Isso é observado no circuito madeireiro em questão, onde a jornada de trabalho nas serrarias chega a 10 horas por dia, com jornada semanal de 60 horas, bem superior às 8 horas diárias e 44 horas semanais estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu art. 7º, inciso XIII, que garante o direito a uma jornada de trabalho que vise à melhoria da condição social do trabalhador (Brasil, 1943BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 6 dez. 2022.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de...
).
Na superexploração mediante prolongamento da jornada de trabalho, derruba-se o valor da força de trabalho, embora não se altere o salário. Essa ampliação da jornada de trabalho é apenas uma das dimensões que fundamenta a (super)exploração da força de trabalho e a operacionalização da mais-valia.
O prolongamento da jornada de trabalho por anos reiterados, mediante o uso sistemático de horas extras, atinge um momento que, mesmo com o pagamento de remuneração adicional pelas horas trabalhadas além da jornada normal, uma maior quantia de valores de uso não bastará para repor o desgaste de sua corporeidade viva. O capital estará se apropriando do fundo de vida do trabalhador (Osorio, 2009OSORIO, Jaime. Dependência e superexploração. MARTINS, Carlos Eduardo et al. (Orgs.) A América Latina e os Desafios da Globalização. São Paulo: Boitempo, 2009. apud Luce, 2013LUCE, M. S. A superexploração da força de trabalho no Brasil: evidências da história recente. In: ALMEIDA FILHO, N. Desenvolvimento e subdesenvolvimento: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília, DF: IPEA, 2013. p. 145-166., p. 154).
O aumento da jornada, que implica a violação do valor total da força de trabalho, reduzindo o fundo de consumo do sujeito, permite que o capital se aproprie de anos de vida futuros do trabalhador (Luce, 2013LUCE, M. S. A superexploração da força de trabalho no Brasil: evidências da história recente. In: ALMEIDA FILHO, N. Desenvolvimento e subdesenvolvimento: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília, DF: IPEA, 2013. p. 145-166.), corroendo, dessa forma, o fundo de vida dos trabalhadores superexplorados (Osorio, 2009OSORIO, Jaime. Dependência e superexploração. MARTINS, Carlos Eduardo et al. (Orgs.) A América Latina e os Desafios da Globalização. São Paulo: Boitempo, 2009.). Ou seja, o capital passa a se apropriar, no presente, da produção dos anos futuros do trabalhador.
A segunda forma de superexploração é o aumento da intensidade do trabalho, que decorre de um dispêndio crescente de força de trabalho em dado espaço de tempo, ampliando-se a extração do mais-valor sobre a menor fração de tempo possível e fazendo com que o sujeito trabalhe mais em menos tempo. Intensifica-se a exploração do trabalho sem alterar a composição técnica do capital.
Enquanto o aumento da produtividade implica que o trabalho executado pelo trabalhador transforme maior quantidade de meios de produção no mesmo tempo, no aumento da intensidade há extração de mais-trabalho pelo capital mediante elevação do ritmo ou desgaste físico no mesmo tempo. E sempre que tal intensidade for elevada acima das condições normais, se estará superexplorando o trabalhador (Luce, 2013LUCE, M. S. A superexploração da força de trabalho no Brasil: evidências da história recente. In: ALMEIDA FILHO, N. Desenvolvimento e subdesenvolvimento: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília, DF: IPEA, 2013. p. 145-166., p. 156).
No circuito madeireiro ilegal (a exemplo do circuito estudado nesta pesquisa), a percepção do aumento da intensidade é nítida. Paira sobre o empresariado madeireiro uma perpétua tensão de possíveis operações de combate à exploração ilegal de madeira, comuns no decorrer do histórico da atividade madeireira na região. Por isso, intensifica-se o uso dos elementos disponíveis na estrutura do circuito (meios de produção, bens de capital e força de trabalho), a fim de obter uma produção mais célere, como forma de mitigar os danos da descapitalização certa que os gestores do circuito madeireiro sofrerão com a apreensão de madeira e destruição de equipamentos e máquinas.
A última forma de superexploração do trabalho é a conversão do fundo de consumo do trabalhador em fundo a ser acumulado. A execução de um trabalho intenso, em jornadas prolongadas e não remuneradas, reduz as condições de saúde do trabalhador, logo, levando a uma redução de seu fundo de vida. O pagamento do trabalho abaixo de seu valor restringe o acesso do trabalhador a bens de consumo: alimentos, vestuário, calçado, instrumentos de saúde, educação. Amaral e Carcanholo (2009)AMARAL, M. S; CARCANHOLO, M. D. A superexploração do trabalho em economias periféricas dependentes. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 12, n. 2, p. 216-225, jul./dez. 2009. explicam que isso.
[...] representa um mecanismo através do qual a classe capitalista se vê fortalecida no sentido de impor uma queda nos salários a um nível inferior àquele correspondente ao valor da força de trabalho. [...] Dado que os trabalhadores empregados se submetem a uma situação de arrocho salarial, tendo em mente a existência de pressão por parte dos desempregados, que se sujeitam a uma remuneração inferior em troca de trabalho (Amaral; Carcanholo, 2009AMARAL, M. S; CARCANHOLO, M. D. A superexploração do trabalho em economias periféricas dependentes. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 12, n. 2, p. 216-225, jul./dez. 2009., p. 221).
Essa ampliação da jornada afeta direta e negativamente a recomposição da energia vital do trabalhador, que passa a consumir menos alimentos e desenvolver problemas de saúde em decorrência do trabalho desempenhado, vindo assim a adoecer e morrer. É a partir desses aspectos que se percebe a terceira forma de superexploração da força de trabalho, a redução do fundo de vida do trabalhador, em que o acúmulo de capital se dá em função da redução do fundo de consumo do indivíduo que trabalha.
Independentemente da condição em que se dê o trabalho, o capitalismo contemporâneo prima pela maximização da produção, o que implica maior dispêndio de energia física e mental do trabalhador na obtenção de mais resultados, em suma, mais-trabalho (Dal Rosso, 2008DAL ROSSO, S. Mais trabalho! A intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo: Boitempo, 2008.). Isso passa a produzir efeitos sobre os corpos e mentes do trabalhador e, como reflexo, elevam-se os índices de acidentes, lesões físicas, doenças, amputações e mortes, revelando a debilidade estrutural da relação saúde-trabalho.
As pressões para atender às demandas do mercado transformaram o ambiente de trabalho em um espaço de adoecimento (Antunes, 2018ANTUNES, R. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018. 325p.) e de acidentes. O crescimento dos casos de acidentes de trabalho e doenças laborais é um indicador para aferir o aumento na intensidade do trabalho, o que aponta uma tendência de superexploração (Luce, 2013LUCE, M. S. A superexploração da força de trabalho no Brasil: evidências da história recente. In: ALMEIDA FILHO, N. Desenvolvimento e subdesenvolvimento: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília, DF: IPEA, 2013. p. 145-166.).
A superexploração torna-se o fundamento da dependência, conformando os espaços da periferia do capitalismo no subdesenvolvimento. Onde se observa entre a classe trabalhadora os baixos salários, analfabetismo, falta de oportunidades de emprego, subnutrição e repressão policial. Essa superexploração da força de trabalho constitui um problema radicular na estrutura do desenvolvimento da periferia do capitalismo no que compete na melhoria do padrão e da qualidade de vida dessa classe trabalhadora.
Categorias e relações de trabalho: caracterização dos sujeitos e do trabalho nas etapas de exploração e transformação primária no circuito madeireiro em Nova Esperança do Piriá
O trabalho no setor madeireiro amazônico mudou consideravelmente desde seu surgimento, no século XVIII, a exemplo da mão de obra, que evoluiu do escambo indígena para o atual trabalho proletarizado livre. Outro ponto de mudança são os instrumentos de trabalho utilizados. Se antes se utilizavam equipamentos simples, tais como machado, enxó, enxadão, serras manuais e alavancas, hoje utiliza-se maquinário moderno, que inclui tratores, caminhões, motosserras e sistema de serras em serrarias.
Em decorrência dessas mudanças ampliou-se o potencial exploratório tanto dos elementos ambientais quanto humanos. E como resposta de um amplo programa de ocupação da Amazônia sob tutela do estado brasileiro, em bases supostamente modernas, que se instala na região a partir de 1966 (Martins, 1994MARTINS, José de Souza. A reprodução do capital na frente pioneira e o renascimento da escravidão no Brasil. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 6(1-2): 1-25, 1994 (editado em jun. 1995).) que os vastos recursos naturais regionais são espoliados por capitais exploratórios.
Foi nesse contexto de total abertura da região para o “empreendedorismo” sulista e sudestino que a atividade madeireira se tornou uma nova fronteira de lucro para diversos grupos empresariais que se dirigiram para a região, inclusive para Nova Esperança do Piriá.
No início da exploração madeireira na Amazônia, os primeiros madeireiros eram das regiões Sudeste e Sul. Em Nova Esperança do Piriá, o primeiro empresário do ramo, fundador da Madeireira Piriá, foi o paulista Elço José Lourenço (Aguiar; Carvalho; Silva, 2006). Além dele, outros dois grandes grupos do setor, também de origem sudestina, passaram a atuar na incipiente etapa de transformação primária: a Madeireira Capixaba (1993-1996) e o Grupo Rosa Madeireira (1993-2000). Esses empreendimentos foram os primeiros de muitos outros que chegaram à região, até que em 2008 já eram 18 serrarias atuantes, entre 2000 e 2009 foi o período de maior atividade do circuito madeireiro.
Todas as mudanças apontadas anteriormente implicaram na composição de novas formas de produzir no setor madeireiro, o que afeta diretamente a forma dos sujeitos trabalharem. Apesar dessas mudanças, alguns aspectos permanecem inalterados entre a antiga atividade madeireira e a atual, quais sejam: o caráter predatório, a especialização produtiva, o atendimento prioritário a demandas externas e a exploração de massas trabalhadoras marginalizadas.
A consulta aos bancos oficiais do CAGED e da RAIS não forneceu dados consistentes do circuito em questão, fato atribuído aos aspectos de ilegalidade que marcam as relações de produção no setor madeireiro local. Por isso, lançou-se mão da pesquisa de campo, onde se percebeu que o contingente de indivíduos que trabalham no circuito madeiro local de Nova Esperança do Piriá se divide em duas principais categorias: os que trabalham na etapa de exploração e os que trabalham na transformação primária (desdobramento de toras de madeira nativa em madeira serrada bruta).
Um aspecto fundamental que possibilita a superexploração da força de trabalho é a situação desregulamentação desses trabalhadores, tanto da etapa de exploração como da etapa de transformação primária. Nenhum dos trabalhadores e ex-trabalhadores, entrevistados na pesquisa, tem ou tinha registro em carteira profissional, logo, trabalham sem prerrogativas de acesso aos benefícios sociais que o trabalho regulamentado oferece.
A pesquisa de campo possibilitou a observação de como se dão as operações de exploração e transporte de madeira nativa em tora nas matas da região, verificando-se o esforço das massas de trabalhadores submetidos a um trabalho degradante, arriscado e mal remunerado. Observar as circunstâncias em que se dá o trabalho neste circuito produtivo foi relevante enquanto se pôde realizar uma análise qualitativa, associando o que foi observado e as informações advindas das entrevistas, com acesso a descrições de situações, fatos e eventos reais, e não a representações de avaliações subjetivas (Dal Rosso, 2008DAL ROSSO, S. Mais trabalho! A intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo: Boitempo, 2008.).
Analisar os aspectos de superexploração da força de trabalho começa por se traçar um perfil do trabalhador desse circuito. Verificou-se que esse trabalhador, em geral, é um homem jovem, preto, pobre, com baixo grau de escolaridade, mantenedor da família e sem perspectiva de oportunidades/trabalhos que possam lhe atribuir maior renda. Tais aspectos são fundamentais na arregimentação desse público, não só pelo setor madeireiro, mas por diversos outros segmentos de produção hoje atuantes na Amazônia.
As operações de exploração de madeira em tora nas áreas florestadas envolvem: derrubada, desgalha, arraste, carregamento e transporte de toras para as serrarias. São executadas por trabalhadores “especializados”, os madeireiros. Nessa etapa há diversas equipes de trabalho que passam aproximadamente duas semanas reclusas nas áreas de exploração, realizando a extração das árvores de valor comercial. Uma equipe de exploração é composta por sete pessoas: o responsável pela extração, um operador de motosserra, um “jeriqueiro”, um passador de cabo, dois motoristas e uma cozinheira. A contratação desses trabalhadores ocorre em um acordo verbal, sem a assinatura de um contrato formal.
Os trabalhos nessa etapa iniciam-se antes mesmo da chegada da equipe à área - a localização das árvores a serem derrubadas é feita previamente. Depois que as árvores de potencial comercial são “catalogadas”, iniciam-se os trabalhos de abertura dos ramais de acesso a elas. Esse trabalho é feito com tratores de esteiras abrindo caminhos por onde transitarão máquinas, insumos, pessoas e o produto. Após esses preparativos, iniciam-se de fato as operações de extração de madeira, com a chegada da equipe de exploração.
O responsável pela exploração desempenha a função de coordenar a extração da madeira, sendo o agente de maior posição hierárquica nessa etapa. Antes do início da serragem da árvore faz-se a limpeza de seus espaços laterais. Depois disso, segue-se a operação de corte, seguida do arraste da tora do ponto de extração até o barranco, como mostrado na Figura 1, abaixo.
O corte da madeira (A) é realizado pelo operador de motosserra, trabalhador responsável pela derrubada da árvore, também chamado de motosserrarista. São trabalhadores que se “qualificaram” no manejo desse equipamento com o qual é feita também a eliminação dos ramos laterais, preparando os troncos para o transporte até o barranco onde são carregados nos caminhões madeireiros (Menezes; Guerra, 1998MENEZES, M. N. A.; GUERRA, G. A. D. Exploração de madeiras no Pará: semelhanças entre as fábricas reais do período colonial e as atuais serrarias. Cadernos de Ciência e Tecnologia, Brasília, v. 15, n. 3, p. 123-145, set./dez. 1998.).
Após o corte, segue-se a operação de arraste da tora (B) até o barranco. Isso é feito por tratores operados pelo “jeriqueiro”, trabalhador que opera o trator utilizado em diversas atividades, tais como: abertura de ramais, arraste da madeira em tora, carregamento dos caminhões madeireiros, desatolar dos caminhões, transporte de equipamentos pesados ou qualquer outra atividade em que haja necessidade de força bruta. Após concluído o agrupamento das toras de madeira no barranco, procede-se ao carregamento dos caminhões madeireiros. Essa operação é realizada também pelo trator, envolvendo o “jeriqueiro”, os passadores de cabos (chamados “catraqueiros”) e o motorista.
Os passadores de cabo ou “catraqueiros” desempenham diversas funções na etapa exploração, dentre elas no atracamento de cabos de aço para o arraste das toras do local de derrubada da árvore até o barranco, no desatolar dos caminhões madeireiros nos enlameados ramais da área de exploração e no carregamento dos caminhões.
Já os motoristas fazem o transporte dos diversos insumos necessários à exploração (combustíveis, alimentos, peças de reposição para equipamentos avariados nas operações, equipamentos e outros insumos), transportando-os entre a cidade e as áreas de exploração, assim como também fazem o transporte de madeira nativa em tora.
Outra trabalhadora presente na etapa de exploração é a cozinheira, uma das poucas mulheres presentes no circuito madeireiro. Ela trabalha no barracão, preparando a alimentação para a equipe de exploração, lavando a louça e a roupa da equipe.
Na etapa de transformação primária, o trabalho dentro das serrarias é executado por trabalhadores organizados em uma linha de produção de desdobro de madeira em tora em madeira serrada bruta. A contratação deles também é feita por acordo verbal; e da mesma forma como ocorre com os trabalhadores da etapa de exploração, estes também ocupam postos de trabalho desregulamentados, sem registro em carteira profissional.
Na serraria, há trabalhadores de dois setores, como administrativos (auxiliares administrativos, gerente e romaneador) e da linha de produção (operador de serra circular principal, operador da serra circular de aproveitamento, operador de serra fita, operador de máquina carregadeira, operador do destopador principal, operador do destopador de aproveitamento, empilhadores, motorista da caçamba de sarrafo, “pozeiro”, laminador, “amarradores de ripa” e carregadores). A pesquisa se debruçou sobre essa categoria de trabalhadores envolvidos na linha de produção de madeira serrada bruta, sujeitos submetidos a um trabalho mais intenso dentro das serrarias.
O operador de máquina carregadeira é quem opera o equipamento que descarrega os caminhões madeireiros que chegam das áreas de exploração, assim como também faz o transporte de toras de madeira pelas dependências da serraria e de madeira serrada para os trapiches de carregamento, como mostrado na Figura 3, imagem (A).
O operador de serra fita, mostrado na Figura 3, imagem (B), é quem opera a primeira de uma série de serras utilizadas no desdobramento de madeira. Seu trabalho envolve a atracação da tora no carro porta-tora, o monitoramento da passagem desta pela serra fita e a calibragem da bitola da serra (a espessura em que as peças serão serradas).
Outro trabalhador na etapa de transformação primária é o operador da serra circular principal. É ele quem recebe as peças de madeira saídas da serra fita, passando-as, em seguida, pela serra circular, onde a madeira ganha a dimensão de largura específica: caibro, ripa, ripão, prancha, pranchão ou viga. Esse trabalhador pode ser observado na Figura 4, imagem (A), abaixo.
Depois que a madeira passa pela serra circular principal, ela segue para o destopador principal, conforme Figura 4, imagem (B). O trabalhador que opera essa máquina deve se certificar de que a madeira está ganhando sua devida dimensão final (comprimento). Os operadores da serra circular de aproveitamento e do destopador de aproveitamento fazem atividades similares aos operadores da serra circular e do destopador principal.
Os empilhadores, vistos na imagem (A) da Figura 5, abaixo, estão no final da linha de produção. Seu trabalho envolve organizar em pilhas a madeira que chega através das esteiras, vinda dos destopadores. As pilhas são padronizadas para serem transportadas pela máquina carregadeira até o pátio e/ou para os trapiches de carregamento. Por sua vez, os carregadores são trabalhadores responsáveis pelo carregamento dos caminhões e carretas com madeira serrada, conforme a imagem (B) da Figura 5, a seguir.
Na Figura 6, imagem (A), observa-se o laminador, ele é quem faz a manutenção da serra fita, amolando-a de modo a garantir sua eficiência. Seu trabalho também envolve retirar e colocar a serra no equipamento. Já o “pozeiro”, visto na imagem (B) da Figura 6, realiza um dos trabalhos mais difíceis e perigosos da linha de produção de madeira serrada, segundo o grupo de ex-trabalhadores de serraria entrevistados. Ele retira o pó produzido pela serragem da madeira e acumulado nos porões localizados abaixo das serras (serra fita, circulares). Esses trabalhadores utilizam carros de mão para transportar esse pó dos porões da serraria até a área de armazenamento, que também está localizada na área da serraria.
Já o motorista da caçamba, em destaque na imagem (A) da Figura 7, é quem realiza o transporte do sarrafo/refugo gerado pela serragem de madeira, levando-o das dependências internas do barracão até a área de armazenagem. Por sua vez, os empurradores e puxadores (imagem B, Figura 7), como os próprios nomes sugerem, são trabalhadores que fazem a movimentação das peças de madeira pelas diversas esteiras da linha de produção da serraria. Os empurradores introduzem as peças de madeira nas serras circulares principal e de aproveitamento, enquanto, na sequência, os puxadores, recebem essas peças na saída das serras e as encaminham para os destopadores principal e de aproveitamento.
Outros trabalhadores que também fazem parte do circuito em questão são os “amarradores de ripa”. Eles organizam os pacotes de ripa, trabalhando em uma das etapas finais da linha de produção de uma serraria. Os pacotes são feitos com 12 unidades de ripa, para garantir um melhor manuseio, contagem e cubagem desse tipo de peça de madeira. É o outro posto de trabalho em que se observa a presença de mulheres no circuito madeiro local.
A baixa escolaridade é recorrente entre os trabalhadores de ambas as etapas do circuito madeireiro local. Na pesquisa de campo foi verificado que nenhum dos trabalhadores ou ex-trabalhadores tinha ensino fundamental completo, aspecto que foi determinante para direcionar esses sujeitos ao trabalho na atividade madeireira, já que a baixa escolarização não lhes permitiu alcançar oportunidades em outros segmentos profissionais. Portanto, a falta de outras oportunidades de trabalho, a baixa escolarização, a pobreza e a necessidade de trabalhar para o sustento das famílias foram os aspectos apontados pelos trabalhadores e ex-trabalhadores como preponderantes para o seu ingresso na atividade madeireira.
A remuneração dos trabalhadores de ambas as etapas do circuito é paga de forma fracionada em duas parcelas quinzenais. O transporte dos trabalhadores das serrarias é feito por conta própria, sendo os meios de transporte mais comuns bicicletas e motocicletas.
Acredita-se que dada a ilegalidade que marca as relações de produção no circuito madeireiro, o trabalho exercido pela massa de sujeitos envolvidos não é diferente disso, não obedecendo a legislação trabalhista vigente, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (Brasil, 1943BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 6 dez. 2022.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de...
) e a Portaria n. 3.214/1978, que aprova Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho (Brasil, 1978BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. Brasília, DF: Ministério do Trabalho, 1978.).
A violação dos direitos trabalhistas é prerrogativa fundamental para potencializar o acúmulo de lucro e concentração de renda e riqueza mediante a superexploração da força de trabalho, verificada a partir de diversos fatores, além do trabalho em longas e intensas jornadas de trabalho e da remuneração abaixo de seu valor, esses sujeitos trabalhadores estão expostos elevado índice de precarização do trabalho, visto a partir da exposição do trabalhador a um elevado grau de periculosidade e riscos a saúde, a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) e o assédio moral.
Essas formatações de relações de produção que precarizam o trabalho e tornam decrépitas as condições e possibilidades de vida dos sujeitos trabalhadores atendem aos atuais padrões de acumulação e reprodução do capital, instalados em espaços periféricos, como na Amazônia, onde o trabalho não oferece meios de subsistência ao trabalhador. Do contrário, nesse contexto o trabalho é algoz da dignidade do sujeito que trabalha.
Superexploração e precariedade da força de trabalho: a condição proletária no circuito madeireiro em Nova Esperança do Piriá
O trabalhador do setor florestal está em constante perigo desde o desdobro primário da tora até sua comercialização, e a relação trabalho/salário/saúde está interligada (Mendoza; Borges, 2016MENDOZA, Z. M. S. H.; BORGES, P. H. M. Segurança do trabalho em serrarias. Multitemas, Campo Grande, v. 21, n. 49, p. 113-139, jan./jun. 2016.). O trabalho é pesado e envolve uma série de riscos ergonômicos e riscos físicos aos trabalhadores, em razão de aspectos como ruídos, elevada temperatura e exposição a resíduos gerados pela serragem de madeira.
Os trabalhadores são expostos a ruídos intensos na jornada de trabalho, mesmo utilizando protetor auricular, sendo que nem todos os trabalhadores utilizam esse equipamento, tanto na etapa de exploração da madeira em tora, quanto nas serrarias. Além do ruído, nas serrarias também há um risco ocupacional de altas temperaturas causadas pelo funcionamento de tantas máquinas reunidas em único espaço; na etapa de exploração, há situações que vão do calor durante o dia ao frio durante as noites nas áreas de floresta.
O trabalho desempenhado pelos sujeitos envolvidos nas etapas de exploração e transformação primária do referido circuito dá-se sem nenhuma observância à legislação trabalhista vigente (Brasil, 1943BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 6 dez. 2022.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de...
) e às normas regulamentadoras da Portaria n. 3.214/1978 (Brasil, 1978BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. Brasília, DF: Ministério do Trabalho, 1978.), criada pelo Ministério do Trabalho, cujo objetivo é estabelecer os requisitos técnicos e legais sobre aspectos de segurança e saúde ocupacional, direcionando as empresas a ações de prevenção e controle de riscos no trabalho. Ao observar que o trabalho em ambas as etapas do circuito madeireiro ocorre na contramão do que estabelece a lei, percebem-se aspectos fundamentais na criação de postos de trabalho precarizados.
A jornada de trabalho na etapa de exploração chega a 11 horas diárias (das 7h às 18h), o que representa uma jornada semanal de 66 horas, muito superior às 8 horas diárias e 44 horas semanais estabelecidas pela CLT. Dentro dessa longa jornada, o trabalho é intenso, pois a remuneração de alguns trabalhadores da etapa de exploração é calculada com base na produção; por exemplo, um operador de motosserra recebe, em média, R$ 10,00 por metro cúbico de madeira extraída. Os demais trabalhadores são pagos em valores fixos, a cada quinzena, da seguinte forma: os passadores de cabo/ajudantes recebem R$ 600,00; a cozinheira, R$ 500,00; o “jeriqueiro”, R$ 600,00; e o motorista do caminhão, R$ 1.000,00 (informação verbal)2 2 Informação obtida em entrevistas durante a pesquisa em 10 de julho de 2021. .
O trabalho na etapa de exploração é envolto em diversos perigos. Para o operador de motosserra e os ajudantes, “[...] o principal perigo é cair um galho de cima da árvore e atingir a pessoa, mas também tem o perigo de picada de cobras” (informação verbal)3 3 Informação obtida em entrevistas durante a pesquisa em 10 de julho de 2021. . O operador de motosserra entrevistado relatou que já sofreu acidentes de trabalho: “[...] escorreguei e caí no chão com a motosserra funcionando, machuquei a costa na queda, mas não tive nada de mais de grave desde então” (informação verbal)4 4 Informação obtida em entrevistas durante a pesquisa em 10 de julho de 2021. .
Os perigos que envolvem o trabalho do motorista do caminhão referem-se ao caminhão tombar, arrebentar o cabo de aço ou qualquer acidente relacionado a problemas mecânicos no caminhão. Essa última categoria de acidente é recorrente nas estradas vicinais da região que dão acesso às áreas de exploração e envolvem, principalmente, os caminhões madeireiros “chebas”, haja vista a situação em que tais veículos se encontram. Os veículos apresentam frequentes problemas mecânicos, sendo muito comum, ao trafegar por essas estradas, encontrar diversos caminhões quebrados.
Acidentes nas estradas vicinais envolvendo transporte de madeira em tora são recorrentes em Nova Esperança do Piriá, com elevadas taxas de mortalidade de trabalhadores, mortes causadas por esmagamentos, visto que muitos trabalhadores viajam em cima da carga de madeira. Além de tombamentos de cargas, também são muito comuns acidentes em que os cabos de aço arrebentam.
Já os perigos envolvidos no trabalho da cozinheira são: queimaduras, picadas de animais peçonhentos, além de assédio sexual por parte dos trabalhadores homens. Nas áreas de exploração há a massiva presença de homens; as únicas mulheres nas áreas de exploração são as cozinheiras.
Os tipos de lesões mais comuns no setor madeireiro, são: lesão de partes moles superficiais (escoriações e arranhões), lesão de partes moles profundas (músculos, tendões, vasos e nervos); contusões. Sendo que os casos mais graves de acidentes em serrarias envolve amputações.
Nas áreas de exploração os acidentes mais comuns são: machucados causados pelos equipamentos cortantes (facão, machado, motosserra); quedas na área de exploração e picadas de animais peçonhentos, no entanto, o principal acidente observado na etapa de exploração é no momento da derrubada da árvore, quando os galhos de cima se quebram e caem sobre os trabalhadores.
Já os aspectos de superexploração da força de trabalho na etapa de transformação, aqui são apresentados a partir da análise das condições de trabalho relacionadas a jornadas de trabalho, intensidade do trabalho e remuneração dos trabalhadores, além dos perigos e riscos físicos e ergonômicos a que estão expostos esses indivíduos, como desdobramento desse trabalho superexplorado. As análises foram baseadas nos dados coletados, nas informações provenientes das entrevistas, das atividades de observação em campo, da análise bibliográfica disponível e do material fotográfico também disponível.
As longas jornadas de trabalho também são recorrentes na etapa de transformação primária, visto que as serrarias funcionam em dois turnos em determinadas épocas do ano: no verão amazônico (entre os meses de maio e outubro). O turno diurno é das 7h às 18h (com uma hora de intervalo para almoço, das 12h às 13h) e o noturno é das 19h às 6h (com uma hora de intervalo para o lanche, de 0h a 1h). A refeição noturna (o lanche) não é fornecida pela empresa, é de responsabilidade do próprio trabalhador. Em ambas as jornadas, o quantitativo de horas trabalhadas é de 10 horas por dia, de intenso trabalho, uma vez que os pátios das serrarias estão sempre cheios de toras a serem desdobradas.
O intervalo para almoço de uma hora de duração é curto para os trabalhadores. Tanto as serrarias atuais quanto as que já encerraram suas atividades estão localizadas em bairros afastados das áreas centrais de Nova Esperança do Piriá, com destaque para o Bairro da Cidade Nova, popularmente reconhecido como espaço que mais concentrou serrarias. Hoje, nesse bairro, funcionam três das quatro serrarias atualmente em operação no município. Os trabalhadores que residem nas proximidades da serraria fazem suas refeições em casa, já os trabalhadores que residem em bairros mais afastados (Bairro da Fumaça, Vila Nova, Centro, Bairro Novo, Francklândia, Gurupilândia) levam suas refeições de casa. Aqueles que se locomovem de motocicleta também preferem fazer suas refeições em casa, desperdiçando um tempo considerável do horário de almoço no deslocamento de ida e volta.
Além do intervalo para o almoço, existe um intervalo de 15 minutos no período da manhã, geralmente das 9h30 às 9h45, e, à tarde, das 15h30 às 15h45. Os trabalhadores utilizam esse intervalo para o descanso e para o lanche. Vários vendedores ambulantes se direcionam até as serrarias da cidade para atender a essa demanda. A aquisição dessa alimentação também é por conta dos próprios trabalhadores.
Durante o período da estiagem (maio a outubro), quando as chuvas diminuem e há um melhor acesso às áreas de exploração, as serrarias operam em dois turnos. O empresário quer, no menor tempo possível, recuperar o capital investido na compra de maquinário, instalações e todos os custos de investimento na implantação da serraria. Isso às custas do trabalho intenso da mão de obra. Assim, em um curto espaço de tempo, ele quer que a madeira nativa em tora seja adquirida, desdobrada em madeira serrada bruta e finalmente comercializada, para que finalmente o capital aplicado no circuito retorne de forma ampliada.
O trabalho na linha de produção de madeira serrada também é demasiadamente intenso e degradante. As longas jornadas de trabalho são cumpridas em pé e com intensa movimentação dos membros inferiores e superiores, como os operadores das serras, dos “pozeiros”, puxadores, empurradores, empilhadores e “amarradores” de ripa. Além de estarem expostos aos diversos riscos que envolvem o trabalho em uma serraria.
Os operadores de serras também estão sujeitos aos riscos advindos das vibrações; esse risco resulta em perturbações musculoesqueléticas, neurológicas e vasculares. Além desses riscos físicos, somam-se a eles os riscos ergonômicos: levantamento e transporte manual de pesos, movimentos repetitivos, trabalho de pé, esforço físico intenso, desconforto acústico, desconforto térmico e postura inadequada (Mendoza; Borges, 2016MENDOZA, Z. M. S. H.; BORGES, P. H. M. Segurança do trabalho em serrarias. Multitemas, Campo Grande, v. 21, n. 49, p. 113-139, jan./jun. 2016.). No período das chuvas (novembro a abril), as condições de trabalho na serraria se tornam ainda mais degradantes, os trabalhadores se molham e ficam expostos ao frio.
No caso dos carregadores, além de serem submetidos às circunstâncias descritas anteriormente, também são subordinados a um trabalho com longo período de exposição ao sol. Por isso, as radiações não ionizantes são um risco físico que acomete principalmente os carregadores de madeira serrada nos caminhões e nos pátios abertos das serrarias, quando a área de carga não é coberta. O trabalho desses carregadores também envolve o carregamento de peças de madeira pesadas, o que sobrecarrega a coluna.
A serra circular e a serra fita são os equipamentos responsáveis pela maioria das mutilações, sendo os equipamentos mais perigosos de uma serraria. A estas são atribuídos perigos, como: amputações de dedos, mãos e membros superiores inteiros, esses dois últimos sendo responsáveis pela maioria dos casos de invalidez (Sobieray et al., 2007 apud Mendoza; Borges, 2016MENDOZA, Z. M. S. H.; BORGES, P. H. M. Segurança do trabalho em serrarias. Multitemas, Campo Grande, v. 21, n. 49, p. 113-139, jan./jun. 2016.).
Os equipamentos de proteção individuais (EPIs) são de extrema importância para a integridade física dos trabalhadores em uma serraria, podendo evitar graves acidentes, como as amputações. Dependendo do tipo de atividade, os principais cuidados são com as seguintes partes do corpo: cabeça, membros superiores, membros inferiores, tronco e vias respiratórias (Mendoza; Borges, 2016MENDOZA, Z. M. S. H.; BORGES, P. H. M. Segurança do trabalho em serrarias. Multitemas, Campo Grande, v. 21, n. 49, p. 113-139, jan./jun. 2016.). Sobre a disponibilização de EPIs, em uma das entrevistas um ex-trabalhador de serrarias relatou que eles ganhavam apenas uma luva e precisavam adquirir por conta própria os outros EPIs, como: botas, avental, viseira, óculos, protetor auricular, máscaras. Nada disso é oferecido pelo empregador.
Acerca da qualificação técnica e profissional para o exercício das funções no trabalho, não existe nenhum programa de qualificação nesse sentido; os trabalhadores são qualificados diretamente por meio da experiência cotidiana, tanto na etapa de exploração quanto na de transformação primária. Essa falta de qualificação técnica profissional é um aspecto ligado a tantas ocorrências de acidentes em áreas de exploração e serrarias locais.
Os espaços de economia básica e primária, a exemplo da atividade madeireira na Amazônia, têm como característica criar postos de trabalho mal remunerados e precarizados. Uma consequência disso são os altos índices de acidentes, sendo que “[...] a indústria madeireira é um dos setores em que mais ocorrem acidentes no trabalho” (Mendoza; Borges, 2016MENDOZA, Z. M. S. H.; BORGES, P. H. M. Segurança do trabalho em serrarias. Multitemas, Campo Grande, v. 21, n. 49, p. 113-139, jan./jun. 2016., p. 118).
Um dos ex-trabalhadores do circuito madeireiro, vítima de acidente de trabalho em uma serraria, relatou em entrevista que seu acidente ocorreu às 9h da manhã, no processo de troca de serra da máquina circular de aproveitamento. Esse trabalhador teve o braço direito amputado em decorrência do acidente.
A gente desligou a máquina, aí nesse intervalo de desligar ela, a gente se afasta, se senta, conversa, até ela parar, só que eu nesse dia não sei o que deu na minha cabeça, pensei que ela tinha parado, só que ela ainda estava rodando, mas eu pensei que ela estava fraca, aí coloquei minha mão no eixo da máquina, no que eu coloquei minha mão no eixo ela puxou meu braço que enrolou no eixo, eu estava com a luva e ela enrolou no eixo que puxou meu braço, a máquina parou e meu braço ficou enrolado no eixo, o gerente correu para ver, ele ia ligar a máquina, mas os meninos não deixaram, até que um deles rodou o eixo ao contrário e meu braço foi soltando quando saiu ele estava todo estraçalhado (informação verbal)5 5 Informação obtida em entrevistas durante a pesquisa em 16 de julho de 2022. .
Na época do acidente, esse trabalhador tinha 19 anos e trabalhava na serraria havia dois anos, ou seja, ele havia sido contratado quando ainda era menor de idade, contrariando totalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), sobretudo devido à natureza do trabalho, degradante e de alto risco, e à insalubridade para o menor. A lei estabelece, como regra geral, que o trabalho é proibido para aqueles que ainda não têm 16 anos completos. Como aprendiz, é permitido o trabalho a partir de 14 anos. Já para trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, a proibição se estende até os 18 anos (Brasil, 1990BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 6 dez. 2022.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/le...
).
O perfil desse ex-trabalhador reflete a realidade de diversos outros trabalhadores das serrarias locais: jovens, pobres, pretos, com baixo nível de escolaridade, alguns sustentam família, vindos da zona rural, estudam no período noturno. Um indivíduo com uma rotina diária extenuante, devido ao trabalho diurno e ao estudo noturno, elevando o grau de cansaço físico e mental, aumenta, assim, a probabilidade de acidentes de trabalho.
A partir das entrevistas, foram percebidos diversos pontos em comum entre o trabalho na etapa de exploração e na etapa de transformação primária, tais como o fato de o trabalho ser desregulamentado, “pesado” (intenso), perigoso e desrespeitar completamente as regras de ergonomia.
Outro ex-trabalhador que também sofreu acidente em uma serraria relatou como o caso aconteceu: “no dia do acidente eu estava substituindo outro rapaz que tinha faltado. Eu imaginava que sabia bem como operar a máquina, tanto é que sempre chamava a atenção dos meninos quando eu via eles (sic) manuseando a serra de forma errada” (informação verbal)6 6 Informação obtida em entrevistas durante a pesquisa em 08 de julho de 2022. . Esse trabalhador havia sido contratado para desempenhar a função de empilhador, porém, em decorrência da ausência do destopador, ele foi incumbido de substituí-lo e teve sua mão direita dilacerada pela correia do destopador, o que lhe causou a perda de dois dedos da mão, além de graves limitações no membro.
O acidente descrito acima ocorreu em 2014, após o período ordinário de trabalho, ou seja, no período de horas extras, quando o esgotamento físico e psicológico do trabalhador já está bem evidente, após uma jornada de 9 horas a 10 horas de trabalho.
As horas extras de trabalho nas serrarias de Nova Esperança do Piriá não seguem os regulamentos legais de extensão, isto é, são definidas pela gerência do empreendimento, prolongando-se até o fechamento de um dado carregamento de madeira, muitas vezes se estendendo até à meia-noite. Em um cálculo simples, somando as 10 horas de jornada diária de trabalho, com as horas extras (das 18h às 24h), têm-se jornadas que chegam a 16 horas. Em uma extenuante jornada como essa, a ocorrência de acidentes torna-se inevitável, devido ao alto grau de fadiga corporal e psicológica do trabalhador.
Esses acidentes ocorrem em decorrência da superexploração da força de trabalho precarizada nesse circuito. O uso de mão de obra precarizada tornou-se o principal ativo no padrão de acumulação capitalista na periferia, conforme comenta Picoli (2006, p. 43 apud Resque, 2013RESQUE, S. P. Exploração madeireira e trabalho análogo ao de escravo no estado do Pará: o caso do Arquipélago do Marajó. 2013. Dissertação (Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2013., p. 28): “[...] na Amazônia, criou-se uma nova categoria de força de trabalho que pode ser identificada devido ser uma massa de: expropriados a marginalizados, marginalizados a explorados, de explorados a superexplorados”.
Na serraria, além de jornadas acima do que estabelece a lei e de intenso trabalho, a remuneração de determinadas categorias de trabalhadores ocorre abaixo do seu devido valor. Atualmente, a jornada é de 10 horas de trabalho/dia (60 horas semanais), acima do que estabelece a lei. A remuneração é calculada sobre a diária de trabalho (R$ 50,00 a diária) e o pagamento é feito semanalmente. É permitido o sistema de vale, e ao longo da semana o trabalhador pode pegar adiantamentos, que são deduzidos do pagamento no final da semana. As quatro semanas somam um salário de R$ 1.200,00 mensal, R$ 12,00 a menos do que o salário-mínimo e muito abaixo ainda se for pensado o valor do salário em relação à jornada.
As implicações à saúde física e mental do trabalhador, submetido a uma jornada de trabalho extenuante, longa e intensa, tornam-se ainda piores devido às horas extras, recorrentes nas serrarias. Em entrevistas com um ex-trabalhador de serraria, este afirmou que era comum a realização de hora extra a noite toda, além da jornada normal de trabalho, quando havia muita encomenda de madeira serrada ou quando era necessário fechar um carregamento de madeira. Ele relatou, ainda, que a hora extra não era obrigatória, havendo a possibilidade de o trabalhador escolher se queria ou não ficar para a hora extra.
As horas extras se estendiam por um período muito superior ao que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho. Acerca do valor da hora extra, em entrevistas com ex-trabalhadores de serrarias, soube-se que o cálculo é feito com base no valor do salário e da jornada normal de trabalho, aspecto também em desacordo com a legislação específica, que determina que a remuneração da hora extra deve ser, pelo menos, 50% superior à hora normal de trabalho, quando se trabalha de segunda a sábado.
Em síntese, recebe-se um salário que, nem de longe, possibilita que o trabalhador consiga repor o desgaste físico e mental que o trabalho longo e intenso lhe inflige. Se o salário não alcança a quantia suficiente para o trabalhador repor o desgaste de sua força de trabalho, identifica-se o caso da superexploração, significa que a força de trabalho está sendo remunerada abaixo do seu valor. Essa é a realidade do capital se apropriando do fundo de vida do trabalhador, superexplorando-o a tal ponto que chega a levar à exaustão completa e à morte (Luce, 2013LUCE, M. S. A superexploração da força de trabalho no Brasil: evidências da história recente. In: ALMEIDA FILHO, N. Desenvolvimento e subdesenvolvimento: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília, DF: IPEA, 2013. p. 145-166.).
A percepção das circunstâncias em que ocorre o trabalho valida a teoria de que os aspectos de superexploração da força de trabalho são verificáveis na organização e na estrutura atual do circuito madeireiro local. Nesse circuito, de fato, pode-se perceber as longas jornadas de trabalho, o trabalho intenso e a remuneração abaixo de seu devido valor. Além disso, o trabalho dá-se em condições de total precarização da sua força de trabalho, com exposição a um elevado grau de periculosidade, sem disponibilização de EPIs e ainda desamparando o trabalhador no período chuvoso do “inverno amazônico”. O conjunto dessas prerrogativas é fundamental para a potencialização do acúmulo de lucros.
Nova Esperança do Piriá é mais um município, dentre outros presentes no arco do desmatamento, na porção oriental da Amazônia, em que a cobertura vegetal natural vem sendo suprimida pela atuação de circuitos espaciais de produção, a exemplo do circuito dos cítricos, em Capitão Poço; circuito do dendê, em Garrafão do Norte; e circuito da soja, gado e eucalipto, em Paragominas. Todos esses têm em comum a primarização da base produtiva local, a exploração das potencialidades sociais e de recursos ambientais e a concentração de renda e recursos, atuando de forma radicular na territorialização da desigualdade e da miséria nessa área de fronteira. Essa é a face do desenvolvimento periférico e desigual orquestrado pela síntese da especialização regional produtiva e pela superexploração dos trabalhadores.
Considerações finais
O objetivo dessa pesquisa não foi apresentar um panorama teórico-metodológico da relação trabalho-saúde, tampouco propor uma instrumentalização na perspectiva da segurança do trabalho. Seu interesse foi averiguar as condições em que o trabalho se dá no circuito madeireiro em estudo, à luz da categoria superexploração da força de trabalho, vislumbrando sua ocorrência e consequências para as massas de sujeitos trabalhadores.
Em face de todos os aspectos levantados na pesquisa que envolve as relações de produção/trabalho circuito madeireiro de Nova Esperança do Piriá, percebeu-se que este trabalho vai além das condições normais de exploração, o que por sua vez configura-se a ocorrência da superexploração da força de trabalho, que se sintetiza a partir do momento em que se submete às massas de sujeitos trabalhadores a uma longa jornada de trabalho, o que reflete em um aumento do tempo de trabalho excedente para além daquele necessário à reprodução do próprio operário, o que reverbera na atrofia da capacidade de reprodução da força de trabalho do sujeito submetido a longas jornadas. Dessa forma, um nítido desgaste da corporeidade físico-psíquica do trabalhador tende a uma piora de suas condições de vida, ao adoecimento e ao esgotamento prematuro de seu tempo de vida.
Além das longas jornadas, um trabalho em ritmo intenso é imposto aos trabalhadores, seja pela pressão da gerência das serrarias, seja pelo grande volume de madeira em tora que chega às serrarias, lotando seus pátios, ou, ainda, pela necessidade de despachar com celeridade a madeira serrada bruta. Os empresários também impõem tais jornadas aos trabalhadores para poderem obter rapidamente o retorno de seus investimentos em insumos, maquinário e instalações, além de obter mais lucro. Para isso, as serrarias funcionam 24 horas por dia, em dois turnos: diurno e noturno.
A intensidade a que a produção é sujeita no circuito depende das demandas dos agentes que controlam o circuito, em que se ampliando a intensidade de trabalho, amplia-se a acumulação de capital. Não há melhorias nos índices de produtividade, mas sim extração de mais-trabalho, com elevação do desgaste físico ao mesmo tempo. A produtividade do circuito madeireiro está diretamente ligada à intensidade do trabalho; a produção passa a requerer mais envolvimento do componente social (trabalho físico/braçal humano).
O trabalhador sujeito a longas e intensas jornadas de trabalho, passando a produzir mais no circuito, observa o valor de sua força de trabalho ser paga abaixo de seu devido valor. Restringindo a capacidade de consumo de bens de consumo: alimentos, vestuário, calçado, saúde, educação etc. capazes de recompor a energia vital (física e mental) do trabalhador. No circuito madeireiro em questão, o salário pago aos trabalhadores nem de longe é capaz de garantir a recomposição do desgaste corporal e mental do trabalho desgastante, tanto nas áreas de exploração, quanto nas serrarias.
Esse quadro de superexploração da força de trabalho em economias periféricas tende a se manter, pois as estruturas econômicas dos países periféricos baseados na produção de primários (de larga demanda de força braçal produtiva e baixa demanda de bens de capital e tecnologia) fundamentam-se na exploração intensa de massas de trabalhadores empobrecidos, de baixa escolaridade e de baixa qualificação técnica.
A atividade madeireira amazônica, como espaço de desenvolvimento periférico, é operacionalizada investindo-se o mínimo de capital e sacrificando-se ao máximo componente social, que passa a envolver-se intensamente no trabalho. Nesse espaço, os atuais padrões de produção não atentam somente contra os elementos naturais, mas também atuam de forma destrutiva sobre o tecido social hegemonizado.
A reprodução do capital na periferia cria estruturas produtivas que desconsideram as necessidades dos produtores, que, para o capital, representam apenas geradores de mais-valia. Na lógica do capitalismo dependente, a percepção que se tem do trabalhador superexplorado está mais atrelada ao seu potencial de produzir valor do que de consumir.
A superexploração da força de trabalho em que se observa o dispêndio da força vital do trabalhador, além de padrões “normais”, de modo a afetar substancialmente os aspectos fisiológico, mental, relacional e psíquico do trabalho humano, é o atual padrão de produção na periferia capitalista. E em face desse padrão de crescimento periférico, a dinâmica econômica interna passa a pautar-se no crescimento econômico desenvolvimentista que, nem de longe, se preocupa com a elevação dos padrões de qualidade de vida interna e que, agindo de maneira contrária ao que estabelece o discurso de progresso e desenvolvimento, só intensifica o quadro de miséria e marginalidade nesses espaços periféricos.
-
1
Que leva em consideração o tempo de vida útil e vida média total, ou seja, o período de vida em que a pessoa apresenta condições de vender sua força de trabalho mais o tempo de aposentadoria.
-
2
Informação obtida em entrevistas durante a pesquisa em 10 de julho de 2021.
-
3
Informação obtida em entrevistas durante a pesquisa em 10 de julho de 2021.
-
4
Informação obtida em entrevistas durante a pesquisa em 10 de julho de 2021.
-
5
Informação obtida em entrevistas durante a pesquisa em 16 de julho de 2022.
-
6
Informação obtida em entrevistas durante a pesquisa em 08 de julho de 2022.
Referências
- ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. 9ª edição. São Paulo: Brasilense, 2012.
- AMARAL, M. S; CARCANHOLO, M. D. A superexploração do trabalho em economias periféricas dependentes. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 12, n. 2, p. 216-225, jul./dez. 2009.
- ANTUNES, R. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018. 325p.
- BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943 Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm Acesso em: 6 dez. 2022.
» https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm - BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm Acesso em: 6 dez. 2022.
» https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm - BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978 Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. Brasília, DF: Ministério do Trabalho, 1978.
- CAGED. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, (ISPER) Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda - dados por município - ajustados. Disponível em: https://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_isper/index.php#. Acesso 13 de junho de 2022.
» https://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_isper/index.php - CARCANHOLO, M. D. O atual resgate crítico da teoria marxista da dependência. Trabalho, educação e saúde, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 191-205, jan./abr. 2013.
- DAL ROSSO, S. Mais trabalho! A intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo: Boitempo, 2008.
- LUCE, M. S. A superexploração da força de trabalho no Brasil: evidências da história recente. In: ALMEIDA FILHO, N. Desenvolvimento e subdesenvolvimento: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília, DF: IPEA, 2013. p. 145-166.
- MARINI, R. M. Dialética da dependência, 1973. In: TRASPADINI, R.; STÉDILE, J. P. (org.). Ruy Mauro Marini: vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 137-180.
- MARINI, R. M. Dialética de dependência: uma antologia da obra de Ruy Mauro Marini. Organização e apresentação Emir Sader. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: Clacso, 2000.
- MARTINS, José de Souza. A reprodução do capital na frente pioneira e o renascimento da escravidão no Brasil. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 6(1-2): 1-25, 1994 (editado em jun. 1995).
- MENDOZA, Z. M. S. H.; BORGES, P. H. M. Segurança do trabalho em serrarias. Multitemas, Campo Grande, v. 21, n. 49, p. 113-139, jan./jun. 2016.
- MENEZES, M. N. A.; GUERRA, G. A. D. Exploração de madeiras no Pará: semelhanças entre as fábricas reais do período colonial e as atuais serrarias. Cadernos de Ciência e Tecnologia, Brasília, v. 15, n. 3, p. 123-145, set./dez. 1998.
- MÉSZÁROS, I. Beyond capital: towards a theory of transition. Londres: Merlin Press, 1995.
- OSORIO, Jaime. Dependência e superexploração. MARTINS, Carlos Eduardo et al. (Orgs.) A América Latina e os Desafios da Globalização São Paulo: Boitempo, 2009.
- OSORIO, J. Fundamentos da superexploração. In: ALMEIDA FILHO, N. Desenvolvimento e subdesenvolvimento: cátedra Ruy Mauro Marini. Brasília, DF: IPEA, 2013. p. 49-70.
- PELIANO, J. C. Acumulação de trabalho e mobilidade do capital Brasília, DF: Editora da Universidade de Brasília, 1990.
- RAIS. Relação Anual de Informações Sociais, (ISPER) Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda - dados por município. Disponível em: https://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_isper/index.php#. Acesso 13 de junho de 2022.
» https://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_isper/index.php - RESQUE, S. P. Exploração madeireira e trabalho análogo ao de escravo no estado do Pará: o caso do Arquipélago do Marajó. 2013. Dissertação (Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2013.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
15 Abr 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
03 Abr 2023 -
Revisado
13 Jul 2023 -
Aceito
13 Dez 2023
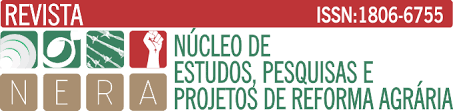








 Fonte: Os autores (2022).
Fonte: Os autores (2022).
 Fonte: Os autores (2022).
Fonte: Os autores (2022).
 Fonte: Os autores (2022).
Fonte: Os autores (2022).
 Fonte: Os autores (2022).
Fonte: Os autores (2022).
 Fonte: Os autores (2022).
Fonte: Os autores (2022).
 Fonte: Os autores (2022).
Fonte: Os autores (2022).
 Fonte: Os autores (2022).
Fonte: Os autores (2022).