RESUMO
O estudo apresenta reflexões acerca dos processos de evocação de memórias entre os congadeiros em Goiânia/GO, a partir da agência dos objetos sagrados - as coroas, as bandeiras e os bastões de mando. Foi desenvolvida pesquisa etnográfica nos festejos da Vila João Vaz entre os anos de 2017 e 2020. Observou-se que o uso dos objetos sagrados pode evocar memórias ligadas à ancestralidade e aos familiares que partiram. Em certos contextos, os objetos são dotados de poderes e configuram-se como instrumentos que possibilitam a comunicação com suas divindades, sejam os santos católicos ou entidades do panteão afro-brasileiro.
Palavras-chave:
Memória; Congada; Cultura Popular; Cultura Negra; Insígnias de Poder
RÉSUMÉ
L'étude présente des réflexions sur les processus d'évocation de mémoires parmi les congadeiros à Goiânia/GO, à partir de l'agence d'objets sacrés - les couronnes, les drapeaux et les mâts de commandement. Une recherche ethnographique a été développée dans les festivités de la Vila João Vaz entre les années 2017 et 2020. Il a été observé que l'utilisation d'objets sacrés peut évoquer des souvenirs liés aux ancêtres et aux membres de la famille disparus. Dans certains contextes, les objets sont dotés de pouvoirs et sont configurés comme des instruments permettant de communiquer avec leurs divinités, qu'il s'agisse de saints catholiques ou d'entités du panthéon afro-brésilien.
Mots-clés:
Mémoire; Congada; Culture Populaire; Culture Noire; Insignes de Pouvoir
ABSTRACT
The study presents reflections on evocation memories processes among the congadeiros in Goiânia/GO, from the agency of the sacred objects - the crowns, flags, and batons of command. The festivities of the João Vaz neighborhood were subject to ethnographic research between the years 2017 and 2020. It was observed that the use of sacred objects can evoke memories linked to ancestry and gone relatives. In certain contexts, objects are endowed with powers and are configured as instruments that enable communication with their deities, whether Catholic saints or entities of the Afro-Brazilian pantheon.
Keywords:
Memory; Congada; Popular Culture; Black Culture; Insignia of Power
Introdução
O estudo apresenta reflexões acerca dos processos de evocação de memórias entre os congadeiros, da festa da João Vaz - Goiânia/GO, a partir do uso de objetos sagrados, durante a realização de seus festejos. As análises desenvolvidas compõem parte da tese de doutorado Memória, ancestralidade e práticas corporais na Congada da Vila João Vaz, produzida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais, na Universidade Federal de Goiás (Carvalho, 2021CARVALHO, Cleber de Sousa. Memória, ancestralidade e práticas corporais na congada da Vila João Vaz. 2021. 296 f. Tese (Doutorado em Performances Culturais) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.).
As congadas ou congados1 1 O termo congada é amplamente difundido no estado de Goiás. Já o termo congado é mais recorrente no estado de Minas Gerais. são manifestações festivas que na atualidade ocorrem em diversas localidades do Brasil, sobretudo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Por meio das performances de seus participantes, observa-se a manifestação de significados, sentidos e memórias da cultura negra que são expressos na oralidade, nos ritos, nos gestos, nas danças, nos cantos, na execução de instrumentos musicais e no uso de objetos sagrados.
O estudo da temática tem despertado o interesse de pesquisadores nas áreas de História, Antropologia, Sociologia, Geografia, Artes Cênicas, Etnomusicologia, Performances Culturais, Educação Física, Ciências da Religião entre outros campos de pesquisa. A produção acadêmica geralmente aborda aspectos referentes às noções de ancestralidade, espiritualidade, memória, tradição, ritual, processos intergeracionais, além de elementos simbólicos e materiais manifestados nos reinados negros.
Embora exista grande diversidade nas características, nas concepções e nas ritualísticas vivenciadas pelos grupos de cada localidade, de forma geral as congadas podem ser percebidas por aqueles que as assistem, por estudiosos da temática e pelos próprios congadeiros, a partir dos desdobramentos de processos interculturais e inter-religiosos entre o catolicismo e as cosmologias africanas.
Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos conforme a localidade, a respeito das pesquisas acerca das congadas na cidade de Goiânia, por exemplo, destacam-se os estudos de Adriane Damascena (2010DAMASCENA, Adriane Alvaro. Saberes e sons: práticas educativas na Congada. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO E CONTEMPORA-NEIDADE, 4., 2010, Laranjeiras. Anais [...]. Laranjeiras, 2010.; 2012DAMASCENA, Adriane Alvaro. Os jovens, a congada e a cidade: percursos e identidades de jovens congadeiros em Goiânia, Goiás. 2012. Tese (Doutorado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.), Alecsandro Ratts (2012)RATTS, Alecsandro. Mito, memória e identidade negra nas congadas do Brasil Central. Comunicação oral. In: CONGRESSO IBÉRICO E ESTUDOS AFRI-CANOS, 8., 2012. Anais [...]. jul. 2012., Luciana Sousa (2016)SOUSA, Luciana Pereira de. Congadas de Goiânia: história, memória e identidades negras (1940-2000). 2016. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016., Odete Costa (2016)COSTA, Odete de Araújo. Entre a cozinha e a mesa, entre altares e rosários: alimentação e relações de gênero nas festas de Reinado e Congadas de Goiânia. 2016. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016., Rosinalda Simoni (2017)SIMONI, Rosinalda Corrêa da Silva. A Congada da Vila João Vaz em Goiânia (GO): memória e tradição. 2017. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2017. entre outros.
No âmbito dos estudos de grupos localizados no estado de Goiás, as produções de Carmem Costa (2008)COSTA, Carmem Lúcia. As festas e o processo de modernização do território goiano. R. RA´E GA., v. 1, n. 16, p. 65-71, jun. 2008., Ana Paula Rodrigues (2008)RODRIGUES, Ana Paula Costa. Corporeidade, cultura e territorialidades negras: a Congada em Catalão - Goiás. 2008. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008., Alecsandro Ratts (2012)RATTS, Alecsandro. Mito, memória e identidade negra nas congadas do Brasil Central. Comunicação oral. In: CONGRESSO IBÉRICO E ESTUDOS AFRI-CANOS, 8., 2012. Anais [...]. jul. 2012. e Sandra da Silva (2016)SILVA, Sandra Inácio da. A congada em Pires do Rio e Catalão: uma manifestação cultural. 2016. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2016. abordam os congadeiros nas cidades de Catalão e região do sudeste goiano; Sebastião Rios, Talita Viana e Carolina Santos (2010RIOS, Sebastião; VIANA, Talita; SANTOS, Carolina. A performance do olhar: como e o que viu Pohl na congada de Santa Ifigênia. In: TEIXEIRA, João Gabriel; VIANA, Letícia C. R. (Org.). As artes populares no planalto central: performance e identidade. Brasília: Verbis Editora, 2010. P. 237-268.), em Niquelândia; Eliene Macedo (2016MACEDO, Eliene Nunes. A dança dos congos da Cidade de Goiás: performances de um grupo afro-brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Performances Culturais) - Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.), na cidade de Goiás, entre outros.
Autores que pesquisaram o congado mineiro também trouxeram contribuições a este estudo no que diz respeito às noções de ancestralidade (Viana; Rios, 2016VIANA, Talita; RIOS, Sebastião. Na Angola tem: Moçambique do Tonho Pretinho. Tubarão: Copiart, 2016.) e às interações entre os elementos simbólicos e materiais do congado (Corrêa, 2018CORRÊA, Juliana Aparecida Garcia. Tem festa de tambor no reinado de Nossa Senhora: performance e agência em torno das coisas congadeiras. 2018. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Minas Gerais, Justinópolis, 2018.; Agostini, 2011AGOSTINI, Camila. A vida social das coisas e o encantamento do mundo na África central e diáspora. Métis: história e cultura, Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul, v. 10, n. 19, p. 165-185, jan./jun. 2011.).
Em Negras raízes mineiras: os Arturos, Núbia Gomes e Edimilson Pereira (2000GOMES, Núbia Pereira de Magalhães; PEREIRA, Edimilson de Almeida. Negras raízes mineiras: os Arturos. Belo Horizonte; Juiz de Fora: Mazza, 2000.) analisaram a vinculação do sagrado com a ancestralidade, as noções de vida após a morte, a importância dos parentes já falecidos, assim como a interpretação do ritual como ponto de ligação entre os vivos e os entes falecidos. Os autores abordaram a comunidade dos Arturos - quilombo hoje praticamente urbano em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte/MG -, apresentando a importância que os congadeiros atribuem à ancestralidade na relação com o sagrado.
Outro estudo acerca do congado mineiro pode ser observado em Os Sons do Rosário: o congado mineiro dos Arturos e Jatobá, de Glaura Lucas (2014)LUCAS, Glaura. Os sons do rosário: o congado mineiro dos Arturos e Jatobá. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.. A autora trabalha com o conceito de paisagem sonora, articulandoo à noção de ritual que permeia o congado dessa região. No estudo, os eventos musicais são compreendidos como formas de evocação de memórias coletivas. Nesse caso, a festa é vista como momento de reatualização da memória, a partir do mito que é revivido pelo rito.
Leda Martins (1997)MARTINS, Leda Maria. Afrografias da memória: o reinado do rosário do Jatobá. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Mazza, 1997. também pesquisou a comunidade congadeira dos Arturos e do Jatobá. Na obra Afrografias da Memória: o Reinado do Rosário no Jatobá, a autora ressalta a reincidência do mito fundador do congado em diferentes grupos que participam da festa, pela constituição de uma gnosis comum. Segundo a autora, apesar das especificidades que compõem as narrativas de cada indivíduo, existe uma congruência nas simbologias que retratam a relação dos negros com a santa e a afinidade exclusiva desta com os aspectos mais tradicionais da festa, como as danças e cantos dos anciões negros e o uso de seus antigos tambores, que serviram como andor para a condução de Nossa Senhora do Rosário.
O conceito de oralitura da memória é apresentado por Leda Martins como a possibilidade de uma oralidade inscrita na memória dos congadeiros que é evocada nos cortejos das guardas. A abordagem da autora contribui com a percepção de aspectos africanos e afro-brasileiros presentes na ritualística da congada que não se efetivam por procedimentos de registro da memória escrita, e sim mediados pela experiência corporal durante as cerimônias.
Outro aspecto discutido pela autora é a noção de encruzilhada ressaltada como um ponto nodal que encontra no sistema filosófico-religioso de origem iorubá uma complexa formulação. Martins (1997)MARTINS, Leda Maria. Afrografias da memória: o reinado do rosário do Jatobá. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Mazza, 1997. destaca a encruzilhada como lugar de intersecções, de cruzamentos e passagens, tendo como mediador e canal de comunicação a figura de Exú. Complementando as reflexões da autora, destaca-se que, além de se constituir como um fundamento do saber filosófico nagô no Brasil, a noção de encruzilhada/cruzamento/cruz trata-se também de um antigo preceito recorrente em alguns grupos de outros Estados-nação africanos, que também lidam com este símbolo pelo entendimento de intersecção entre os planos material e espiritual.
A partir dos autores e conceitos que versam acerca das cerimônias de coroação de reis e rainhas negros no Brasil, este estudo abrange parte das contribuições consolidadas na produção científica vigente. Outrossim, estabelece foco na singularidade do culto bantu às minkisi, que em alguns estudos podem ser obliterados por referências de cosmologias sudanesas que enfatizam, por exemplo, o culto aos orixás e a Exú como perspectiva para referenciar e atribuir legitimidade às manifestações negras.
Quanto às origens das cerimônias de coroação de reis e rainhas negros, vinculam-se a representações, realizadas por negros cativos e libertos, de cerimônias das realezas portuguesas e africanas no contexto da catequização no período colonial (Souza, 2006SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no Brasil escravista: história da festa e coroação de Rei Congo. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.; Viana; Rios, 2016VIANA, Talita; RIOS, Sebastião. Na Angola tem: Moçambique do Tonho Pretinho. Tubarão: Copiart, 2016.).
A festa da João Vaz, foco deste estudo, acontece a partir do segundo domingo de setembro e compõe parte do calendário festivo da congada na cidade de Goiânia e região metropolitana. Além dela, também são realizadas a festa da Vila Santa Helena, a festa da Vila Mutirão e a festa de Goianira/GO. Cada evento possui seu próprio conjunto de participantes, contudo as relações são bastante permeáveis, sendo comum os grupos e indivíduos de diferentes localidades se visitarem durante a realização das festividades.
Durante os festejos, os congadeiros realizam cortejos e cerimônias, celebrando a coroação de reis e rainhas negros, homenageando santos católicos e cultuando entidades espirituais africanas e afro-brasileiras. Nessas ocasiões, as danças, os cantos, a execução de instrumentos musicais, os artefatos sagrados imprimem características particulares nas formas pelas quais se manifestam a fé, a ancestralidade e a evocação de memórias.
Recorrendo a recursos da pesquisa etnográfica (Favret-Saada, 1990FAVRET-SAADA, Jeanne. “Être Affecté”. Gradhiva: Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie, Paris, Musée du quai Brandly - Jacques Chirac, v. 1, n. 8, p. 3-9, maio 1990.) e análises promovidas a partir dos estudos das performances culturais (Bauman, 2014BAUMAN, Richard. Fundamentos da performance. Trad. David Harrad. Revista Sociedade e Estado, Brasília, UnB, v. 29, n. 3, p. 727-746, set./dez. 2014.; Camargo, 2013CAMARGO, Robson Corrêa de. Milton Singer e as performances culturais: um conceito interdisciplinar e uma metodologia de análise. Revista Karpa, Los Angeles, California State University, v. 1, n. 6, p. 1-27, jun. 2013.; Langdon, 1995LANGDON, Esther Jean. Performance e sua diversidade como paradigma analítico: a contribuição da abordagem de Bauman e Briggs. Ilha: Revista de Antropologia, Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, v. 1, n. 94, p. 5-26, set. 1995.), foi desenvolvida pesquisa de campo mediante a observação dos festejos entre os anos de 2017 e 2020 e a realização de entrevistas com os congadeiros. Vale destacar a atribuição do primeiro autor do texto como pesquisador e um dos participantes do terno de congo Verde e Preto, condição que possibilitou a percepção de aspectos intrínsecos à performatividade dos congadeiros frente a seus objetos sagrados.
Nos cortejos e demais ritos realizados pelos congadeiros, observou-se que a oralidade, as práticas corporais - danças, cantos e execução de instrumentos musicais - e o uso de objetos sagrados - coroas, bandeiras e bastões - revelam aspectos identitários dos diversos grupos participantes. Essas práticas e artefatos apresentam formas significativas para a compreensão dos processos de evocação de memórias africanas e afro-brasileiras.
A memória e os objetos sagrados
No âmbito dos estudos da memória, vinculando-se à tradição da sociologia francesa, Maurice Halbwachs prolongou os estudos de Émile Durkheim a respeito da precedência do fato social e do sistema social sobre os fenômenos de ordem psicológica individual. Na linha de pensamento de Durkheim, os estudos da psique e do espírito são deslocados para as funções que representações e ideias dos indivíduos exercem no interior de seu grupo e da sociedade em geral. Dessa forma, a importância que o meio social exerce sobre o indivíduo reconfigura as noções de percepção, consciência e memória compreendidas até então como fenômenos psicológicos.
Tendo sido aluno de Henri Bergson na École Normale Supérieure, em Paris, a partir de sua adesão à escola durkheimiana, Halbwachs (1990)HALBWACHS, Maurice. Memória Coletiva e Memória Histórica. Trad. Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Vértice, 1990. preencheu algumas lacunas deixadas pelo pesquisador, modificando e até rejeitando alguns resultados de suas proposições. Halbwachs avançou a noção de memória a partir da compreensão dos quadros sociais da memória. Assim, ao participar simultaneamente de múltiplos contextos de sociabilidade, como o grupo familiar, o bairro, a escola, a religião, a profissão, entre outros, o indivíduo constitui sua memória considerando os grupos de referência peculiares em sua vida.
A compreensão dos quadros sociais da memória, propostos por Halbwachs (1990)HALBWACHS, Maurice. Memória Coletiva e Memória Histórica. Trad. Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Vértice, 1990., inaugura o conceito de memória coletiva, distanciando-se dos pressupostos de uma memória inconsciente (pura) de Bergson (1999)BERGSON, Henry. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Trad. Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. e caminhando para uma explicação sociológica do fenômeno da memória. Halbwachs ancora a memória do indivíduo à memória de seu grupo social, respectivamente vinculada à memória coletiva de cada sociedade. Destoando de Bergson (1999)BERGSON, Henry. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Trad. Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999., que afirma que o passado é conservado em sua inteireza e autonomia no espírito, Halbwachs (1990)HALBWACHS, Maurice. Memória Coletiva e Memória Histórica. Trad. Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Vértice, 1990. enfatiza a iniciativa que a vida atual do sujeito assume no desenrolar do curso da memória.
A memória coletiva, assim compreendida, pode ser estudada em analogia com a noção de uma memória performatizada, devido à forte dependência da noção de grupo como instância que a promove, sobretudo a partir dos encontros entre aqueles que compartilham de tais memórias.
Além das memórias evocadas na oralidade e na corporeidade dos congadeiros, as representações do reinado e seus objetos rituais - coroas, cetros, instrumentos musicais, bandeiras e bastões de mando - também constituem evocações de memória que promovem a coesão de seus participantes pela identificação coletiva de seus significados.
Em uma acepção materialista, os objetos e artefatos são produzidos atendendo a determinadas funções, motivo pelo qual foram concebidos e geralmente possuem uma vida útil finita. Com o uso, tornam-se gastos ou esgotados e são substituídos. Andrew Jones (2002)JONES, Andrew. Archaeological: theory and scientific practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. contrapõe essa noção de vida útil das coisas apresentando a concepção da existência de uma biografia dos objetos. Nessa perspectiva, os objetos são usados como formas de atribuição de significados à vida das pessoas, construindo e ressignificando identidades culturais. Nesse caso, há uma preocupação com a compreensão das conexões entre a vida das coisas e a vida das pessoas.
Na esteira desse pensamento, entende-se que não há apenas uma biografia possível para as pessoas e para as coisas que elas utilizam em seu cotidiano. Assim como para uma pessoa é possível delinearmos uma biografia familiar, profissional, psicológica, política, entre outras, também é possível a observação de uma biografia física, econômica e social das coisas (Kopytoff, 1986KOPYTOFF, Igor. The cultural biography of things: commoditization as process. In: APPADURAI, Arjun (Ed.). The social life of things: commodities in cultural perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 64-94.).
Ao se debruçar no estudo da biografia dos artefatos, Alfred Gell (1998)GELL, Alfred. Art and agency: an anthropological theory. Oxford: Clarendon Press, 1998. analisa a agência dos objetos partindo do entendimento de que um agente social é considerado aquele que promove o acontecimento dos fenômenos sociais, ou seja, quando há uma intenção no ato.
Atribuindo a noção de agenciamento às coisas, o autor compreende os objetos como autores dentro de uma ação social. Além da autoria nas ações, aos objetos podem ser imputadas inclusive personalidades, como se estes possuíssem autonomia e vontade própria. Não é raro, por exemplo, alguém atribuir nome a seu próprio automóvel, considerando-o uma personalidade particular ou até mesmo conversar com o veículo em uma situação de pane em uma autoestrada.
O agenciamento dos artefatos é discutido por Juliana Corrêa (2018)CORRÊA, Juliana Aparecida Garcia. Tem festa de tambor no reinado de Nossa Senhora: performance e agência em torno das coisas congadeiras. 2018. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Minas Gerais, Justinópolis, 2018. em sua pesquisa a respeito da performance dos objetos dos congadeiros em Justinópolis/MG. A autora abordou os sentidos presentes na ação de trazer de volta à vida emaranhados criativos do mundo dos objetos. Estes se apresentam como um agregado de fios vitais em relação direta com as pessoas e as coisas do mundo. O trazer de volta à vida é um argumento utilizado para ampliar a ideia de agência, quando se procura compreender o status de um acontecer. Para nós, essa visão é cara para a percepção do princípio da ação que atribui ênfase ao plano relacional, ao acontecer quando em contato com algo, ressaltando uma concepção dos processos vitais.
Pensando acerca do uso dos artefatos no congado mineiro, Camila Agostini (2011)AGOSTINI, Camila. A vida social das coisas e o encantamento do mundo na África central e diáspora. Métis: história e cultura, Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul, v. 10, n. 19, p. 165-185, jan./jun. 2011. menciona os brinquedos e objetos rituais como exemplos claros de instrumentos aos quais são conferidas ações intencionais em seu contexto de uso. Nesse caso, o conceito de agência não é apresentado com intuito meramente classificatório e livre de contexto, mas relacional e dependente do contexto.
Os atributos estilísticos comuns expressam valores culturais compartilhados internamente pelos grupos sociais compondo suas fronteiras e definições identitárias. A decoração do objeto é geralmente essencial à sua funcionalidade social e psicológica, não podendo ser dissociada das outras funcionalidades que possui. Os padrões decorativos dos objetos conectam as pessoas às coisas e aos projetos sociais que representam. Dessa forma, a aparência estética dos artefatos é intencional e funcional, sendo raras vezes ocasional.
Cada objeto da congada tem sua história e promove narrativas por meio das recordações, condição imprescindível para o exercício da criação. Nos dizeres de Corrêa (2018CORRÊA, Juliana Aparecida Garcia. Tem festa de tambor no reinado de Nossa Senhora: performance e agência em torno das coisas congadeiras. 2018. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Minas Gerais, Justinópolis, 2018., p. 17), “[...] os pertences [dos congadeiros] atravessam e sobrevivem às gerações, [...] e se tornam verdadeiras relíquias”. A ideia de relíquia carrega os sentidos decorrentes da grande estima das pessoas por tais peças, assim como estreita a relação com seus antepassados.
Mary Beaudry (1996)BEAUDRY, Mary et al. Artifact and active voices: material culture as social discourse. In: ORSER JR, Charles E. (Ed.). Images of the recent past: readings in historical archaeology. Orlando: Altamira Press, 1996. P. 272-310. nos auxilia nessa proposição ao considerar ativa a relação entre os comportamentos e o mundo material. Os artefatos, então, constituem-se em objetos ricos em significados que participam das relações sociais que são mediadas por atitudes e comportamentos do passado. Nesse caso, ao invés de considerar os objetos como atores sociais, sua acepção é a de serem meios de comunicação e expressão que condicionam e controlam a ação social.
Seja apresentando-se como atores sociais ou como meios de comunicação e expressão, as relíquias da congada ganham ação social tornando-se componentes fundamentais nas ações simbólicas. Dessa maneira, passam a participar ativamente da dinâmica das interações sociais.
Como destaca Souza (2006)SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no Brasil escravista: história da festa e coroação de Rei Congo. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006., mantos, cetros e coroas são emblemas de origem portuguesa que representavam ideias e sentimentos que transcendiam sua materialidade como insígnias de poder. Nos antigos reinos africanos, símbolos de nobreza e poder espiritual também compunham as cortes durante os atos de guerra e nas embaixadas entre reinos africanos e europeus. Apesar da presença de arquétipos portugueses nos reinados negros do Brasil, a coroação de reis e rainhas em seus festejos podem vincular-se às cerimônias de coroação do soba2 2 Soba é o nome dado aos chefes das aldeias da atual região de Angola, desde o tempo pré-colonial. Na atualidade se apresentam como líderes comunitários ancestrais que conduzem a vida da comunidade usando a sua experiência e o conhecimento transmitido ao longo de gerações. (grande senhor) realizada por diversas nações bantu na África centro-ocidental (Souza, 2006SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no Brasil escravista: história da festa e coroação de Rei Congo. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.).
Nas irmandades do rosário dos escravos e forros prevaleciam objetivos, formas de funcionamento e códigos de conduta similares a outras associações religiosas. No caso das irmandades negras, entretanto, houve uma integração de valores culturais africanos a esses procedimentos, como por exemplo a escolha de um rei congo e uma rainha conga e a celebração de suas coroações.
Conforme já mencionado, há grande diversidade de costumes na formação dos reinados festivos em diferentes localidades do país. As irmandades negras no Brasil geralmente são organizadas em torno de reinados ou pelas cortes do rosário, formadas por rei, rainha, juízes, juízas, mordomos, entre outras funções. Existem reinados compostos por reis e rainhas perpétuos, reinados eleitos ou sorteados anualmente e até reinados de promessa e devoção. Comentando acerca das funções do reinado na atualidade e dos processos de sucessão dos cargos, o capitão Tiago Melo, do terno catupé Dourado, comenta:
O rei e a rainha são uma hierarquia da parte festiva, são a força maior ali. A voz maior é do rei e da rainha. Aí tem o príncipe e a princesa que vão ocupar o cargo do rei e da rainha quando chegarem a faltar [falecerem], porque eles são uma coisa perpétua, eles ficam ali até chegar o dia de faltar. Quando chegarem a faltar, pega o príncipe e coloca no lugar do rei e a princesa no lugar da rainha e colocam outros no lugar do príncipe e da princesa, para mais na frente estarem tomando posse do cargo. Aí vem o general, e repassa as ordens para os capitães. Essa aí é a parte do reinado na festa (Entrevista Tiago Melo, realizada em 05/01/2020).
Mais do que uma autoridade que atua nas tomadas de decisão da festa e de sua comunidade, o sentido de força do reinado ao qual o capitão se refere pode ser percebido no elo de ligação do grupo com a ancestralidade.
Na festa da João Vaz, o rei e a rainha são cargos perpétuos sucedidos por vínculo hereditário ou por escolha da mesa diretiva da irmandade. Não há um sistema de eleição claramente definido, embora a decisão passe por um processo de aprovação interno da irmandade.
Durante os cortejos, o reinado é conduzido atrás de todos os ternos. Existe a representação da realização de um exercício de guerra, da peregrinação de um reino no qual o poder maior segue protegido por seus exércitos.
A questão do reinado ir atrás é porque é o seguinte, diz que quando a gente vai levando o nosso reinado a gente tá indo pra uma guerra. Então o rei vai onde? O reinado vai onde? Aonde fica protegido. Na época medieval o rei nunca ia na frente, falava tudo, dava as ordens, mas ele estava lá resguardado. É a mesma coisa, nessa mesma linhagem. Tem lá o batalhão de elite que, vamos dizer, que protege, se tudo lencar [der errado], que é o Moçambique, e tem os outros, que também vão pra guerra. Essa é uma comparação meio com lógica com a congada (Entrevista André Araújo, realizada em 27/01/2019).
Na atualidade, como práticas residuais das antigas embaixadas centroafricanas, recorrentes no continente africano durante o período colonial, além das cerimônias que acontecem explicitamente em torno do reinado, durante os preparativos da festa da João Vaz é comum a realização de visitas dos festeiros de cada edição aos capitães e demais lideranças de outras irmandades. Rememorando os atos diplomáticos e bélicos praticados pelas embaixadas de antigos reinos africanos, essas visitas, geralmente mediadas por membros do reinado, são vistas como necessárias para o fortalecimento das relações e para a resolução de conflitos entre diferentes comunidades de congada. Visam enfatizar o comprometimento com a fé e com a tradição, ressaltando a solidariedade mútua e a corresponsabilidade na organização e participação na festa.
A agência dos objetos: as coroas, as bandeiras e os bastões de mando
Quanto às vestimentas do reinado, à indumentária do rei e da rainha acrescenta-se o uso de coroas, que, acompanhadas pelos mantos azuis - a cor do manto de Nossa Senhora do Rosário - ressaltam a imagem de nobreza e poder do reinado. Contudo, além das coroas que ornamentam as cabeças do rei e da rainha congos, outra coroa também assume destaque na festa, à qual são dedicadas diversas cerimônias. Trata-se da coroa da festa, o objeto que é repassado entre os casais festeiros de cada edição, indicando o início de um novo ciclo do evento.
Assim como o reinado (perpétuo) constitui-se em uma instância de poder simbólico para o grupo, a coroa da festa também assume um papel sagrado, sem incorrer em prejuízo no prestígio e importância do rei e rainha congos. Diferentemente do que acontece em festejos de outras localidades, para a assunção da função do casal festeiro na festa da Vila João Vaz é imprescindível que os/as candidatos/as sejam membros da congada e tenham o reconhecimento do grupo para tal empreitada. Essa condição decorre do fato de que, assim como o reinado negro, os festeiros também necessitam de legitimação pela vinculação hereditária ou pela atuação - presente ou passada - como capitães, dançadores ou bandeirinhas3 3 Funções desempenhadas pelos congadeiros durante os festejos. .
Ao comentar a respeito da coroa da festa, o capitão Tiago Melo destaca que,
[...] a coroa a gente tem como a coroa santa, que fica ali pra gente passar para os próximos festeiros. Então o ano todo, desde quando ele pega, que recebe a coroa, até o dia que ele faz a entrega da coroa para o próximo festeiro, fica com os festeiros. Então ali é o símbolo da coroa de Nossa Senhora. A gente tem ela como uma força maior ali na festa. A gente tem ela como a coroa santa, a coroa de Nossa Senhora (Entrevista Tiago Melo, realizada 05/01/2020).
A natureza da constituição dos sentidos da coroa é dada pela concepção de um objeto divino vindo dos céus, a própria coroa de Nossa Senhora do Rosário. É de conhecimento de todos que a coroa da festa foi comprada em uma loja, contudo, a percepção de seu poder a coloca em lugar específico dentro do conjunto dos rituais pela compreensão de seus poderes místicos. Na festa da Vila João Vaz, enquanto o reinado estabelece os poderes no reino terreno, a coroa representa os poderes do reino celeste.
Pra mim a coroa é o símbolo máximo da festa. Ela que foi descida dos céus. A coroa de Nossa Senhora. Ela que é a chave da irmandade, no caso das irmandades no Brasil inteiro. A coroa é o ciclo onde se começa e se encerra a edição das festas. A coroa nunca anda sozinha, por conta de ser esse símbolo maior da realeza, do reino divino, do reino dos céus. Pra mim, capitão Fabrício, sem a coroa não tem festa, porque ela é a coroa de Maria, a nossa mãe protetora, a qual a gente leva o nome de Nossa Senhora do Rosário. Quem pega ela assume um grande compromisso não só com o pessoal aqui da terra, mas com os anjos também, os anjos que acompanham Nossa Senhora. Porque, quem faz a festa, em meu modo de ver, está abrindo um feixe de luz de fé no mundo (Entrevista Fabrício Alves, realizada em 07/01/2020).
A coroa da festa é digna das mesmas honrarias dispendidas ao reinado, contudo suas funções rituais distinguem-se na medida em que, para a primeira, é enfatizada uma noção de poder espiritual, enquanto nas funções do reinado da festa da Vila João Vaz prevalece a noção de um poder social e político4 4 Isso não constitui uma regra nas congadas e congados. Na região metropolita-na de Belo Horizonte, por exemplo, o trono coroado, as rainhas e reis congos perpétuos têm ligação direta com a presença do poder espiritual na festa. . Isso não significa, entretanto, que a coroa não exerça papel importante na confirmação da sociabilidade ou que não haja atuação espiritual por parte do reinado.
À direita, a coroa da festa da João Vaz e, à esquerda, a almofada para o seu transporte, 2019. Fonte: Acervo do pesquisador.
Assim como a coroa é compreendida como um elo de ligação para a continuidade da festa, a presença do rei e da rainha - mesmo quando não trajam suas indumentárias - e suas decisões nos momentos mais litúrgicos e sagrados também são percebidas como uma afirmação do poder espiritual do grupo. Contudo, enquanto os sentidos a respeito do reinado são enfatizados pela força de um poder terreno, afeito à sucessão hereditária e às decisões políticas da comunidade, sobre a coroa recai um papel de poder mágico e espiritual.
O símbolo maior na festa é a coroa. O santo é Nossa Senhora do Rosário, mas o símbolo maior é a coroa, que é a coroa de Nossa Senhora do Rosário. Por isso ela é passada de festeiro pra festeiro, ela é carregada, ela é toda guardada. Você pode ver que ela não vai na frente de terno nenhum. Ela é um símbolo que vai atrás dos ternos. Porque os mais antigos dizia[m] que nós dançadores somos soldados, por isso que tem um capitão, entendeu? E quando a gente vai para a guerra, a gente tem que levar aquela coroa em segurança, aí somos nós que entramos. Se alguém fizer alguma coisa na encruzilhada e você vir com a coroa na frente, o que acontece? Então, a coroa vai atrás porque a gente vai indo dançando, pedindo, limpando o caminho para dar proteção, por isso que ela é um dos símbolos maiores. Por isso que ela é passada. Ela é o símbolo que dá continuidade na festa, porque a passada dela de festeiro para outro festeiro é a continuidade [a garantia de] que vai ter a festa do ano que vem (Entrevista André Araújo, realizada em 27/01/2020).
O uso da coroa como símbolo de realeza foi introduzido na África pelos europeus, porém não desbancou os símbolos tradicionais da chefia de cada cultura - geralmente gorros tecidos de fibras que tinham formas variadas e que entre os congoleses se chamavam mpu. Mesmo como insígnia eminentemente europeia, na entronização dos reis portugueses a coroa não ocupava o lugar de destaque que tinha o mpu na entronização dos reis africanos. A historiografia realça o aspecto laico das aclamações em Portugal, onde nem o sacerdote, nem a coroação faziam a ligação entre o rei e Deus (Souza, 2006SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no Brasil escravista: história da festa e coroação de Rei Congo. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.).
Eleitos no seio das irmandades leigas, cuja estrutura assimilou referências de Portugal, os reis negros da América portuguesa adotaram o uso da coroa, assumindo parcialmente o símbolo europeu da realeza, que remetia à ligação do poder temporal com o poder divino. Por outro lado, o uso do mpu pelos nobres africanos vinculava-se mais à noção de poder divino, uma vez que, havendo evidências da perda dessa força, o líder era substituído.
Apesar de não ser ritualmente confeccionada como os bastões de mando, a coroa pode ser compreendida como um nkisi5 5 Nkisi (singular) e minkisi (plural) são termos de origem quimbundo que se referem ao uso de objetos na relação com o sagrado e às formas de culto geralmente recorrentes na África centro-ocidental. , como um objeto que incorpora as qualidades daquilo que representa. A identificação de santos católicos com minkisi integrantes da religiosidade baconga existiu na África antes de se desenvolver na América portuguesa. Desde os primeiros tempos da conversão, as imagens católicas foram incorporadas ao catolicismo africano, nele desempenhando funções dos minkisi.
Imagens de santos católicos que tinham funções de amuletos e mesmo a coroa, símbolo do poder do rei e da sua ligação com o sobrenatural, eram objetos utilizados em rituais das festas de reis negros, nas quais as coroações também podem ser associadas a práticas africanas tradicionais.
A bandeira é outro objeto que recebe a atenção dos congadeiros na realização de suas cerimônias. Assim como a coroa assume a centralidade simbólica durante a cerimônia de sua entrega para os próximos festeiros, à bandeira também são destinados ritos específicos, como a levantação6 6 Ao invés do termo levantamento, a expressão levantação é mais comum para a denominação dessa cerimônia na Festa da João Vaz. e a descida da bandeira, que demarcam os momentos de início e encerramento da festa.
A bandeira de Nossa Senhora e São Benedito, que a gente levanta no dia da levantação do mastro, na levantação da bandeira, é o símbolo de que a festa começou. A partir daquele momento já é festa, já está com os batalhões reunidos pra dançarem e louvarem Nossa Senhora. A levantação do mastro no sábado, que é o dia que aqui a gente faz, eu tenho como um dia muito especial. Se eu faltar na levantação da bandeira, eu tenho pra mim como eu não cumpri com minhas obrigações na festa (Entrevista Tiago Melo, realizada em 05/01/2020).
A levantação da bandeira, também denominada como levantação do mastro7 7 Embora os termos bandeira e mastro possam derivar sentidos e significados distintos, neste contexto serão mencionados como sinônimos. , anuncia o início da festa para os ternos de congada. Trata-se de um dos momentos de muita alegria na festa, geralmente realizado com uma grande queima de fogos e a participação simultânea de todos os ternos.
A bandeira da festa na Vila João Vaz apresenta a imagem de Nossa Senhora do Rosário em um dos lados e, do outro, a imagem de São Benedito. É erguida sobre um grande mastro, onde permanece durante a festa até o momento de sua descida.
O uso do mastro em festas religiosas é conhecido em todo o território nacional. O corte, o transporte, o enfeitar e o levantamento do mastro são acompanhados de cerimônias religiosas e alegres. Alguns cantos entoados louvam o santo da bandeira hasteada. O mastro levantado mostra o santo e aponta para o céu infinito, tornando-se assim um importante símbolo do sagrado. Em dias de festa, o mastro representa o eixo da terra e o centro do mundo, conectando os mundos material e espiritual. Assim como ocorre na festa da João Vaz, a descida do mastro é geralmente a última cerimônia de festas religiosas populares.
Um mordomo do mastro, substituído a cada edição da festa, é encarregado de enfeitá-lo com papel colorido. É da casa do mordomo que partem os cortejos que conduzem a bandeira até o pátio da capela em que será levantada. A alegre cerimônia do levantamento do mastro é feita com muito respeito, pois o mastro e a bandeira simbolizam a fé do povo.
Além da bandeira da festa, cada terno de congada possui sua própria bandeira, que é conduzida durante os cortejos. Alguns grupos chegam a possuir mais de uma bandeira, contudo a maioria dos ternos participantes da festa da João Vaz possuem apenas uma bandeira, na qual se observa a imagem do santo de devoção e o nome do terno. Como afirma o capitão Fabrício Alves:
A bandeira, cada terno tem a sua. Alguns carregam a estampa de Nossa Senhora do Rosário, outros carregam a imagem de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Mas, aqui no meu terno, a gente carrega a imagem de Nossa Senhora do Rosário. A bandeira é a guia do terno pra gente. Onde a bandeira vai, o batalhão vai atrás, porque é ela que guia. Como a gente leva a estampa de Nossa Senhora é ela que guia a gente. [...] Algumas pessoas põem um agrado na bandeira, um dinheiro, cinco reais, dez reais, o tanto que quiser pra estar ajudando. Esse dinheiro é revertido para a ornamentação da própria bandeira do terno, a roupa das bandeirinhas, essas coisas (Entrevista Fabrício Alves, realizada em 07/01/2020).
Bandeira do terno moçambique São Benedito, festa da João Vaz, 2019. Fonte: Acervo do pesquisador.
As bandeiras do terno são conduzidas pelas bandeirinhas, que seguem à frente dos batalhões. Recebendo as atribuições de proteção e identificação dos diferentes grupos, a bandeira funciona como um escudo que protege os participantes e acompanhantes do terno de qualquer mal ou enfermidade que os possa acometer.
A bandeira que a gente leva no batalhão é muito importante porque ali a gente está levando a imagem de Nossa Senhora. Então ali é a proteção do terno, é a proteção do grupo todo. Ela vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando toda coisa ruim que possa estar no nosso caminho. A bandeira também vai na frente, mostrando a quem estamos dançando, a devoção que a gente tem. Então a bandeira para o terno de congo é a peça chave. Sem ela o terno está indo de peito aberto, desprotegido. Sempre de manhã, antes de sair com meu povo eu vou lá, canto pra bandeira, beijo ela, peço a Nossa Senhora pra ir abrindo os caminhos, tirando todo o mal que possa estar encontrando no caminho e a bandeira vai ali na frente quebrando tudo (Entrevista Tiago Melo, realizada em 05/01/2020).
Durante a festa, além da proteção que proporciona aos participantes e acompanhantes, outro poder atribuído à bandeira é o de promover a cura de enfermos nas visitas que são realizadas pelos ternos. É comum que famílias com vínculos às tradições da congada solicitem aos capitães a visita de seus batalhões.
A gente passa de casa em casa. Se é solicitada uma visita, a bandeira para na casa e o terno tem que parar também pra poder abençoar aquela família, aquele lugar, aquela morada. A bandeira passa nas casas pra levar as bênçãos, como se Nossa Senhora estivesse visitando as casas pra levar as bênçãos, a cura de uma enfermidade através da fé da pessoa, prosperidade, uma promessa que a pessoa fez de receber um terno em casa e a gente vai ao encontro dessas pessoas levando a fé e a resignação sempre (Entrevista Fabrício Alves, realizada em 07/01/2020).
Os donos da casa geralmente oferecem cafés da manhã, lanches e às vezes apenas um refrescante copo d´água, conforme as condições financeiras da família. O que nunca falta é a recepção calorosa e emocionada, na maioria das vezes acompanhada de muitas lágrimas, devoção, sentimentos de saudade dos que partiram e satisfação pelos reencontros.
A bandeira é o símbolo que reflete Nossa Senhora. Ela é a Nossa Senhora pra gente que carrega a estampa dela. Por isso, onde ela vai, os ternos vão atrás. Uma peregrinação, né. A gente fica nessa peregrinação, dançando e louvando Nossa Senhora do Rosário. Então onde a bandeira vai, a casa que ela passa pode ter certeza que a pessoa, a família recebe muitas bênçãos, recebe muita prosperidade, caminhos abertos por ser uma coisa divina. O que é até difícil de explicar, mas é o que acontece (Entrevista Fabrício Alves, realizada em 07/01/2020).
A bandeira é recebida pelos donos da casa que percorrem, junto a uma bandeirinha, as quinas dos cômodos da casa, distribuindo as bênçãos de Nossa Senhora do Rosário e livrando os moradores de quaisquer desventuras.
A percepção dos poderes atribuídos a estes objetos sagrados revela uma cosmovisão na qual a ideia de força, cura e milagre podem ser compreendidas pela restituição de equilíbrio por meio da manipulação de energias do cosmos. A bandeira do terno é compreendida como um instrumento de cura, um objeto com poderes místicos que podem ser manuseados pelos capitães em prol daqueles que necessitam de sua intervenção.
Aqui no meu terno, quando a gente vai passar em uma encruzilhada, na esquina a gente sempre dá a [coreografia] meia-lua pra espantar os maus, pra fechar aquele círculo, para que não haja coisa ruim contra nosso terno. Aquelas engruvinhas [conflitos] que o povo antigo fala, aqueles quebrante [mal de ordem espiritual] e tudo. Quando chega na encruzilhada, a bandeira não passa na encruzilhada enquanto o terno não faz a meia-lua. Depois que a gente faz, a bandeira segue a esquina, justamente pra isso, porque ela é a guia do terno. Então se ela passa e o terno fica de cá, corre o risco do terno pegar alguma coisa. Na saída nossa aqui, os dançadores beijam a bandeira, que é pedindo a proteção de nossa senhora, pedindo a guia dela, que ela seja a nossa guia dia e noite sem cessar. Que ela esteja com a gente, porque a gente está ali por ela. Que ela esteja com a gente pra tudo correr bem (Entrevista Fabrício Alves, realizada em 07/01/2020).
Outro objeto sagrado que compõe os festejos da congada são os bastões de mando, utilizados pelos capitães. Os bastões levados pelos capitães são importantes instrumentos rituais compartilhados pelos ternos. Além de ser um símbolo de poder e comando para quem o conduz, é por meio dos bastões que os capitães controlam o terno e defendem os seus participantes, incluindo parentes e amigos que acompanham o grupo nos cortejos. Conforme relatos de alguns capitães que participam da festa da João Vaz, seus bastões servem para a proteção do terno a fim de evitar algum feitiço e outros males que podem acometer os dançadores, por exemplo, algum desconforto físico que afete um ou mais membros do grupo prejudicando sua performance. Nos dizeres do capitão Fabrício Alves:
O bastão do capitão é um símbolo de comando dentro do terno. É por ele que as pessoas de fora conseguem identificar quem é o comandante daquele terno. O bastão é um símbolo de comando desde a história de Moisés com o cajado. Ele sempre foi um símbolo de comando. E o bastão da congada traz o segredo da ancestralidade também. A energia ancestral de cada terno e que cada capitão carrega. É com ele que, quando tem alguma demanda espiritual contra o terno, quando tem algum embaraço, é com ele que o capitão abre o portal energético da ancestralidade para aquilo ser quebrado. É com ele que a gente chama os pretos-velhos pra dentro da congada. Então o bastão é a principal arma de um capitão (Entrevista Fabrício Alves, realizada em 07/01/2020).
A compreensão do bastão, como uma espécie de portal ou caminho de passagem entre os mundos material e espiritual, é também relatada pelo Sr. Juranda, ao apresentar o mito fundador da congada no videodocumentário Na Angola Tem (2016), de Talita Viana e Sebastião Rios, que pesquisaram o congado em Itapecerica/MG.
E ele pegou o bastão e começou a cantar pra ela: Ô minha mãe, este meu bastão é de jacarandá, que virou pinguela pra senhora passar. Agora eu peço a senhora, pelo amor de Deus, queira me acompanhar. Aí ele pegou e afastou e a Nossa Senhora acompanhou ele até a capela (Viana; Rios, 2016VIANA, Talita; RIOS, Sebastião. Na Angola tem: Moçambique do Tonho Pretinho. Tubarão: Copiart, 2016.).
A madeira da árvore jacarandá, considerada um pau forte, é comparada, então, à força do bastão e do capitão que o manuseia. Os bastões são instrumentos rituais que possuem múltiplas atribuições nos cortejos das festas, sendo necessários inclusive condutas e gestos específicos em seu manuseio, sobretudo durante a condução da coroa.
O bastão tem N funções. É com ele que se protege a coroa. De um lado é a espada de um guarda coroa e do outro lado um bastão. Só que em vários lugares se cruzam dois bastões ainda. Não se usa espada pra guardar a coroa. Usam dois bastões pra cruzar, pra fazer a guarda. Então o bastão serve pra muita coisa dentro da congada, mas principalmente esse símbolo de comando e essa energia espiritual que ele carrega. Às vezes um terno não está conseguindo sair do lugar, tá meio que amarrado, que é a expressão dos antigos, tá encantado... O capitão que tem um conhecimento ancestral, ele chega em uma encruzilhada ou ele chega no lugar que estiver acontecendo isso e bate o bastão no chão três vezes e pede permissão para aquela entidade que é dona daquela encruzilhada, pra passar. Quem tem visão consegue ver, consegue enxergar e até conversar: ‘Oi cumpadi, deixa eu dar uma passadinha aí’. E aquele que não tem, mas sabe que existe o dono naquela estrada, naquela encruza [encruzilhada], ele pede também a permissão batendo o bastão. Então o bastão cria portais de passagem, mas ele te dá o comando (Entrevista Fabrício Alves, realizada em 07/01/2020).
O relato de Fabrício Alves é observado também na obra de Viana e Rios (2016)VIANA, Talita; RIOS, Sebastião. Na Angola tem: Moçambique do Tonho Pretinho. Tubarão: Copiart, 2016., na qual Deco, segundo capitão do moçambique de Tonho Pretinho, refere-se ao procedimento de bater o bastão no chão para se comunicar com as entidades espirituais. Considerando que os seres do mundo espiritual atuam também no mundo material, durante os cortejos os capitães identificam os lugares onde estas forças atuam para mediarem o equilíbrio de forma a assegurar o êxito de seu grupo na conclusão de suas tarefas.
Capitão do congo Real de Ituiutaba/MG, entoando canto com seu bastão na festa da João Vaz, 2019. Fonte: Fotografia de Fábio Alves.
Além do poder de proteção, outro poder igualmente associado ao bastão é a capacidade de prejudicar alguém ou algum grupo de congada. Conforme relata Patrícia Costa (2012)COSTA, Patrícia Trindade Maranhão. As Raízes da Congada: a renovação do presente pelos filhos do Rosário. Curitiba: Appris, 2012., que pesquisou o congado na Serra do Salitre/MG, assim como o bastão pode desmanchar um feitiço e proteger o grupo ao lado dos amuletos e orações, o objeto também possui a capacidade de atrapalhar outro terno, comprometendo a sua performance durante as festas e às vezes acarretando até em sua extinção, decorrente de conflitos internos entre os participantes.
O bastão, ele é o volante do terno. A força do bastão, ela é muito grande porque ele que corta os embaraços, é ele que dita para onde o terno tem que ir. É ele que marca o ritmo. Então assim, a força do bastão..., ele é como se fosse o volante. Ele em uma mão errada vai levar o terno a fazer coisas erradas e ele na mão certa vai levar o terno a fazer a coisa certa, né? Porque ele é um símbolo de respeito, não vou dizer de poder, mas de respeito mesmo, de autoridade, né? Então esse é o símbolo do bastão. Porque, na verdade mesmo, o bastão ele tem que ser energizado. O bastão, para muitos, pode ser só um pedaço de pau, né? Mas antes da festa toda ele tem que ter um certo preparamento, ele tem que ter certo..., uma certa ligação, ele tem que ser benzido (Entrevista André Araújo, realizada em 27/12/2019).
Para elucidar melhor a questão a respeito de se fazer o bem ou o mal, recorremos à experiência compartilhada pela Yalorisá Jane Ti’Omolu (in memoriam), em sua casa de candomblé de matriz ketu, Ilé Alaketu Asé Igben Bale, em Aparecida de Goiânia/GO. Em certa ocasião, Mãe Jane comentou que nas religiões negras o importante é fazer o bem. Contudo, para fazer o bem é necessário aprender também como fazer o mal. Isso não significa que o mal deverá ser praticado, mas, para que este seja desmanchado, é necessário o conhecimento acerca de como foi feito para assim fazer a aplicação das medidas mais eficazes.
Os bastões de mando da congada guardam semelhanças com os minkisi da África centro-ocidental. Nessa região os bastões de mando eram minkisi que incorporavam as qualidades de entidades divinas e serviam como meios de contato com o mundo espiritual. Seu uso na atualidade dos festejos de coroações de reis e rainhas negros é consequência da transmissão de saberes envolvendo sua feitura, significação e tratamento ritual, diretamente ligado às culturas africanas por gerações anteriores e até mesmo pela comunicação com entidades espirituais ancestrais da congada.
Observa-se, nos entalhes de alguns bastões, a presença de figuras humanas ou de animais, adornando suas formas junto a contas e rosários que são amarrados em seu corpo. Com essas figuras, entalhadas geralmente na cabeça do instrumento, esses bastões zoomorfos ou antropomorfos não são tão comuns nas festas. Há relatos entre os congadeiros da cidade de Catalão/GO afirmando que os padres locais costumam criticar a configuração desses bastões. Interferindo nas formas que materializam concepções e cosmologias de origens africanas e afro-brasileiras, os padres repudiam esses bastões, enaltecendo apenas aqueles que são adornados por insígnias mais facilmente vinculadas ao catolicismo litúrgico, dentre elas os rosários e imagens de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.
Tipo de bastão antropomorfo com a imagem de Zé Pelintra, do capitão Tonho Pretinho, do moçambique em Itapecerica/MG. Fonte: Viana & Rios (2016)VIANA, Talita; RIOS, Sebastião. Na Angola tem: Moçambique do Tonho Pretinho. Tubarão: Copiart, 2016..
Bastão com a imagem de Nossa Senhora do Rosário e detalhe com a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Dançadora do moçambique Ogum Beira-Mar na festa da João Vaz, 2019. Fonte: Acervo do pesquisador.
Alguns capitães recorrem a consultas espirituais às suas entidades de proteção pessoal ou do terno que comanda. É comum que, nos períodos que antecedem as festas, alguns capitães busquem orientações a respeito dos procedimentos prévios a serem realizados e até mesmo se o terno terá a permissão para participar daquele evento.
É por meio do aprendizado junto às entidades espirituais, assim como pelas relações entre gerações, que também se aprende a fabricar o bastão. Sua confecção é tarefa primordial daquele que se tornará comandante. Ela não consiste apenas na manufatura do objeto, mas em sua preparação, tornandoo apto à defesa do grupo. Preparar o bastão significa, portanto, dotá-lo de poderes pela realização de rituais específicos sobre o objeto, por meio de práticas que foram transmitidas pelos mais velhos e pelas entidades espirituais.
As capacidades sagradas são incorporadas aos instrumentos rituais durante sua fabricação, consistindo na produção do objeto juntamente à sua preparação. A força dos instrumentos rituais não é, portanto, uma capacidade intrínseca desses objetos. Apesar de serem fabricados uma única vez, podem ser periodicamente preparados para sua utilização durante as festas.
Além dos processos de fabricação dos bastões, outra forma de adquiri-lo é pela doação de algum capitão mais velho, quando ocorre não apenas a sucessão do objeto, mas também da força espiritual ancestral a ele vinculada.
O bastão é a força do capitão, toda a força dele está ali naquele bastão. Então ele tem um carinho muito grande, uma responsabilidade muito grande no bastão que carrega. O bastão fica com o capitão até o dia em que ele faltar [falecer]. E se ele quiser, se ver que tem algum outro capitão mais novo que tem o merecimento de conquistar aquele bastão, de ter aquele bastão com ele, o capitão faz a doação para um capitão mais novo. Mas tem muitos capitães que veem que ali não tem um capitão com capacidade pra ter o seu bastão, pra carregar aquele bastão, aí quando ele falece leva junto com ele. O bastão é o cabelo de Sansão pra Sansão. Sem o bastão o capitão praticamente não é nada. Eu mesmo, sem o meu bastão eu não consigo fazer muita coisa não (Entrevista Tiago Melo, realizada em 05/01/2020).
Entre os capitães que participam da festa da João Vaz, é comum o relato da passagem do bastão a um sucessor do legado do terno. A escolha é feita a partir da sabedoria dos velhos capitães que, antes de falecerem, identificam entre os mais novos aquele que está predestinado a continuar a missão, aquele que possui a mesma potencialidade espiritual necessária para a condução do batalhão.
Em certa ocasião da festa da João Vaz, em 2019, o capitão Fabrício Alves relatou que desde os seis anos de idade já era incentivado a assumir temporariamente o comando do terno, entoando cantigas durante algumas visitas. Foi também com essa idade que recebeu a sucessão de comando de seu avô, à época capitão do terno catupé Vermelho e Branco na cidade de Três Ranchos/GO. Conforme o relato de Fabrício, alguns dias antes do falecimento de seu avô, este convocou os parentes para uma reunião de família. Ele se lembra que em dado momento seu avô o chamou ao centro da roda, colocou seu bastão nas mãos do neto e pediu-lhe que cantasse uma música de congo para o vovô. Não se intimidando com a situação, o netinho entoou sua cantiga preferida, que foi apreciada por todos os presentes. Orgulhoso pelo feito, em seguida seu avô lhe disse que o bastão seria dele assim que crescesse um pouco e assumisse o comando de seu batalhão.
Compreendidos como uma das relíquias da congada, os bastões são tidos como objetos pessoais que devem ser manuseados apenas pelos seus próprios donos. Em Afrografias da Memória (1997), Leda Martins traz o relato do rei congo José dos Anjos, do congado mineiro da região do Jatobá, a respeito dos cuidados que seu pai dispensava ao instrumento.
[...] ele tinha um ciúme daquilo, não permitia ninguém pôr a mão. Trazia ele sempre guardado num canto do guarda-roupa fechado. Acabava a festa ele enrolava ele, aquele bastão, amarrava aquele papel por fora e guardava ele. Se mamãe fosse fazer uma limpeza no guarda-roupa, se falasse com ele, ele tirava o bastão, ele não deixava nem ela pôr a mão [...] tinha assim aquele preceito, o preceito que aquilo era perigoso (Martins, 1997MARTINS, Leda Maria. Afrografias da memória: o reinado do rosário do Jatobá. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Mazza, 1997., p. 95).
Diante das capacidades que detêm, os bastões recebem os cuidados necessários para o seu empoderamento, desde a sua confecção até o momento em que seu dono não se encontrará mais em condições de manuseá-lo, situação na qual ele deverá ser repassado a um sucessor ou terá o mesmo destino que o corpo de seu falecido dono. Os congadeiros reconhecem no bastão a força dos ancestrais, dos antepassados e da tradição.
Os bastões diferenciam-se do uso das varas e cajados que também compõem o acervo de instrumentos utilizados por alguns batalhões, como no caso dos vilões8 8 Assim como os moçambiques, congos, catupés, marinheiros e penachos, os vilões também se constituem como um dos tipos de guarda/grupo/terno de congada. . Conforme mencionado por diferentes capitães, o uso das varas e cajados os vinculam mais aos aspectos performáticos presentes nas danças do que aos sentidos do sagrado atribuídos aos bastões. Apesar de participarem dos conteúdos simbólicos que delimitam os aspectos identitários de cada tipo de guarda, as varas e cajados não são detentores da força dos bastões e não recebem os mesmos cuidados de preparação e fundamento ritual.
Por meio da noção de ancestralidade, fé e da transmissão de conteúdos entre gerações, o reinado e as diversas relíquias da congada são reconhecidos como símbolos de poder espiritual e social que evocam memórias. São compreendidos como insígnias reais pelo papel místico que desempenham e pelos atributos de nobreza que adornam suas formas e indumentárias. Para compreendermos o sagrado a partir do papel das coisas em relação com os corpos, devemos pensá-los como agentes, como protagonistas das performances. Nos dizeres de Juliana Corrêa (2018CORRÊA, Juliana Aparecida Garcia. Tem festa de tambor no reinado de Nossa Senhora: performance e agência em torno das coisas congadeiras. 2018. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Minas Gerais, Justinópolis, 2018., p. 198):
Isso representa ter em mente que tanto o discurso narrativo quanto a prática incorporada são detentoras de sentido. [...] o que se revela é que elas também estabelecem comunicações próprias, de coisa para coisa. Neste lugar, há uma inversão na relação de pessoas e coisas, onde as pessoas se tornam os mediadores das relações por meio de seus corpos, que servem de aporte para dar vida às coisas, e permitir que um conteúdo seja comunicado pelas coisas. Tanto o corpo quanto as coisas assumem lugares próprios e, simultaneamente, extensões: o objeto se torna uma extensão do próprio corpo e o corpo como extensão do objeto.
Nos processos de evocação da memória na congada observam-se composições sagradas corpo-coisa-memória, formadas por instâncias que interagem na produção de significados. É na primazia do corpo, como linguagem constituída a partir de um conjunto de signos que são recorrentes e ressignificados há várias gerações - ainda que como práticas residuais do passado -, nas danças, nos cantos, nos batuques e na interação com os objetos sagrados, que os congadeiros sentem a inervação do corpo em contato com a ancestralidade.
Na interação entre as coisas e os corpos, memórias, lembranças e esquecimentos são suscitados. Como narradores de suas histórias, a textura de cada artefato entra em contato com a pele de seu portador, remodelando-o e sendo remodelado. A incorporação das tradições da congada como acontecimento é fruto da fricção entre corpos e coisas congadeiras. Os corpos-coisamemória são revelados em performances como mediadores de novos acontecimentos, permitindo que o passado possa ter algo a dizer ao presente, fazendo emergir narrativas ainda não ditas pela história.
Considerações finais
Os festejos da congada são imbricados pela diversidade gnosiológica, sobretudo de africanos bantu - mas também sudaneses -, europeus e americanos nativos, e o conjunto de suas celebrações revela uma redefinição da noção de cultura negra nos contextos colonial e pós-colonial. A diversidade de vínculos culturais e formas de se relacionarem com o sagrado encontram na festa um lugar comum, onde as diferenças coexistem - embora não isentas de tensões - e múltiplos significados são vivenciados e compartilhados em uma relação que só acontece em sua completude mediante a multivocalidade que se manifesta nas cerimônias.
Considerando-se a produção acadêmica sobre a temática abordada, a singularidade deste estudo procura ressaltar a diversidade de referências religiosas/culturais africanas e afro-brasileiras que compõem a cultura negra no Brasil, entre elas o culto aos minkisi - decorrente do grande tronco linguístico cultural bantu, na África centro-ocidental -, o culto aos orisás - que descende de regiões onde vivem povos yorubá, na atual Nigéria -, bem como o culto aos voduns - oriundo de regiões dos povos fon, no atual Benim. Nesse sentido, o estudo revelou entre os congadeiros da Vila João Vaz a manifestação de aspectos simbólicos especialmente inter-relacionados ao culto de santos católicos e ao culto de minkisi.
Os sentidos atribuídos pelos congadeiros ao uso de bastões de mando e outros objetos pessoais herdados de capitães falecidos (botões da farda, chapéus, instrumentos musicais), assim como as formas de lidarem com o sagrado, de cultuarem suas entidades espirituais, de admirarem e preservarem a memória de seus antepassados, principalmente durante as festividades, ressaltam a reincidência de aspectos já observados em antigas cosmologias congolesas. A manifestação de tradições de acepção sudanesa na Congada, mencionada em alguns estudos, quando ocorre na festa da João Vaz, constituem-se expressões isoladas e de contexto recente, que não interferem no processo ritualístico dos festejos.
Os objetos e artefatos, como os bastões de mando, a coroa, as bandeiras e até instrumentos musicais compõem a ritualidade da festa. Seus usos e significados evocam memórias ligadas à ancestralidade e à reverência aos familiares que partiram. Os objetos são dotados de poderes e configuram-se como instrumentos que possibilitam a comunicação com suas divindades, sejam os santos católicos ou entidades do panteão afro-brasileiro.
Disponibilidade dos dados da pesquisa:
o conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo está publicado no próprio artigo.
Este texto inédito também se encontra publicado em inglês neste número do periódico.
Notas
-
1
O termo congada é amplamente difundido no estado de Goiás. Já o termo congado é mais recorrente no estado de Minas Gerais.
-
2
Soba é o nome dado aos chefes das aldeias da atual região de Angola, desde o tempo pré-colonial. Na atualidade se apresentam como líderes comunitários ancestrais que conduzem a vida da comunidade usando a sua experiência e o conhecimento transmitido ao longo de gerações.
-
3
Funções desempenhadas pelos congadeiros durante os festejos.
-
4
Isso não constitui uma regra nas congadas e congados. Na região metropolita-na de Belo Horizonte, por exemplo, o trono coroado, as rainhas e reis congos perpétuos têm ligação direta com a presença do poder espiritual na festa.
-
5
Nkisi (singular) e minkisi (plural) são termos de origem quimbundo que se referem ao uso de objetos na relação com o sagrado e às formas de culto geralmente recorrentes na África centro-ocidental.
-
6
Ao invés do termo levantamento, a expressão levantação é mais comum para a denominação dessa cerimônia na Festa da João Vaz.
-
7
Embora os termos bandeira e mastro possam derivar sentidos e significados distintos, neste contexto serão mencionados como sinônimos.
-
8
Assim como os moçambiques, congos, catupés, marinheiros e penachos, os vilões também se constituem como um dos tipos de guarda/grupo/terno de congada.
Referências
- AGOSTINI, Camila. A vida social das coisas e o encantamento do mundo na África central e diáspora. Métis: história e cultura, Caxias do Sul, Universidade de Caxias do Sul, v. 10, n. 19, p. 165-185, jan./jun. 2011.
- BAUMAN, Richard. Fundamentos da performance. Trad. David Harrad. Revista Sociedade e Estado, Brasília, UnB, v. 29, n. 3, p. 727-746, set./dez. 2014.
- BEAUDRY, Mary et al. Artifact and active voices: material culture as social discourse. In: ORSER JR, Charles E. (Ed.). Images of the recent past: readings in historical archaeology. Orlando: Altamira Press, 1996. P. 272-310.
- BERGSON, Henry. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Trad. Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- CAMARGO, Robson Corrêa de. Milton Singer e as performances culturais: um conceito interdisciplinar e uma metodologia de análise. Revista Karpa, Los Angeles, California State University, v. 1, n. 6, p. 1-27, jun. 2013.
- CARVALHO, Cleber de Sousa. Memória, ancestralidade e práticas corporais na congada da Vila João Vaz 2021. 296 f. Tese (Doutorado em Performances Culturais) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.
- CORRÊA, Juliana Aparecida Garcia. Tem festa de tambor no reinado de Nossa Senhora: performance e agência em torno das coisas congadeiras. 2018. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Minas Gerais, Justinópolis, 2018.
- COSTA, Carmem Lúcia. As festas e o processo de modernização do território goiano. R. RA´E GA, v. 1, n. 16, p. 65-71, jun. 2008.
- COSTA, Odete de Araújo. Entre a cozinha e a mesa, entre altares e rosários: alimentação e relações de gênero nas festas de Reinado e Congadas de Goiânia. 2016. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.
- COSTA, Patrícia Trindade Maranhão. As Raízes da Congada: a renovação do presente pelos filhos do Rosário. Curitiba: Appris, 2012.
- DAMASCENA, Adriane Alvaro. Saberes e sons: práticas educativas na Congada. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO E CONTEMPORA-NEIDADE, 4., 2010, Laranjeiras. Anais [...] Laranjeiras, 2010.
- DAMASCENA, Adriane Alvaro. Os jovens, a congada e a cidade: percursos e identidades de jovens congadeiros em Goiânia, Goiás. 2012. Tese (Doutorado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.
- FAVRET-SAADA, Jeanne. “Être Affecté”. Gradhiva: Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie, Paris, Musée du quai Brandly - Jacques Chirac, v. 1, n. 8, p. 3-9, maio 1990.
- GELL, Alfred. Art and agency: an anthropological theory. Oxford: Clarendon Press, 1998.
- GOMES, Núbia Pereira de Magalhães; PEREIRA, Edimilson de Almeida. Negras raízes mineiras: os Arturos. Belo Horizonte; Juiz de Fora: Mazza, 2000.
- HALBWACHS, Maurice. Memória Coletiva e Memória Histórica Trad. Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Vértice, 1990.
- JONES, Andrew. Archaeological: theory and scientific practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- KOPYTOFF, Igor. The cultural biography of things: commoditization as process. In: APPADURAI, Arjun (Ed.). The social life of things: commodities in cultural perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 64-94.
- LAGAMMA, Alisa. Kongo: power and majesty. The Metropolitan Museum of Art. New York; New Haven; London: Yale University Press, 2015.
- LANGDON, Esther Jean. Performance e sua diversidade como paradigma analítico: a contribuição da abordagem de Bauman e Briggs. Ilha: Revista de Antropologia, Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, v. 1, n. 94, p. 5-26, set. 1995.
- LUCAS, Glaura. Os sons do rosário: o congado mineiro dos Arturos e Jatobá. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
- MACEDO, Eliene Nunes. A dança dos congos da Cidade de Goiás: performances de um grupo afro-brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Performances Culturais) - Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.
- MARTINS, Leda Maria. Afrografias da memória: o reinado do rosário do Jatobá. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Mazza, 1997.
- RATTS, Alecsandro. Mito, memória e identidade negra nas congadas do Brasil Central. Comunicação oral. In: CONGRESSO IBÉRICO E ESTUDOS AFRI-CANOS, 8., 2012. Anais [...] jul. 2012.
- RIOS, Sebastião; VIANA, Talita; SANTOS, Carolina. A performance do olhar: como e o que viu Pohl na congada de Santa Ifigênia. In: TEIXEIRA, João Gabriel; VIANA, Letícia C. R. (Org.). As artes populares no planalto central: performance e identidade. Brasília: Verbis Editora, 2010. P. 237-268.
- RODRIGUES, Ana Paula Costa. Corporeidade, cultura e territorialidades negras: a Congada em Catalão - Goiás. 2008. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008.
- SILVA, Sandra Inácio da. A congada em Pires do Rio e Catalão: uma manifestação cultural. 2016. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2016.
- SIMONI, Rosinalda Corrêa da Silva. A Congada da Vila João Vaz em Goiânia (GO): memória e tradição. 2017. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2017.
- SOUSA, Luciana Pereira de. Congadas de Goiânia: história, memória e identidades negras (1940-2000). 2016. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.
- SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no Brasil escravista: história da festa e coroação de Rei Congo. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
- VIANA, Talita; RIOS, Sebastião. Na Angola tem: Moçambique do Tonho Pretinho. Tubarão: Copiart, 2016.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
06 Out 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
24 Jan 2023 -
Aceito
05 Jun 2023
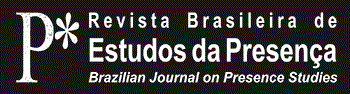










 Fonte: Acervo do pesquisador.
Fonte: Acervo do pesquisador.

