RESUMO
As Poéticas Caminhantes do Bumba Meu Boi Maranhense: a cena brincante na festa de São Marçal – O texto examina o ato de caminhar como prática inventiva e sua provável experimentação na festa de São Marçal em São Luís, Maranhão. Para isso, a pesquisa mira nas poéticas moventes, produzidas pelos grupos de Bumba Meu Boi, que apresentam as ocorrências sensíveis e especificidades estéticas da Festa de São Marçal, no que tange às demais festividades juninas ocorridas no estado. Além disso, aborda o corpo brincante, considera sua expressividade festiva e caminhante como estado de criação possível e evidencia uma poética inventiva, viva e vivida na temporalidade espiralar que produz trocas coletivas e experimentações caminhantes no acontecimento investigado.
Palavras-chave:
Bumba Meu Boi; Caminhada; Brincadeira Popular; Maranhão; Festa de São Marçal
RÉSUMÉ
Les Marcheurs Poétiques de Bumba Meu Boi Maranhense: la scène brincante du festival de São Marçal – Le texte examine l’acte de marcher comme pratique inventive et sa probable expérimentation au festival São Marçal à São Luís, Maranhão. Pour cela, la recherche vise la poétique émouvante, produite par les groupes de Bumba meu boi qui présente les occurrences sensibles et les spécificités esthétiques de la Festa de São Marçal, en relation avec les autres festivités de juin qui se sont déroulées dans l’État. De plus, il aborde le corps ludique, considère son expressivité festive et errante comme un état de création possible, et met en lumière une poétique inventive, vivante et vécue dans la temporalité en spirale qui produit des échanges collectifs et des expérimentations errantes dans l'événement investigué.
Mots-clés:
Bumba meu Boi; Marcher; Blague Populaire; Maranhão; Festa de São Marçal
ABSTRACT
Walking Poetics of the Bumba Meu Boi from Maranhão: the brincante scene in the feast of São Marçal – This text examines the action of walking as an inventive practice and its probable experimentation in the feast of São Marçal in São Luís, Maranhão. To do so, the research focuses on the moving poetics produced by the Bumba Meu Boi groups that present the sensitive occurrences and aesthetic specificities of the feast of São Marçal, in relation to other June festivities in the state. Additionally, it addresses the brincante body, considering its festive and walking expressiveness as a possible state of creation, and highlights an inventive poetics, alive and living in the spiral temporality that generates collective exchanges and walking experiments in the investigated event.
Keywords:
Bumba Meu Boi; Walk; Popular Play; Maranhão; Feast of São Marçal
Introdução
A festa de São Marçal é uma festividade que acontece anualmente no dia 30 de junho, na cidade de São Luís, Maranhão. Ela é praticada como encontro de, aproximadamente, 25 grupos de Bumba Meu Boi de Matraca, que se reúnem pelas ruas do bairro do João Paulo. Nesse contexto, os Bois de Matraca1
1
O Boi de Matraca, também conhecido como Boi da Ilha, é oriundo da região metropolitana de São Luís, precisamente, e em maioria, na zona rural de São Luís, de Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. A respeito dos que organizam e vivenciam a brincadeira do Bumba Meu Boi, em geral provêm de várias partes da região metropolitana, residindo, em sua maioria, nos bairros periféricos, ou, quando não, nas áreas rurais.
, em especial, são relevantes dentro da dinâmica existencial da festa, sobretudo por serem caminhantes há mais de 90 anos2
2
As primeiras apresentações datam do ano de 1929.
. Ao ocupar a Avenida, que leva o nome do santo festejado, enveredam pela experimentação da rua, manifestadas pelo cantar-dançar-batucar (Ligiéro, 2011LIGIÉRO, Zeca. Batucar-cantar-dançar: desenhos das performances africanas no Brasil. Aletria – Revista de estudos da Literatura, Belo Horizonte, v. 21, n. 1, p. 00-00, 2011. Available at: https://periodicos.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/18430. Accessed on: Sep. 11, 2021. DOI: https://doi.org/10.17851/23172096.21.1.133-146
https://periodicos.ufmg.br/index.php/ale...
), entre outros verbos festivos – andar, correr, cruzar, girar, parar, atravessar – que compõem a gramática relacional da brincadeira3
3
A prática cultural Bumba Meu Boi é conhecida por algumas denominações. Na presente pesquisa utilizo os termos: Bumba Meu Boi, Bumba Boi, Boi e brincadeira como equivalentes e em concordância com as pessoas do universo pesquisado, que utilizam essas expressões para nomear o que fazem.
.
Pensando assim, este texto mira o campo festivo como possibilidade de conhecer particularidades desse universo cultural; uma delas diz respeito à caminhada como ação inventiva a partir das movimentações praticadas no decorrer da festa de São Marçal. Nesta pesquisa, a intenção maior foi a de discorrer sobre o caminhar para além de sua prática funcional e utilitária. Seguindo esse objetivo, buscarei evidenciar as ações caminhantes experimentadas, bem como apontar como o ato de caminhar é potencializado e tido como elemento indispensável à dinâmica festiva e brincante de São Marçal4 4 Ressalto que a dinâmica festiva etnografada é anterior ao período pandêmico deflagrado no Brasil a partir de março de 2020. .
Além disso, esta investigação propõe ainda discutir aspectos históricos de perseguição e proibições sofridos pelos brincantes de Bumba Meu Boi, a fim de conhecer e propor reflexões acerca dos motivos que fazem da Festa de São Marçal uma celebração de grande relevância para a brincadeira do Boi. Também interessa descrever as paisagens habitadas pelo corpo brincante a partir de uma compreensão que destaca o brincar como motor de criação e existência festiva, capaz de criar novas relações e experiências sensíveis e afetivas.
Compreendido isso, vale comentar sobre o modo como esta escrita foi sendo construída. A forma encontrada de contar a festa tem como base rastros e vestígios da minha vivência caminhante. Por conta disso, a experiência de vagar pela paisagem festiva de São Marçal foi um exercício de escrita, criado a partir de “um ponto de vista em movimento e imersa nas dinâmicas do território” (Careri, 2017, p. 18CARERI, Francesco. Caminhar e parar. Translated by Aurora Fornoni Bernardini. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 2017.). Tal entendimento, trazido pelo pesquisador caminhante Francesco Careri, só foi possível porque pratiquei o caminhar na festa, tocando seu chão, sentindo sua densidade, ações que me colocavam à deriva para idear outros percursos metodológicos. Esses e demais elementos significativos merecem destaque, pois apontam o contexto espetacular característico da festa.
Dito isso, o tom de ensaio que, por vezes, é acionado e experimentado aqui se configura como proposição, dentre várias, de fundar uma prática de escrita em profunda correspondência com o fenômeno investigado e os desdobramentos que moveram meu processo investigativo, festivo e caminhante. Nesse caso, a movimentação da caminhada se colocou como ação primordial incorporada à escrita que propõe formas de materializar tais possibilidades. Sob esse aspecto, a caminhada moveu muito dos meus dizeres, em que cada passo dado, foi transformado em palavra, imagem e texto, cuja ação de gerar escritas sensíveis se mostrou uma experiência importante. Portanto, o presente texto é um exercício de entendimento, escuta, escrita, tentativa e deambulação que busca compreender as camadas da festa de São Marçal. Todavia, esta escrita não dá conta do campo de experiência e afetação em que a festa potencialmente se transforma.
As/os fazedoras/es da festa de São Marçal: as/os brincantes de Bumba Meu Boi
A partir de agora serão apresentados aspectos da condição social e espacial da brincadeira do Boi. Compreendo ser relevante discutir tal contexto por situar as expressões poéticas como testemunhas e indícios das construções sociais e políticas vividas. Dito isso, o cenário histórico dos grupos de Bois de Matraca será pontuado, como modo de evidenciar e refletir partes do universo coletivo, repleto de significações, ancestralidade, saberes e fazeres, mediados pelas estratégias e conflitos vivenciados no espaço público de São Luís5 5 Ainda sobre a nomeação dessa seção, quando menciono as/os fazedoras/as da festa estou dando destaque e referenciando os grupos de Bois de Matraca como um dos seus principais agentes. O que não significa, no entanto, que eles sejam os únicos a organizar e manter a festa de São Marçal. Existe uma rede complexa de demais produtores responsáveis, como moradores do bairro do João Paulo, setor público estadual e municipal, entidades privadas e demais interessados. .
De maioria negra, em sua composição demográfica, a presença marcante dos negros e negras na formação da sociedade maranhense é facilmente percebida pelas suas contribuições no campo das expressões culturais. Partindo desse entendimento, a prática espetacular do Bumba Meu Boi de Matraca é realizada e mantida, em maior parte, por grupos sociais vulneráveis economicamente. São homens e mulheres que trabalham em subempregos ou que se encontram em situação de desemprego.
Por isso, o Bumba Meu Boi pode ser lido como expressão de um universo singular, que traz internamente cosmovisões e revelam o modo como o grupo social em questão vê, compreende e dá sentido ao mundo. Além disso, aponta a brincadeira como símbolo de um intenso processo de luta, negociação e resistência, comprometido com o fazer comunitário, com o prazer de estar junto, cuja necessidade expressiva contraria o pensamento colonial de exploração e apropriação da vida, que gera uma leitura de mundo monológica, descrita, segundo o educador Luiz Rufino (2019)RUFINO, Luiz. Pedagogia das encruzilhadas. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2019., como racista/capitalista/cristão/patriarcal/moderno.
Para compreender um pouco desse processo, o foco da discussão se move agora em direção aos aspectos históricos do Bumba Meu Boi maranhense, em especial ao contexto vivido na capital6 6 Não se trata aqui de tecer uma análise esmiuçada das possíveis origens da brincadeira, não é isso que busco fazer aqui. Nesse caso, a tarefa consiste em apontar para um recorte histórico, partindo do período repressivo e proibitivo sofrido pelos grupos de Bois, a fim de descrever e analisar as formas de opressão vividas pela população negra na capital maranhense. . Numa das passagens do Dossiê para o registro do Bumba Meu Boi como Patrimônio Cultural, elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2011, p. 23IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão. Dossier of registration as Cultural Heritage of Brazil. São Luís: Iphan/MA, 2011.), tal período mencionado é assim descrito
[...] ao longo de, pelo menos, dois séculos, o Bumba passou por várias fases. De vítima de preconceito no século XIX, por ser considerado brincadeira de ‘arruaceiros’, essa expressão cultural desfruta, atualmente, de grande prestígio junto à sociedade maranhense. A trajetória do Bumba meu boi, a despeito da obrigação de solicitar autorização policial para sair às ruas até os anos 60 e da ameaça de seu desaparecimento, na década de 70 do século passado, é exemplar, se considerarmos que a brincadeira se manteve viva graças ao seu poder de reelaboração a partir dos elementos dados pelo contexto em que está inserida.
O texto do IPHAN, que tomo inicialmente por base, localiza diferentes momentos da história do Boi maranhense pelas ruas, becos e vielas de São Luís. A trajetória descrita é feita de conjunturas adversas, sinalizando, de início, práticas de intensa perseguição, resultando, inclusive, na proibição do Boi de ser dançado em espaços públicos, como assinala, por exemplo, a Lei n° 775, de 04 de julho de 1866, que instituiu o Código de Postura de São Luís.
A partir da criação de leis, licenças, portarias e códigos pelas autoridades policiais e governamentais, as proibições à brincadeira ficaram mais intensas e severas. Botar o boi7 7 Expressão bastante usual entre as/os brincantes. na rua era permitido somente com autorização e longe da área central da cidade, ficando reservado apenas o espaço rural e periférico da capital para festejar. As limitações espaciais e formas de disciplinamentos estiveram presentes nos dias de Boi desde o final do século XIX, perdurando durante o século XX.
Esse breve panorama da condição social da brincadeira é importante descrever para conhecermos os processos de ressignificação, experimentados pelo Bumba Meu Boi. Nessa conjuntura, as narrativas hegemônicas legitimavam as relações de poder que visavam inferiorizar a população negra, maioria no estado, desde o período da colonização e da escravidão. O pensamento da época estava focado em opiniões, geradoras dos mais diversos estigmas, condenando a brincadeira no plano simbólico e também no seu corpo ritual e ancestral, revelando situações que os/as brincantes viviam e resistiam duramente em seus cotidianos.
Como exemplo, apresento a fala do senhor José Costa de Jesus, conhecido como Zé Paú8 8 O relato de Zé Paú, ex-cantador do Bumba Boi da Madre Deus, encontra-se no livro: Memória de velhos (Maranhão, 1997). Esse volume, em especial, destina-se aos relatos de alguns líderes do Bumba Meu Boi, traçando um panorama da brincadeira nas décadas de 1940 e 1950. , denunciando que “[...] certa vez escutei na Rádio Educadora9 9 Emissora de rádio AM, sediada em São Luís, Maranhão. [e] falavam mal da brincadeira, que não tinha êxito porque era feita por pessoas pobres, pretas, feias e analfabetas” (Maranhão, 1997, p. 168MARANHÃO (State). Memória de velhos. Depoimentos: uma contribuição à memória oral da cultura popular maranhense. v. 5. São Luís: lithograf, 1997.). A fala do brincante ilustra o processo de marginalização enfrentado pelas pessoas do Boi. Situação como a descrita endossa os inúmeros relatos de criminalização da brincadeira, reforçando a colonialidade do saber e poder direcionada ao Bumba Meu Boi10 10 É importante mencionar que essas proibições e demais impedimentos não eram unanimidade entre as autoridades, imprensa, polícia e sociedade maranhense. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/Mem%C3%B3ria_de_velhos_Aliete_Ribeiro_ de_S%C3%A1.html?id=ChUsAAAAYAAJ&redir_esc=y. Acesso em: 14 jan. 2023. .
Talvez por conta da opressão sofrida, a brincadeira fosse experimentada, a partir desse período, como mecanismo de reinvenção possível, capaz de manifestar, nas narrativas operadas, predominantemente pela linguagem oral e corporal, compreensões de mundo que fundamentam o campo de lutas, diante das situações de controle, regulamentadas pelas autoridades locais e suas narrativas hegemônicas. De acordo com o historiador Luiz Antônio Simas (2019, p. 86)SIMAS, Luiz. O corpo encantado das ruas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019., essas pessoas “[...] inventam cotidianamente maneiras de construir no perrengue seus espaços de lazer, sobrevivência e sociabilidades”.
Não por acaso, acompanho o caminho traçado por Simas (2019)SIMAS, Luiz. O corpo encantado das ruas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019. como entendimento acerca do ato de festejar como modo singular de compreender a vida social, como complexa, inventiva e sensível. Nesse sentido, o intuito deste texto é saber mais acerca das táticas (Certeau, 1994CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.) elaboradas pelos/as brincantes como respostas às tentativas de aniquilação simbólica e físicas, ditadas pelas políticas neoliberais do necropoder (Mbembe, 2018MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Translated by Renata Santini. São Paulo: N-1 edições, 2018.).
Atualmente, o Bumba Meu Boi é uma manifestação bastante valorizada no estado, elevada à categoria de símbolo cultural maranhense por excelência. Tal centralidade simbólica decorre da mudança no tratamento dos agentes público e privado, ao longo do tempo, principalmente pelo interesse em transformar a manifestação em bem simbólico com fins mercadológicos e turísticos. Posteriormente, a brincadeira foi incluída, também devido a fatores outros, no processo de salvaguarda e obtenção do título de Patrimônio Cultural pelo Iphan, ocorrido no ano de 2011IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão. Dossier of registration as Cultural Heritage of Brazil. São Luís: Iphan/MA, 2011.; e de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) desde 2019.
Contudo, apesar do contexto aparente de valorização da brincadeira, torna-se imperativo explanar, de forma geral, que alguns processos de silenciamento ainda são vivenciados pelos/pelas brincantes, assumindo novas reformulações. O que chamou minha atenção é que as práticas atuais são mais difíceis de perceber, por serem mais veladas e implícitas. Mas, ao lançar o olhar atentamente para o campo simbólico, econômico, político e cultural da brincadeira, as imposições assumem contornos mais nítidos11 11 Um dos exemplos diz respeito à forma como os Bois são contratados para participar da temporada junina pelo estado e município. Nesse caso, a brincadeira precisa participar de uma seleção pública via edital, o que não traz nenhum estranhamento. A questão é que, para se inscrever no certame, o Boi é obrigado a ter um CNPJ. Esse fator inviabiliza a participação de pequenos grupos de Bois, pois a burocracia exigida demanda tempo e custos para que a brincadeira seja formalizada. O governo estadual e municipal, por sua vez, não cria alternativas, como oficinas e consultorias, para tornar os trâmites mais fáceis para os grupos de Bois menores. Sem o cachê pago pelas apresentações nos arraiais da cidade, a brincadeira não tem como se manter. Logo, não se terá recursos para tirar e manter um CNPJ. .
Diante de tal conjuntura, novas posturas são assumidas pelos/pelas brincantes como efeito dos diálogos e ações com as demandas atuais. A esse respeito, novas formas de se relacionar são maneiras encontradas pela brincadeira para se manter viva e atuante no cenário cultural maranhense. A conjuntura descrita interfere, como se sabe, diretamente nos processos criativos e nas expressões estéticas da brincadeira. Ao evidenciar essa relação, o caráter artístico deflagra a riqueza das formas plurais de fazeres e das poéticas elaboradas, geralmente encontradas no cotidiano árduo e desafiador das/dos brincantes.
Para uma melhor compreensão dos elementos artísticos e do jogo lúdico do brincar do Boi, o próximo tópico tratará das características dos elementos da cena brincante, cujo interesse também se direciona às funções dos/das brincantes, vestimentas e posto que destacam as especificidades e seus repertórios inventivos contidos no grupo. Diante disso, preciso dizer que meu olhar é abrangente e não dá conta da complexidade que esses elementos assumem e se relacionam com os/as brincantes, podendo manifestar outros sentidos e usos não conhecidos e/ou comentados nesta investigação.
A poética cênica do Boi de Matraca
No campo cênico, existe uma diversidade de personagens que os/as brincantes assumem dentro do Bumba Meu Boi, que na brincadeira também recebe o nome de posto ou função12 12 No decorrer deste artigo não usarei o termo personagem, por entender que, no contexto de criação cênica do Boi, o brincante não representa, e sim brinca. Para isso, adotei as palavras função ou posto. Sendo esta última uma designação bastante usual entre os brincantes (Borralho, 2012). . Tal aspecto evidencia composições específicas e modos de atuação que cada brincante tem, variando conforme o estilo adotado pelo grupo. Aliado a isso e ao contexto inventivo do Boi, o/a brincante cria, treina13 13 No contexto do Boi maranhense, a palavra treino é bastante usual no contexto investigado e se refere ao momento no qual os/as brincantes ensaiam no período anterior à temporada junina. e improvisa, com base no repertório comum do seu posto, para em seguida incorporar em sua encenação trejeitos, gestos, intenções, movimentos ou outras possibilidades criativas. Para apresentar um pouco da prática espetacular do Boi, consultei as obras de Tácito Borralho (2012)BORRALHO, Tácito Freire. O teatro do boi. 2012. Thesis (PhD in Performing Arts), Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. e Tânia Ribeiro (2011)RIBEIRO, Tânia Cristina Costa. Bumba meu boi: som e movimento. São Luís: Iphan/MA, 2011., que discutem as movimentações cênicas e coreográficas dos/das brincantes no Bumba Meu Boi maranhense.
De início, apresento a figura do Cantador ou Amo, que é a pessoa que exerce simultaneamente a função de comando e de liderança central do grupo. É responsável por compor e cantar as canções, chamadas de toadas, composições que expressam ideias, versos que refletem visões de mundo e emergem da vida em comunidade, ou seja, compõem a memória musical do grupo, sendo inéditas a cada ano.
Continuando, o boi (brinquedo) é o ícone principal e indispensável da brincadeira. É tido como o “novilho mais famoso e bonito da fazenda” (Borralho, 2012, p. 31BORRALHO, Tácito Freire. O teatro do boi. 2012. Thesis (PhD in Performing Arts), Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.). Ele é manipulado por uma pessoa que fica debaixo da saia que o reveste, conhecida por miolo do boi. Uma peculiaridade do Boi de Matraca se refere ao bailado do miolo, que se caracteriza por levantar alto o boi, de modo que o miolo fica visível ao público. Finalizando, Borralho (2012, p. 124)BORRALHO, Tácito Freire. O teatro do boi. 2012. Thesis (PhD in Performing Arts), Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. destaca a importância do boi, ressaltando que “esse artefato, objeto animado, é a figura/personagem central da brincadeira e do teatro nela contido”.
Pai Francisco é o trabalhador da fazenda de gado do Amo, casado com Catirina, que está grávida. A caracterização conta com o uso da máscara e, em alguns casos, de perucas. É visto, em algumas situações, usando um paletó e carrega consigo um enorme facão feito de papelão ou madeira, alguns portam uma espingarda de caça. De acordo com Ribeiro (2011)RIBEIRO, Tânia Cristina Costa. Bumba meu boi: som e movimento. São Luís: Iphan/MA, 2011., a dança de Pai Francisco tem singularidades que se estabelecem no jogo de múltiplas situações que exaltam a comicidade, a irreverência e as trapalhadas de Pai Francisco, direcionadas ao boi.
Mãe Catirina está grávida e pede um grande favor para seu marido, Pai Francisco. Ela quer comer a língua do boi mais querido da fazenda. Na ação cênica, Catirina e o marido ficam rodeando o boi, esperando qualquer descuido dos seus protetores, para que, assim, sua vontade seja atendida.
Pai Francisco e Catirina do Boi do Maiobão na Festa de São Marçal, São Luís, Maranhão (2016).
As índias são descritas como “guerreiras de uma tribo próxima à fazenda” (Borralho, 2012, p. 30BORRALHO, Tácito Freire. O teatro do boi. 2012. Thesis (PhD in Performing Arts), Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.). Sua função consiste em assegurar que Pai Francisco seja encontrado na mata, após retirar a língua do boi. Elas encantam com sua dança e, independentemente de ser coreografada ou feita de modo espontâneo, “a expressão corporal das índias é acentuada pela movimentação das pernas” (Ribeiro, 2011, p. 110RIBEIRO, Tânia Cristina Costa. Bumba meu boi: som e movimento. São Luís: Iphan/MA, 2011.).
O vaqueiro ou vaqueiro-mestre, como alguns o chamam, é visto como uma pessoa de confiança do Amo, que tem a função de vigiar o boi contra as tentativas de Nego Chico. Para isso, carrega uma lança que mede mais de um metro de altura, o uso do acessório tem a finalidade de manter o perigo afastado. O jogo cênico, geralmente, acontece entre ele, o boi e o Pai Francisco. Tal triangulação produz cenas que impressionam pelo movimento, improviso e entrosamento entre os/as brincantes.
Caboclo de fita ou rajado tem como tarefa “[...] estabelecer os limites da roda nas apresentações da brincadeira, dançando e cantando” (Borralho, 2012, p. 34BORRALHO, Tácito Freire. O teatro do boi. 2012. Thesis (PhD in Performing Arts), Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.). É conhecido como o homem de confiança do Amo. Sua indumentária é rica e pomposa, carregada de várias fitas coloridas, dispostas no chapéu, de modo que algumas alcançam o chão. Alguns deles carregam o maracá para alertar o Amo de algum eventual incidente com o boi.
Brincante de caboclo de fita do Boi de Sitio do Apicum. Festa de São Marçal, São Luís, Maranhão (2019).
O Caboclo de Pena ou Caboclo Real é um posto encontrado apenas nos Bois de Matraca, e representa o índio, figura imponente do grupo. Ele é visto como defensor e protetor do boi e é o responsável pela captura de Pai Francisco. No tocante à dança, seus movimentos, segundo Borralho (2012, p. 123)BORRALHO, Tácito Freire. O teatro do boi. 2012. Thesis (PhD in Performing Arts), Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012., “[...] são calcados numa sequência (sic) de passos complicados que partem e dão continuidade a um equilíbrio precário que envolve a execução de saltos, corridas, giros, sapateados, deslizamentos e balanço pendular”.
A dança do caboclo de pena do Boi de Panaquatira. Festa de São Marçal, São Luís, Maranhão (2018).
Outra figura cênica vista nos grupos é a burrinha. Ela é considerada um boneco-máscara, por ser uma espécie de boneco de vestir (Borralho, 2012BORRALHO, Tácito Freire. O teatro do boi. 2012. Thesis (PhD in Performing Arts), Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.). O brincante é chamado também de miolo, vaqueiro especial ou homem da burrinha. A estrutura do boneco possui “[...] uma cavidade no dorso, local em que será a sela, a qual permite ao brincante entrar na armação, apoiando, em seus ombros, um suspensório de cordas” (Ribeiro, 2011, p. 128RIBEIRO, Tânia Cristina Costa. Bumba meu boi: som e movimento. São Luís: Iphan/MA, 2011.).
A respeito da estrutura cênica boieira, encontrei na pesquisa de Joana Oliveira (2006)OLIVEIRA, Joana Abreu Pereira de. Catirina, o boi e sua vizinhança: elementos da performance dos folguedos populares como referência para os processos de formação do ator. 2006. Dissertation (Master’s in Art) – Programa de PósGraduação em Arte, Universidade de Brasília, Brasília, 2006., sobre o Boi maranhense e a formação do brincante popular, considerações relevantes acerca da atuação e das funções que cada um pode praticar na composição cênica da brincadeira. Ela observou que “[...] é muito comum que o brincante aprenda a desempenhar diversas funções. Assim, vai se formando não um brincante especializado, mas completo, no que tange a dominar todas as habilidades necessárias ao conjunto da brincadeira” (Oliveira, 2006, p. 52OLIVEIRA, Joana Abreu Pereira de. Catirina, o boi e sua vizinhança: elementos da performance dos folguedos populares como referência para os processos de formação do ator. 2006. Dissertation (Master’s in Art) – Programa de PósGraduação em Arte, Universidade de Brasília, Brasília, 2006., grifo da autora).
O que significa que os/as brincantes têm abertura para transitar pelos territórios criativos e poéticos do Boi a partir de suas aptidões, vontades e interesses afins. A produção estética dos Bois de Matraca aqui apresentada é complexa e mutável, apontando para o jogo e sua potência lúdica, criativa e solidária entre os/as brincantes e se configura como experiência de vida que atualiza os seus saberes e fazeres a cada ano, mantendo viva a poética transgressora e culturalmente contra-hegemônica do Boi.
A cena caminhante na Festa de São Marçal
Os dias juninos maranhenses são compostos de várias festividades. Cada uma tem seu repertório e carrega modos de festejar singulares, o que aponta para aspectos ritualísticos específicos, assim como simbologias e comportamentos característicos. Exemplificando, a dinâmica celebrativa da festa de São Marçal aponta para algumas dessas particularidades. A mais visível delas diz respeito à sua configuração espacial, que acontece em formato de cortejo, onde uma maneira caminhante de festejar é posta para experimentação.
O deslocamento, apesar de ter um trajeto retilíneo, característico da disposição espacial do bairro João Paulo, apresenta muitas encruzilhadas, curvas e passagens inventivas, poéticas e espetaculares, mobilizando outras possibilidades expressivas. A caminhada surge como campo de interações artísticas, jogos e criação de cena e “revela-se, então, como um estilo especial da espetacularidade popular brasileira” (Brígida, 2008, p. 2BRÍGIDA, Miguel Santa. O auto do Círio: festa, fé e espetacularidade. Textos escolhidos de cultura e arte populares, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 35-48, 2008. Available at: http://www.e-133publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/download/12596/9777. Acessed on: Nov. 5, 2021.
http://www.e-133publicacoes.uerj.br/inde...
). Nessa ambiência, a caminhada é que dita o tempo da experiência festiva, da ação duracional do encontro coletivo.
Brígida (2008)BRÍGIDA, Miguel Santa. O auto do Círio: festa, fé e espetacularidade. Textos escolhidos de cultura e arte populares, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 35-48, 2008. Available at: http://www.e-133publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/download/12596/9777. Acessed on: Nov. 5, 2021.
http://www.e-133publicacoes.uerj.br/inde...
destaca os arranjos poéticos, estéticos e espetaculares que vão acontecendo enquanto se caminha. Em outro dizer seu, evidencia as “narrativas em movimento” (Brígida, 2008, p. 40BRÍGIDA, Miguel Santa. O auto do Círio: festa, fé e espetacularidade. Textos escolhidos de cultura e arte populares, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 35-48, 2008. Available at: http://www.e-133publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/download/12596/9777. Acessed on: Nov. 5, 2021.
http://www.e-133publicacoes.uerj.br/inde...
) como ações prenhes de inventividade que vão sendo reelaboradas durante o deslocamento do cortejo, ativando uma experiência espacial, corporal, simbólica e relacional, que se diferencia das outras formas de caminhar. Dada a força cambiante do cortejo, o autor observa que
[...] as narrativas que caminham, se deslocam, passam aos nossos olhos, trabalhando simbolicamente o tempo e o espaço, constroem espetacularidade singulares [...]. Não podemos esquecer que as narrativas de rua traduzem em suas práticas e poéticas não só uma questão estética, mas também uma ética, uma moral e uma política, enfim, uma maneira de viver em sociedade (Brígida, 2008, p. 41BRÍGIDA, Miguel Santa. O auto do Círio: festa, fé e espetacularidade. Textos escolhidos de cultura e arte populares, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 35-48, 2008. Available at: http://www.e-133publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/download/12596/9777. Acessed on: Nov. 5, 2021.
http://www.e-133publicacoes.uerj.br/inde... ).
Ficam expressos, portanto, os efeitos, interações e desdobramentos do contexto festivo, enraizados na superfície aberta a acontecimentos que é o espaço público, capaz de criar um corpo coletivo densamente habitado por espetacularidades que ocupam as ruas da cidade. Nesse caso específico, a cidade, ao ser atravessada a partir da festa, é praticada como ato contrário ao processo de privatização de espaços públicos, que a maioria das cidades brasileiras vem ‘sofrendo’. Essa perspectiva foi oportuna por abordar as comunhões coletivas, repleta de corpos insubordinados que desafiam regras e subvertem a ordem, em seus engajamentos festivos e perenes.
Outro aspecto fundamental consiste no acesso liberado ao espaço festivo, sem cordas, grades ou qualquer aparato que impeça ou dificulte a entrada e saída das pessoas. Nisso, a Avenida São Marçal assume um formato que pode ser percebido como gerador de energia para experiências em deslocação. Do mesmo modo, é um convite aberto à experiência coletiva, aos movimentos e condutas cheias de vontades e desejos dos caminhantes. Nesse sentido, a partilha comum praticada na movência festiva se mostra como uma intensa vivência urbana, possibilitando que diferentes experiências sejam geradas no espaço da rua. Tais ações são momentos de experiências geradas a partir dos corpos brincantes que se tocam, caminham, vibram, atravessam e, também, afastam-se, alargando os tipos de contatos expressivos praticados.
Acerca da estrutura festiva que modifica a ambiência da Avenida São Marçal, é preciso destacar que, no dia da festa, a avenida é interditada pela Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), a fim de organizar o ordenamento do tráfego nas redondezas do evento, deixando o trânsito livre para os/as brincantes e suas espetacularidades caminhantes. O espaço reservado para o cortejo mede aproximadamente de 400 a 500 metros, iniciando na Rotatória da Avenida São Marçal e seguindo até a Praça Ivar Saldanha. Geralmente, a festa acontece a partir das 7h e não tem horário definido para seu encerramento, o que pode acontecer nas primeiras horas do dia seguinte.
Acerca do corredor festivo, era nesse espaço que a caminhada se intensificava, estabelecendo um contato mais aproximado com as diversas ações e as inventividades a serem observadas, em que o jogo e o ritual eram aspectos relevantes por se fazerem presentes no corpo brincante. Havia na festa, camadas impregnadas de muitos dizeres, gestos, fazeres, saberes e memórias. Elas faziam parte de um rico repertório assentado nos corpos brincantes. A composição caminhante vivida não exprime uma concepção fechada de uso da rua, e sim se propõe a ser um espaço de ativação, de abertura às flutuações e dinâmicas em curso.
Festejar São Marçal para os Bois de Matraca têm um valor simbólico e político muito importante. O respeito que cada grupo mantém pela festa decorre da sua estreita relação devocional com o santo católico. Importa dizer que no mapa devocional da brincadeira se localiza uma diversidade de práticas religiosas, que também envolvem encantaria, pajelança, entidades espirituais do tambor de mina e outras crenças, cultuadas no estado, rendendo formas polissêmicas de manifestar sentimento e compromisso com o sagrado e o profano no acontecimento festivo e, também, na ocupação do espaço público. Isso nos faz pensar acerca de uma prática mais íntima de festejar com o Santo e não para ele.
Diante desse cenário de intensa interação coletiva, foi importante compreender a festa de São Marçal como forma de reflexão a respeito da cidade, da criação espetacular e do estar junto. Nisso, a cada passo dado na paisagem imersiva sentia-se uma amostra de como a rua, com sua abertura para a criação de novas relações e afetos, ativava o espaço urbano como local de encontros e experimentações deambulatórias.
Um exemplo disso ocorre quando visualizo a festa de forma mais ampla. A possibilidade de contemplar a vista aérea da Avenida São Marçal permitiu captar a frequência do encontro, do mesmo modo de como a dilatação festiva ocupava a malha urbana a partir do deslocamento mínimo, cujo tempo era sentido vagarosamente. O andar desacelerado, minúsculo devido ao ajuntamento dos corpos, amontoado de gente, tocando, ao mesmo tempo, a pele do chão de forma devagar quase parando, mas de forma intensa e espetacular. Visualizar essa imagem tem como efeito perceber a amplitude de gente, a perder de vista, que imprimiu à festa a confirmação que o ambiente era avivado potencialmente por múltiplas vias de presença.
Isso revela que caminhar e festejar em São Marçal promovia uma ligação concreta ao ato de criação. Demonstra, a partir disso, a necessidade social de esses corpos se movimentarem nas ruas, de devorarem os tipos de experiências que nos tocam e nos apaixonam. Remete ao jogo de estímulos instaurado e das gestualidades agenciadas que acionavam rupturas com os modos de viver diante do anestesiamento corporal no meio urbano.
Seguindo essa ideia, a própria caminhada festiva tem como mote existencial a produção de estados de contato mais sensíveis, ativos e permeáveis com o ambiente percorrido, pois a caminhada reúne, como característica intrínseca, a dimensão relacional e exploratória. Com esse movimento vivo e pulsante, a caminhada consegue operar em si mesma sua reinvenção. Tal particularidade, tão relevante, traz ainda o caminhar como articulador de espaço, criador de lugares e de ações poéticas, que dá outras modulações ao fluxo da cidade. Esse contexto ressoou no chão festivo, povoado de insurgências coletivas e caminhantes de São Marçal.
Com essa conclusão, avanço rumo a outro percurso, não muito distante desse, cujo desejo foi discorrer sobre as poéticas criadas pelo corpo brincante, abordando também as dinâmicas relacionais do encontro, da troca e das vivências no espaço público. Assim como sobre as vontades festivas e demais enredos passíveis de criação na paisagem e tempo espiralar do João Paulo, entre outros tantos fenômenos espetaculares que ali ocorriam. Portanto, um modo próprio de presença e de movimentar no mundo se espetacularizava na imersão festiva de São Marçal. Ponto que merece ser ressaltado por exemplificar os vínculos, possibilidades e conexões que são estabelecidos por meio das poéticas criadas, surgidas e negociadas no caminho. No desenrolar do acontecimento, as poéticas do corpo brincante se colocavam como impulsionadoras de atos germinadores, o que significava uma forma específica de agitar, de movimentar no, com e o mundo.
Caminhar e festejar: as espetacularidades do corpo brincante
Os grupos de Boi chegam ao bairro do João Paulo a partir das 5h da manhã do dia 30 de junho. Isso sugere que muitos brincantes comparecem à Avenida São Marçal com privação de sono, fome e outros estados corporais associados. Eles/elas carregam, em seus corpos, marcas da fadiga pelas horas prolongadas de apresentação pelos arraiais da cidade, provocando, em muitos deles/delas, cansaço e sonolência. Por outro lado, a canseira parece não ocupar por completo o corpo de alguns/algumas brincantes. Enquanto aguardavam, os brincantes são vistos/as caminhando à procura de alimentação, de amigos que estão pelas redondezas da festa e também para ver e acompanhar a caminhada festiva dos demais grupos de Boi.
Festejar São Marçal é uma prova máxima de paciência, vontade e resistência. Fato que leva o/a brincante a mobilizar alternativas das mais diversas e curiosas para aproveitar o tempo de espera, ocorrido por conta da grande quantidade de grupos presentes, somando-se à multidão de pessoas na Avenida São Marçal. Nessa direção, as duas imagens a seguir anunciam o corpo em estado completo de presença, apesar de sua aparente imobilidade. Isso trouxe para esta escrita a reflexão acerca da experiência corporal, pautada na polivalência de sensações, de sentidos e de expressões.
Nesse sentido, o pesquisador italiano Francesco Careri (2017)CARERI, Francesco. Caminhar e parar. Translated by Aurora Fornoni Bernardini. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 2017., ao falar do caminhar, também se propôs a refletir sobre a pausa, principalmente pelo modo como ela institui outra dinâmica na experiência de conhecer a paisagem pela ação estacionada do corpo. Segundo ele, “[...] parar é, de fato, uma grande oportunidade para continuar a agir com o mesmo espírito do andar, mas num espaço do estar” (Careri, 2017, p. 113CARERI, Francesco. Caminhar e parar. Translated by Aurora Fornoni Bernardini. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 2017.).
Foi a partir dessa constatação, trazida por Francesco Careri, que a pausa foi compreendida como imagem potente da festa. Essa afirmativa se atém ao sentido de impulsionar questões significativas sobre o corpo brincante, que não se constituem apenas nas movências físicas desse corpo, mas nas expressões, marcas, gestos e seus múltiplos efeitos em decorrência do ato de fincar, enterrar os pés, independentemente da duração, na ação de aterramento no chão festivo.
Essas expressões revelaram estados inventivos, atravessamentos e gestualidades, criadas a partir dos acontecimentos sensíveis e das sensações vividas no espaço urbano. A festa se localiza também nesse tempo livre, gestado pela dilatação temporal mais demorada. No contexto da pesquisa, o nome evocado, corpo brincante, fala de um corpo potente, cuja presença opera, dentre outras implicações, a partir do borramento do regime da política de tempo contemporâneo.
A esse respeito, apresento a reflexão, proposta por Leda Maria Martins, acerca do tempo espiralar, que alinha passado, presente e futuro. Com seu olhar poetizado e político, a autora discute sobre como a experiência temporal pode ser vislumbrada como vivências que se “[...] processam pelo corpo, alinhadas e compostas por outras percepções que no e pelo corpo as traduzem” (Martins, 2021, p. 32MARTINS, Leda. Performance do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2021.).
Com base na citação, posso estabelecer, sem dúvida, uma proximidade com as corporeidades e os discursos, presentes na prática espetacular do Bumba Meu Boi maranhense, uma vez que o corpo, advindo das culturas predominantemente orais e gestuais, como é o caso da brincadeira, assume uma centralidade simbólica, ritual e espetacular importante, pois ele é “local e ambiente da memória” (Martins, 2021, p. 89MARTINS, Leda. Performance do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2021.), onde o corpo brincante é guardador e, ao mesmo tempo, ativador de memórias coletivas.
Desse modo, a memória é coletivamente vivida e renovada a cada ciclo do Boi. Ela engendra toda uma complexidade acerca dos modos de vida e agir no mundo que o corpo opera em suas relações, movimentando uma rede de saberes e fazeres. Ainda, de acordo com Leda Maria Martins (2021)MARTINS, Leda. Performance do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2021., essas culturas se relacionam com o tempo espiralar, que pode ser compreendido como “um tempo [...] que retorna, restabelece e também transforma, e quem tudo incide. Um tempo [de] sincronia de instâncias compostas de presente, passado e futuro” (Martins, 2021, p. 63MARTINS, Leda. Performance do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2021.).
A partir dessas considerações, o corpo brincante em São Marçal, que caminha, dança, improvisa, cruza, para, toca, encosta e gira – dentre outras rememorações de estados de presença –, traz em si uma energia movente, cuja temporalidade espiralar foi experimentada continuamente em suas trocas coletivas e festivas. Tal vivência pode ser localizada nas camadas distintas de movimentações como a pressa, a pausa e a lentidão que o corpo brincante tem acesso na festa de São Marçal, fazendo com que ele brinque com a elasticidade e densidade do tempo, gerando outras espessuras no espaço, abrindo os poros para as permeabilidades dos encontros.
A propósito, a noção corpo brincante, neste trabalho, é abordada a partir de um corpo que se dispõe ao jogo e improvisação como expressão de uma poética viva de presença. O termo brincante, atraído pela palavra corpo, convida à percepção do movimento como um colecionador de passos e acumulador de experiências urbanas, colocando o corpo brincante como palavra geradora de espetacularidades e diversos modos inventados. A partir desses princípios, a intenção aqui não foi de criar uma noção de corpo, pelo fato de já existir na paisagem festiva, visto que o corpo brincante não é homogêneo, tampouco cabe em um entendimento totalizante e idealizado do corpo nas manifestações populares. Ele segue resistindo em seu deslocamento, movendo mundos sensíveis intensamente, de forma política e poética.
Em sua epiderme festiva, o corpo brincante reúne uma pluralidade de corpos que se entrecruzam, mobilizando estéticas dos saberes e memórias da rua a partir do contexto cultural particular. Nesse estado de criação-festa constante, que vivencia os múltiplos caminhos de geração de novos sentidos, o corpo brincante anuncia o ser festa em toda a sua potência expressiva, criando movimentos e gestos como elementos detonadores de outras sensibilidades caminhantes, decorrentes das vibrações transitórias que passaram a operar outras formas de deslocamento, físicos e perceptivos.
Por fim, foi no aqui e agora festivo que o corpo brincante, tão plural e inventivo, mostrou sua energia na via pública, fato que me deixou mais atenta e pensativa a respeito da situação vivida por eles e elas, sujeitos(as) ao cansaço, fome e desconforto térmico constantes. Ao mesmo tempo, o que mais me chamou atenção foi quando lancei meu olhar em direção a eles e elas e vi a superação do esgotamento e limites físicos como ações indissociáveis e fortalecidas por meio da fé no Santo e pela vontade festiva do estar junto. Sob esse aspecto, trata também a respeito da espetacularidade que se alimenta e se reinventa a partir da força compositora da coletividade, estabelecida pelos modos de agenciamentos sensíveis do corpo brincante.
Considerações finais
A festa de São Marçal apresenta uma paisagem imersiva potencialmente instigante, com inúmeras possibilidades investigativas que habitam as curvas, as encruzilhadas e o chão poroso no bairro do João Paulo. Escolhi tatear por algumas dessas superfícies, no intuito de ativar o pensamento acerca da caminhada e dos modos de inventivos a partir do acontecimento festivo, entre outros tantos fenômenos espetaculares que ali ocorriam.
Neste artigo, o caminhar foi compreendido como uma mistura de várias caminhadas, fluxos e intensidades distintas, produzindo uma sociabilidade específica que só existe porque se caminha, ou seja, estou operando, de certa maneira, uma forma de caminhada em sua dimensão relacional, gestada a partir do caminhar na, pela e com a festa. Desse modo, as espetacularidades caminhantes ressaltam o campo festivo como plataforma singular, capaz de confabular narrativas, gestualidades e promover atentados poéticos no espaço público.
O interesse pela temática moveu questões significativas acerca da estreita relação da caminhada com a Festa de São Marçal, lançando novas pistas, indagações e outros modos de compreender também o campo espetacular do Bumba Meu Boi maranhense. Com isso, intencionei contribuir nas práticas investigativas que interrogam novos sentidos de mundo, especialmente do entendimento das espetacularidades festivas que ocupam a rua, trazendo para a escritura expressões, gestos e sentidos que apontassem os trânsitos de trocas e seus ajuntamentos, quer dizer, que indicassem as formas de vivenciar a experiência urbana e festiva de outra maneira.
Para isso, busquei ativar movimentos de pesquisa que ajudassem a compreender como a caminhada acionava as vontades festivas e demais enredos passíveis de criação entre os corpos brincantes, deflagrando o tempo e o espaço espiralar do estar junto, com seu ritmo e cadência próprios. A partir dessa questão, o corpo brincante, neste estudo, foi sendo compreendido como uma proposição estética, política e espetacular, derivada de uma perspectiva transdisciplinar, que se renova e se reformula continuamente, a partir das temporadas juninas e, especificamente, da Festa de São Marçal.
Por fim, considero relevante reiterar o fato de que o Bumba Meu Boi é uma manifestação complexa, reunindo fé, celebração, diversão, ritual, jogo e brincadeira. Outros atributos podem ser incluídos como características do fazer e viver o Boi. Faço oportuno considerar que os fatos descritos demonstram um recorte da brincadeira, evitando, dessa maneira, suponho eu, qualquer visão totalizante e idealizada do Boi maranhense. Novamente destaco o quão é múltiplo o universo da brincadeira, que a cada ano atualiza seus símbolos mais representativos, sendo um deles a Festa de São Marçal. Para terminar, afirmo que a história da festa no bairro João Paulo caminha junto com a história dos Bois de Matraca.
Disponibilade dos dados da pesquisa:
o conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo está publicado no próprio artigo.
Este texto inédito também se encontra publicado em inglês neste número do periódico.
Notas
-
1
O Boi de Matraca, também conhecido como Boi da Ilha, é oriundo da região metropolitana de São Luís, precisamente, e em maioria, na zona rural de São Luís, de Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. A respeito dos que organizam e vivenciam a brincadeira do Bumba Meu Boi, em geral provêm de várias partes da região metropolitana, residindo, em sua maioria, nos bairros periféricos, ou, quando não, nas áreas rurais.
-
2
As primeiras apresentações datam do ano de 1929.
-
3
A prática cultural Bumba Meu Boi é conhecida por algumas denominações. Na presente pesquisa utilizo os termos: Bumba Meu Boi, Bumba Boi, Boi e brincadeira como equivalentes e em concordância com as pessoas do universo pesquisado, que utilizam essas expressões para nomear o que fazem.
-
4
Ressalto que a dinâmica festiva etnografada é anterior ao período pandêmico deflagrado no Brasil a partir de março de 2020.
-
5
Ainda sobre a nomeação dessa seção, quando menciono as/os fazedoras/as da festa estou dando destaque e referenciando os grupos de Bois de Matraca como um dos seus principais agentes. O que não significa, no entanto, que eles sejam os únicos a organizar e manter a festa de São Marçal. Existe uma rede complexa de demais produtores responsáveis, como moradores do bairro do João Paulo, setor público estadual e municipal, entidades privadas e demais interessados.
-
6
Não se trata aqui de tecer uma análise esmiuçada das possíveis origens da brincadeira, não é isso que busco fazer aqui. Nesse caso, a tarefa consiste em apontar para um recorte histórico, partindo do período repressivo e proibitivo sofrido pelos grupos de Bois, a fim de descrever e analisar as formas de opressão vividas pela população negra na capital maranhense.
-
7
Expressão bastante usual entre as/os brincantes.
-
8
O relato de Zé Paú, ex-cantador do Bumba Boi da Madre Deus, encontra-se no livro: Memória de velhos (Maranhão, 1997MARANHÃO (State). Memória de velhos. Depoimentos: uma contribuição à memória oral da cultura popular maranhense. v. 5. São Luís: lithograf, 1997.). Esse volume, em especial, destina-se aos relatos de alguns líderes do Bumba Meu Boi, traçando um panorama da brincadeira nas décadas de 1940 e 1950.
-
9
Emissora de rádio AM, sediada em São Luís, Maranhão.
-
10
É importante mencionar que essas proibições e demais impedimentos não eram unanimidade entre as autoridades, imprensa, polícia e sociedade maranhense. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/Mem%C3%B3ria_de_velhos_Aliete_Ribeiro_ de_S%C3%A1.html?id=ChUsAAAAYAAJ&redir_esc=y. Acesso em: 14 jan. 2023.
-
11
Um dos exemplos diz respeito à forma como os Bois são contratados para participar da temporada junina pelo estado e município. Nesse caso, a brincadeira precisa participar de uma seleção pública via edital, o que não traz nenhum estranhamento. A questão é que, para se inscrever no certame, o Boi é obrigado a ter um CNPJ. Esse fator inviabiliza a participação de pequenos grupos de Bois, pois a burocracia exigida demanda tempo e custos para que a brincadeira seja formalizada. O governo estadual e municipal, por sua vez, não cria alternativas, como oficinas e consultorias, para tornar os trâmites mais fáceis para os grupos de Bois menores. Sem o cachê pago pelas apresentações nos arraiais da cidade, a brincadeira não tem como se manter. Logo, não se terá recursos para tirar e manter um CNPJ.
-
12
No decorrer deste artigo não usarei o termo personagem, por entender que, no contexto de criação cênica do Boi, o brincante não representa, e sim brinca. Para isso, adotei as palavras função ou posto. Sendo esta última uma designação bastante usual entre os brincantes (Borralho, 2012BORRALHO, Tácito Freire. O teatro do boi. 2012. Thesis (PhD in Performing Arts), Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.).
-
13
No contexto do Boi maranhense, a palavra treino é bastante usual no contexto investigado e se refere ao momento no qual os/as brincantes ensaiam no período anterior à temporada junina.
Referências
- BORRALHO, Tácito Freire. O teatro do boi 2012. Thesis (PhD in Performing Arts), Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
- BRÍGIDA, Miguel Santa. O auto do Círio: festa, fé e espetacularidade. Textos escolhidos de cultura e arte populares, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 35-48, 2008. Available at: http://www.e-133publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/download/12596/9777. Acessed on: Nov. 5, 2021.
» http://www.e-133publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/download/12596/9777. - CARERI, Francesco. Caminhar e parar Translated by Aurora Fornoni Bernardini. São Paulo: Editora Gustavo Gili, 2017.
- CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.
- IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão Dossier of registration as Cultural Heritage of Brazil. São Luís: Iphan/MA, 2011.
- LIGIÉRO, Zeca. Batucar-cantar-dançar: desenhos das performances africanas no Brasil. Aletria – Revista de estudos da Literatura, Belo Horizonte, v. 21, n. 1, p. 00-00, 2011. Available at: https://periodicos.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/18430. Accessed on: Sep. 11, 2021. DOI: https://doi.org/10.17851/23172096.21.1.133-146
» https://doi.org/10.17851/23172096.21.1.133-146» https://periodicos.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/18430. - MARANHÃO (State). Memória de velhos Depoimentos: uma contribuição à memória oral da cultura popular maranhense. v. 5. São Luís: lithograf, 1997.
- MARTINS, Leda. Performance do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2021.
- MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Translated by Renata Santini. São Paulo: N-1 edições, 2018.
- OLIVEIRA, Joana Abreu Pereira de. Catirina, o boi e sua vizinhança: elementos da performance dos folguedos populares como referência para os processos de formação do ator. 2006. Dissertation (Master’s in Art) – Programa de PósGraduação em Arte, Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
- RIBEIRO, Tânia Cristina Costa. Bumba meu boi: som e movimento. São Luís: Iphan/MA, 2011.
- RUFINO, Luiz. Pedagogia das encruzilhadas Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2019.
- SIMAS, Luiz. O corpo encantado das ruas Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
20 Out 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
30 Jan 2023 -
Aceito
05 Jun 2023
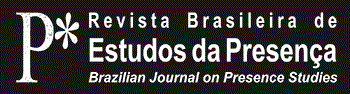












 Fonte: Jornal Imparcial (2019).
Fonte: Jornal Imparcial (2019).
 Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
 Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
 Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
 Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
 Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
 Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
 Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
 Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
 Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
 Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.
Fonte: Acervo fotográfico particular da autora.