Resumo
O artigo analisa a dinâmica industrial da periferia do eixo São Paulo-Brasília de uma perspectiva que examina a influência da distância física do centro na intensidade tecnológica. O objetivo é investigar a proximidade geográfica como um fator limitante na desconcentração industrial em curso no Brasil. Para captar esse fenômeno, o eixo São Paulo-Brasília foi dividido em três partes: periferia próxima, média e distante. Em seguida, foram utilizados dados sobre o emprego industrial, o nível dos salários médios reais e a qualificação da mão de obra, com vistas a analisar cada uma dessas subdivisões nos anos de 2002, 2008 e 2014. Com base nisso, constatou-se que, mesmo em um contexto de investimentos em infraestrutura de transportes e com novas possibilidades criadas pelo avanço das tecnologias de comunicação, as heterogeneidades na indústria vêm aprofundando-se. Partes geograficamente próximas à Região Metropolitana de São Paulo continuam tendo maior qualificação tecnológica na estrutura industrial, enquanto as mais distantes ainda se compõem, essencialmente, de plantas intensivas em mão de obra e em recursos naturais.
Palavras-chave:
proximidade geográfica; desconcentração industrial; intensidade tecnológica da indústria
Abstract
This article analyzes manufacturing dynamics along the periphery of the São Paulo-Brasília axis from a perspective that studies the extent to which technological intensity has been influenced by being distant from the core. The aim is to investigate geographical proximity as a limiting factor in the ongoing process of manufacturing deconcentration in Brazil. To measure this phenomenon, the São Paulo-Brasília axis was divided into three peripheral regions: nearby, middle and distant. Subsequently, data related to the industrial workforce, the level of average real salaries, and qualifications of the workforce were used to analyze each of the subdivisions during 2002, 2008, 2014. Results demonstrate that even within a context of investments in transport infrastructure and new possibilities created by advances in communication technologies, the heterogeneities of manufacturing became more intense. The regions geographically closer to the Metropolitan Region of São Paulo demonstrate a higher technological qualification of its industrial structure, while those furthest away are primarily composed of labor-intensive natural resource industries.
Keywords:
geographical proximity; industrial deconcentration; technological intensity of the manufacturing industry
Introdução
Um dos paradoxos que tem sido discutido sobre o processo de globalização está na forma como o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e de uma infraestrutura logística de transporte atua no sentido de intensificar a importância da proximidade geográfica, em vez de reduzi-la (SONN; STORPER, 2008SONN, J. W.; STORPER, M. The Increasing Importance of Geographical Proximity in Technological Innovation: An Analysis of U.S. Patent Citations, 1975-1977. Environment and Planning A, v. 40, n. 5, p. 1020-1039, 2008. https://doi.org/10.1068/a3930
https://doi.org/10.1068/a3930...
; STORPER, 1997STORPER, M. The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. New York; London: Guilford Press, 1997. ; 2013STORPER, M. Keys to the City: How economics, institutions, social interactions, and politics shape development. Princeton: Princeton University Press, 2013. ). Isso se deve ao fato de que, embora a circulação de informações e mercadorias tenha atingido um nível global, alguns fatores centrais atrelados à inovação tecnológica, como o conhecimento tácito, seguem dependentes de relações locais (AUDRETSCH; FELDMAN, 1996AUDRETSCH, B.; FELDMAN, P. Innovative Clusters and the Industry Life Cycle. Review of Industrial Organization. n. 11. p. 253-273, 1996. https://doi.org/10.1007/bf00157670
https://doi.org/10.1007/bf00157670...
; STORPER, 1997STORPER, M. The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. New York; London: Guilford Press, 1997. ).
Partindo dessa premissa, o objetivo deste artigo é investigar a proximidade geográfica como um fator limitante na desconcentração industrial em curso no Brasil, tendo como foco a variação do emprego na indústria de transformação em função da intensidade tecnológica. Utiliza-se o conceito de centro-periferia (Prebisch, 2000PREBISCH, R. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus problemas principais problemas [1951]. In: BIELSCHOWSKY, R. (Org.). Cinquenta anos de pensamento da CEPAL. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v. 1. p. 69-136.), aplicado à região de influência da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) (FURTADO, 1986FURTADO, A. T. Desconcentração Industrial. In: PATARRA, N. (Org.). Desconcentração Industrial. São Paulo: Fundação SEADE, 1986. p. 1-47. ), para analisar como o aumento na distância física em relação ao centro interfere na dinâmica industrial da periferia no contexto da desconcentração industrial (AZZONI, 1986AZZONI, C. R. Indústria e reversão da polarização no Brasil. São Paulo: IPE/USP, 1986.; DINIZ, 1991DINIZ, C. C. Dinâmica regional da indústria no Brasil: início de desconcentração, risco de reconcentração. 1991. Thesis (Open competition for Lecturer) - Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1991. ; CANO, 2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional do Brasil (1970-2005). São Paulo: Ed. UNESP, 2008.; SABOIA, 2013SABOIA, J. A continuidade do processo de desconcentração regional da indústria brasileira nos anos 2000. Nova Economia, v. 23, n. 2, p. 219-278, 2013. https://doi.org/10.1590/s0103-63512013000200001
https://doi.org/10.1590/s0103-6351201300...
).
Para observar esses aspectos, tem-se como objeto de estudo a periferia do eixo São Paulo-Brasília. Nesse trajeto, localizam-se núcleos essenciais da indústria de transformação brasileira: Jundiaí, Campinas, Sumaré, Hortolândia e Ribeirão Preto, em São Paulo (SP); Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais (MG); e Catalão, em Goiás (GO). Esses núcleos são conectados por um sistema multimodal de transporte que inclui: as rodovias Anhanguera e a BR-050; a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA); o Oleoduto São Paulo-Brasília (OSBRA); e o Alcoolduto, gerenciado pela Logum Logística, de Paulínia a Ribeirão Preto.
Como será discutido, mesmo com os investimentos em transportes e as possibilidades criadas pelas novas técnicas de comunicação, nota-se uma divisão do tipo de indústria que cresce na periferia do referido eixo. Partes geograficamente próximas à RMSP presenciam certa diversificação da estrutura industrial, enquanto as mais distantes ainda se baseiam, essencialmente, em plantas intensivas em mão de obra e em recursos naturais. Neste artigo, busca-se fornecer uma explicação para esse fenômeno.
Na análise, segue-se, de início, a proposta de Furtado (1986FURTADO, A. T. Desconcentração Industrial. In: PATARRA, N. (Org.). Desconcentração Industrial. São Paulo: Fundação SEADE, 1986. p. 1-47. ) para fazer a divisão do eixo São Paulo-Brasília em três partes: periferia próxima, média e distante. Em seguida, são discutidos os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) referentes à distribuição do emprego industrial, ao nível de escolaridade, ao salário médio real e ao quociente locacional (QL) para cada uma das subdivisões. Os recortes apresentados são microrregionais, em conformidade com a Divisão Regional do Brasil proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Divisão Regional. <Available at: https://goo.gl/S2JSCl >. Accessed on: 12th Dec. 2016.
https://goo.gl/S2JSCl...
. O período de análise dos dados compreende os anos de 2002, 2008 e 2014.
O artigo conta com cinco seções, além desta introdução. Primeiramente, há uma discussão de cunho teórico sobre a relação entre o conceito de centro-periferia e a desconcentração industrial, com uma análise das razões que fazem com que a proximidade geográfica continue sendo algo importante. Em segundo lugar, faz-se uma contextualização do eixo São Paulo-Brasília. Em seguida, encontram-se a metodologia utilizada na realização do estudo e a análise dos resultados encontrados. Por último, apresentam-se as considerações finais.
Desconcentração industrial em um contexto de centro-periferia: a persistência da proximidade geográfica com o centro
O conceito de centro-periferia retoma estudos de finais dos anos 1940 elaborados pela Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL). Embora tenha sido pensada, no sistema econômico internacional, como uma crítica à teoria das vantagens comparativas (Prebisch, 2000PREBISCH, R. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus problemas principais problemas [1951]. In: BIELSCHOWSKY, R. (Org.). Cinquenta anos de pensamento da CEPAL. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v. 1. p. 69-136.; Furtado, 2007FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2007.), a ideia ultrapassa esse debate, demonstrando, de um lado, uma preocupação com as particularidades que marcam o modelo de desenvolvimento periférico e, de outro, uma atenção ao fato de que a economia mundial funciona como um sistema articulado, mas organizado de forma desigual (Egler, 1994EGLER, C. A. G. O que fazer com a geografia econômica neste final de século? Textos Laget, n. 5, 1994. <Available at: https://goo.gl/WGX3xe >. Accessed on: 12th Dec. 2016.
https://goo.gl/WGX3xe...
).
Mesmo que alguns desdobramentos da relação centro-periferia se vinculem à deterioração dos termos de intercâmbio e à inflação latente (Rodriguez, 2009RODRÍGUEZ, O. O estruturalismo latino-americano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.), para a análise aqui proposta, um primeiro passo foi delimitar o conceito à difusão lenta e desigual do progresso técnico. Como pontua Rodriguez (2009RODRÍGUEZ, O. O estruturalismo latino-americano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009., p. 81), “os centros se identificam com as economias onde as técnicas capitalistas de produção penetram primeiro; a periferia, em contrapartida, é constituída por economias cuja produção permanece inicialmente atrasada, do ponto de vista tecnológico e organizacional”. Situação que evidencia a heterogeneidade estrutural de um lado moderno e outro atrasado das economias latino-americanas (Pinto, 2000PINTO, A. Natureza e implicações da “heterogeneidade estrutural” na América Latina. In: BIELSCHOWSKY, R. (Org.). Cinquenta anos de pensamento da CEPAL. v. 2. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2000. p. 567-588.).
Ressalta-se que essa heterogeneidade não é apenas do centro em relação à periferia, mas está também presente dentro da própria periferia. Essas áreas se caracterizam por um movimento duplo: algumas partes, excluídas do movimento de modernização, ficam na dependência da exploração de recursos naturais e/ou de trabalho de menor qualificação; outras, em razão de apresentarem melhores condições socioeconômicas e custos de produção menores em comparação, tornam-se atrativas para atividades dinâmicas em processo de desvalorização no centro (FURTADO, 1986FURTADO, A. T. Desconcentração Industrial. In: PATARRA, N. (Org.). Desconcentração Industrial. São Paulo: Fundação SEADE, 1986. p. 1-47. ).
Portanto, pode-se definir dois tipos de “periferização”. O primeiro tipo se caracteriza pela especialização em recursos naturais ou em trabalho. Nesse caso, “o progresso técnico não se difunde de forma homogênea, sendo absorvido somente em certas atividades, principalmente nas vinculadas à exportação, permanecendo inalterada a estrutura produtiva restante” (Porcile; Yamila; Catela, 2012PORCILE, G.; YAMILA, E.; CATELA, A. S. Heterogeneidade estrutural na produtividade das firmas brasileiras: uma análise para o período 2000-2008. Estudos Econômicos, n. 8, p. 1-22, 2012. <Available at: http://goo.gl/13k17c >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
http://goo.gl/13k17c...
, p. 2). Já o segundo se define pela mobilidade do capital, a partir da qual a periferia consegue competir com o centro pela atração de indústrias de maior intensidade tecnológica (FURTADO, 1986FURTADO, A. T. Desconcentração Industrial. In: PATARRA, N. (Org.). Desconcentração Industrial. São Paulo: Fundação SEADE, 1986. p. 1-47. ). Nesse caso, a difusão do progresso técnico é mais abrangente entre os setores industriais. Com efeito, a distinção entre a primeira e a segunda periferias não reside numa diferença de intensidade, mas numa diferença qualitativa e no tipo de indústria que cada uma consegue atrair.
A aplicação do modelo centro-periferia ao território nacional remete à ruptura provocada pela Crise de 1929, que fez com que o fator dinâmico se tornasse o mercado interno (Furtado, 2007FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2007.) e a cidade de São Paulo, a qual, desde o início do século XX, despontava como um núcleo urbano-industrial (Cano, 2007CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil (1930-1970). São Paulo: Ed. UNESP, 2007.), se transformasse em um centro econômico1 1 Usualmente, a relação centro-periferia é aplicada à escala internacional, da forma como foi originalmente concebida. A aplicação para a escala nacional, entretanto, acompanha a evolução desse conceito, como pode ser visto em Becker (1972). No caso deste artigo, a influência está no trabalho de Furtado (1986). . As políticas desenvolvimentistas e o processo de substituição de importações2 2 Um trabalho mais aprofundado sobre o ciclo ideológico do desenvolvimentismo no Brasil foi feito por Bielschowsky (1988). Para o processo de industrialização por substituição de importações no Brasil, sugere-se Tavares (1973). reforçaram essa posição e, ademais, lançaram as bases para a expansão de uma futura metrópole, que compreende a capital paulista e as cidades de seu entorno, como Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano (SAMPAIO, 2009SAMPAIO, S. S. Indústria e território em São Paulo: a estruturação do multicomplexo territorial industrial paulista : 1950-2005. São Paulo: Alínea Editora, 2009.). O período entre 1930 e 1970 foi marcado, portanto, por uma fase de concentração da atividade industrial no centro (CANO, 2007CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil (1930-1970). São Paulo: Ed. UNESP, 2007.; NEGRI, 1996NEGRI, B. Concentração e desconcentração industrial em São Paulo, 1880-1990. Campinas: Ed. Unicamp, 1996.).
No entanto, para o processo que se busca analisar, o artigo tem como ênfase a fase de desconcentração que se segue após os anos 1970 (PACHECO, 1998PACHECO, C. A. A Fragmentação da Nação. Campinas: Ed. Instituto de Economia, 1998.; CANO, 2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional do Brasil (1970-2005). São Paulo: Ed. UNESP, 2008.), especificamente o início do século XXI. Nesse contexto, os dois tipos de periferização se tornaram componentes da organização do espaço industrial. O processo de urbanização e o crescimento populacional ampliaram a demanda por alimentos, produzindo um mercado para as indústrias no interior do país (NEGRI, 1996NEGRI, B. Concentração e desconcentração industrial em São Paulo, 1880-1990. Campinas: Ed. Unicamp, 1996.), o que favoreceu a primeira periferia; por sua vez, o surgimento de deseconomias de aglomeração em São Paulo, com, por exemplo, a elevação do preço dos terrenos, o aumento no custo da mão de obra e o aparecimento de congestionamentos e problemas ambientais (NEGRI, 1996NEGRI, B. Concentração e desconcentração industrial em São Paulo, 1880-1990. Campinas: Ed. Unicamp, 1996.), criou motivações para que a indústria buscasse novas localidades, possibilitando a segunda periferia.
A distinção entre esses dois tipos de periferia se define espacialmente pela distância física em relação ao centro. Embora não usasse tais termos, Azzoni (1986AZZONI, C. R. Indústria e reversão da polarização no Brasil. São Paulo: IPE/USP, 1986.) identificou esse fenômeno ao apontar que as áreas no entorno da grande São Paulo exerciam um nível de atração e de influência diferenciado. Para o autor, um “campo aglomerativo” limitava o espraiamento da indústria e favorecia a aglomeração em um raio de cerca de 150 km da capital paulista (Azzoni, 1986AZZONI, C. R. Indústria e reversão da polarização no Brasil. São Paulo: IPE/USP, 1986.). Esse processo foi visto como uma “desconcentração concentrada” ou uma “extensão dos territórios de concentração industrial” (SAMPAIO, 2009SAMPAIO, S. S. Indústria e território em São Paulo: a estruturação do multicomplexo territorial industrial paulista : 1950-2005. São Paulo: Alínea Editora, 2009., p. 174).
Sampaio (2009SAMPAIO, S. S. Indústria e território em São Paulo: a estruturação do multicomplexo territorial industrial paulista : 1950-2005. São Paulo: Alínea Editora, 2009.), utilizando conceitos de Milton Santos, distingue duas movimentações interdependentes no curso da desconcentração: uma horizontalidade, pautada por arranjos espaciais que se agrupam de forma contínua, e uma verticalidade, definida por pontos que estão integrados, mas de forma descontínua. Para pensar essas dinâmicas na relação centro-periferia, as horizontalidades são associadas à expansão no entorno próximo do centro e as verticalidades, à integração estabelecida com periferias mais distantes.
Na fase de desconcentração observada nas décadas de 1970 e 1980, a importância de manter-se geograficamente próximo ao centro pode ser explicada pelas limitações da infraestrutura de transporte e pelas dificuldades na troca de informações. Cabe lembrar que o sistema de transportes - como será discutido no caso do eixo São Paulo-Brasília - ainda estava em formação, ampliando os custos de deslocamento para as partes mais distantes da capital. A mesma afirmação pode ser feita para a forma de transmissão de informações, uma vez que serviços de processamento de dados e de telecomunicações exigiam altos investimentos. Nessas condições, por um lado, apartar-se da metrópole paulista significava afastar-se do principal mercado consumidor do país, o que podia afetar a competitividade da indústria. Por outro, significava distanciar-se do principal centro formador de mão de obra qualificada, dificultando a aquisição de novos conhecimentos e a troca de informações.
O ponto é que muitas das barreiras até então postas pela infraestrutura de transporte e de comunicações foram superadas na década de 1990 e início do século XXI. No entanto, o peso da proximidade geográfica ao centro econômico persistiu.
Avaliando esse aspecto, estudos apontam que a redução dos custos de transportes acaba sendo limitada, pois as relações de troca entre economias distantes são acompanhadas pelo aumento dos custos de intercâmbio3 3 Por custos de intercâmbio (trade costs) entenda-se a soma de todos os demais custos incluídos na transferência de uma mercadoria ao seu usuário final, fora o custo de transporte (STORPER, 2013). . Isso ocorre pelo fato de as relações a longa distância aumentarem as necessidades de feedbacks, o que gera novos custos4 4 Com base no exemplo da indústria de máquinas, pautado pelo trabalho de Gertler (2004), Storper (2013) aponta que a transferência de um equipamento de um local para outro inclui, além do deslocamento do produto, custos associados à personalização, à instalação e ao treinamento da mão de obra. (Storper, 2013STORPER, M. Keys to the City: How economics, institutions, social interactions, and politics shape development. Princeton: Princeton University Press, 2013. ). Nesse panorama, enquanto os custos decrescentes no descolamento das mercadorias constituem-se como uma força que estimula a desintegração das atividades no espaço, os custos adicionais que surgem nas relações de troca atuam no sentido inverso, fortalecendo a reintegração e a vantagem de manter laços comerciais no nível local (Scott, 2006SCOTT, A. J. Geography and Economy: Three Lectures. Oxford: Clarendon Press, 2006.). Com efeito, estar geograficamente próximo ao mercado consumidor se mantém economicamente mais rentável.
A evolução no sistema de informações faz com que a transmissão, o processamento e o armazenamento das informações passem para um nível mundial com custos decrescentes (LASTRES et al., 1999LASTRES, H. M. M. et al. Globalização e inovação localizada. In: LASTRES, H. M. M.; CASSIOLATO, J. E. Globalização e inovação localizada: Experiências de Sistemas Locais no Mercosul. Brasília: MCT-CNPq-IBICT, 1999.). Entretanto, é importante considerar que informação não é o mesmo que conhecimento economicamente útil ao processo produtivo (SONN; STORPER, 2008SONN, J. W.; STORPER, M. The Increasing Importance of Geographical Proximity in Technological Innovation: An Analysis of U.S. Patent Citations, 1975-1977. Environment and Planning A, v. 40, n. 5, p. 1020-1039, 2008. https://doi.org/10.1068/a3930
https://doi.org/10.1068/a3930...
). Esse tipo de conhecimento apresenta uma alta dimensão tácita, o que dificulta sua transmissão a longa distância com o uso de tecnologias de comunicação. Nesse caso, é essencial um contato face a face - em que uma linguagem verbal e física está presente -, frequente entre trabalhadores e pesquisadores5
5
Não se trata de afirmar que nenhum tipo de conhecimento complexo possa ser transmitido à longa distância (STORPER, 2000), mas apontar que, nessa situação, a proximidade entre os atores é central.
(Storper; Venables, 2004STORPER, M.; VENABLES, A. J. Buzz: face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, v. 4, n. 4, p. 351-370, 2004. https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh027
https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh027...
). A indústria continua dependendo de laços mais estreitos com instituições de ensino formadoras de mão de obra qualificada, sobretudo quando está engajada em projetos para o desenvolvimento de novas tecnologias. Assim, como a estrutura de Ciência & Tecnologia (C&T) no Estado de São Paulo continua concentrada em um “grande entorno” da capital (SUZIGAN et al., 2005SUZIGAN, W. et al. A dimensão regional das atividades de CT&I no Estado de São Paulo. In: LANDI, F. R. (Org.). Indicadores de CT&I em São Paulo - 2004. São Paulo: Fapesp, 2005. p. 9-44. <Available at: https://goo.gl/yl1uUg >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
https://goo.gl/yl1uUg...
), estar junto a esse ambiente é essencial.
Diante disso, pode-se afirmar que as possibilidades de integração promovidas no processo de globalização não anulam o quesito proximidade geográfica e que os dois tipos de periferização ainda são definidos pela distância estabelecida em relação ao centro. O estudo do eixo São Paulo-Brasília apresenta-se como uma forma de testar essa hipótese.
Formação e configuração do eixo São Paulo-Brasília: melhoria nos sistemas de transportes e de comunicações
A formação do eixo que hoje estabelece a comunicação entre São Paulo e Brasília tem origens históricas no período colonial, mais precisamente, entre o final do século XVII e início do século XVIII, momento em que avançaram as buscas pelo ouro. A partir disso, algumas rotas de São Paulo em direção ao interior do território foram traçadas. Entre elas, o Caminho do Anhanguera - também conhecido como Estrada Real ou Picada de Goiás -, que seguia rumo à atual região de Franca, atravessando o Rio Grande em direção às imediações das atuais Uberaba e Araguari e seguindo, para além do Rio Paranaíba, até o atual município de Catalão e, depois, ao Arraial de Vila Boa (Brandão, 1989BRANDÃO, C. A. Capital Comercial, Geopolítica e Agroindústria. 1989. Dissertation (Master in Economy) - Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1989. ).
Esse trajeto ganhou maior relevância no final do século XIX com o crescimento da produção de café em São Paulo e a formação de nexos mercantis, como a comercialização de alimentos. A essência desse processo repousou no próprio funcionamento da economia cafeeira (Martins, 1986MARTINS, J. S. O cativeiro da terra. São Paulo: Hucitec, 1986.). Em momentos iniciais, era possível aos fazendeiros produzirem o alimento (feijão, milho e arroz) de forma intercalar ao café. Porém, na medida em que a fronteira se movia para o oeste, os pés de café passavam a ser plantados mais próximos uns dos outros, limitando a produção alimentícia. Esse sistema produtivo, em conjunto com o expressivo crescimento populacional (motivado pela imigração europeia) e o aumento da urbanização em São Paulo, criou uma condição favorável para que áreas mais no interior do território nacional ampliassem sua produção de alimentos. Regiões como o Triângulo Mineiro e o sul do Estado de Goiás despontaram, assim, como fornecedores de carne e cereais para a emergente economia paulista que se formava com o café.
Nesse contexto, aos poucos, o traçado do Caminho do Anhanguera seria incorporado ao sistema ferroviário. A parte paulista e do Triângulo Mineiro ficou a cargo da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Essa empresa, tendo seu ponto inicial em Campinas, seguiu, inicialmente, em direção a Mogi Mirim. Em 1883, a linha se estendeu até Ribeirão Preto; cinco anos depois, atingiu Franca. A entrada em Minas Gerais ocorreu em 1889, com a ligação de Uberaba, e, em 1896, o trajeto chegou à cidade Araguari (CMEF, 2016CMEF. Histórico da construção. <Available at: http://goo.gl/gHjy6h >. Accessed on: 12th March 2016.
http://goo.gl/gHjy6h...
). Na primeira década do século XX, com a Companhia de Ferro Goiás, iniciou-se a construção do trajeto que interligou Goiás à Companhia Mogiana de Estradas de Ferro (CMEF). Em 1913, esses trilhos estavam na altura de Catalão, de onde seguiam para Anápolis, trajeto concluído em 1935 (Castilho, 2012CASTILHO, D. Estado e rede de transportes em Goiás-Brasil (1889-1950). Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografia y Ciencias Sociales, v. 16, n. 418, 2012. <Available at: https://goo.gl/OdgbOC >. Accessed on: 13th Dec. 2016.
https://goo.gl/OdgbOC...
).
Uma nova fase do eixo que viria a conectar São Paulo e Brasília começou a partir de 1930, quando o transporte rodoviário passou a ser objeto de políticas que visavam promover a integração nacional (Silveira, 2003SILVEIRA, M. R. A Importância Geoeconômica das Estradas de Ferro no Brasil. 2003. 454 f. Thesis (Doctorate in Geography) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Presidente Prudente, 2003. <Available at: http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/101439/silveira_mr_dr_prud.pdf?sequence=1 >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
http://repositorio.unesp.br/bitstream/ha...
). Nesse contexto, em 1939, a partir de um projeto de Adhemar de Barros, iniciou-se a construção do trecho da Via Anhanguera, inicialmente responsável por interligar São Paulo a Jundiaí. Em 1947, foi concluída a pavimentação de 44 km do eixo São Paulo-Jundiaí, e, nesse mesmo ano, se “agilizou a movimentação de terras do trecho Jundiaí-Campinas, que seria concluído em 1948” (Cannabrava Filho, 2004CANNABRAVA FILHO, P. Ademar de Barros: trajetória e realizações. São Paulo: Terceiro Nome, 2004., p. 110). A chegada ao município de Ribeirão Preto, que na época já era um núcleo industrial próspero do interior paulista (Negri, 1996NEGRI, B. Concentração e desconcentração industrial em São Paulo, 1880-1990. Campinas: Ed. Unicamp, 1996.), foi somente uma questão de tempo. Em 1953, uma primeira intervenção nesse sentido foi feita com a construção de uma via ainda sem pavimentação (Mesquita, 2011MESQUITA, F. C. O processo de desconcentração industrial no eixo de desenvolvimento São Paulo-Brasília e a dinâmica do setor de alimentos e bebidas em Uberlândia (MG). 2011. 202 f. Dissertation (Master in Geography) - Instituto de Geociências, Universidade Estatual de Campinas, Campinas, 2011. <Available at: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000796941 >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/...
).
Com a inauguração de Brasília e com os planos relacionados ao aprofundamento do transporte rodoviário, aceleraram-se os investimentos em rodovias nessa parte do país. Em 1959, o trecho de Ribeirão Preto encontrava-se totalmente pavimentado, e, em 1961, foi concluído o traçado em direção ao município de Igarapava.
Desde então, a integração do Triângulo Mineiro, por meio de Uberaba e Uberlândia, com o sistema rodoviário paulista despertou o interesse das classes dirigentes de Minas Gerais e de São Paulo. A mesma afirmação, entretanto, não pode ser feita em relação a Goiás6 6 Como aponta Guimarães (1990, p. 124), “o governo goiano não só tentou boicotar a rodovia BR-116 [BR-050], como também procurou desviar as verbas da mesma para uma ligação Goiânia-Cristalina (entroncamento da BR-040)”. Quem esteve por trás da construção do trajeto pela BR-050 foram políticos e empresários de São Paulo. . Houve, na época, uma competição entre o eixo São Paulo-Brasília pela BR-050 e pela BR-153 - rota que passava por Goiânia e São José do Rio Preto, posicionando-se, de forma estratégica, no oeste do Triângulo, sem cortar seus principais municípios. Essa segunda via manteve, “durante a construção de Brasília, e até os primeiros anos da década de [19]60”, a exclusividade no transporte rodoviário realizado entre a capital federal e São Paulo (Guimarães, 1990GUIMARÃES, E. N. Infra-estrutura pública e movimento de capitais: a inserção do Triângulo Mineiro na divisão inter-regional do trabalho. 1990. Dissertation (Master) - Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1990., p. 123).
A conclusão do eixo rodoviário pela BR-050, embora de forma conflituosa, foi alcançada nas décadas posteriores. Em 1961, o trajeto de Uberaba a Araguari estava em operação, mas ainda sem pavimentação. A ligação asfáltica foi concluída apenas em 1968 e o trajeto rumo a Brasília, via Catalão e Cristalina, em 1974 (Guimarães, 1990GUIMARÃES, E. N. Infra-estrutura pública e movimento de capitais: a inserção do Triângulo Mineiro na divisão inter-regional do trabalho. 1990. Dissertation (Master) - Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1990.). Nesse momento, finalizou-se a construção da principal via de integração entre o porto de Santos, São Paulo e Brasília.
Na década de 1990 e no início do século XXI, o eixo São Paulo-Brasília recebeu novos investimentos em seu sistema de transporte, aprimorando o sistema de logística e de articulação no seu trajeto. Ampliou-se a duplicação das rodovias Anhanguera e BR-050 até a cidade de Araguari. O trajeto ferroviário, já controlado pela FCA, interligou ramais em Brasília e Goiânia, sendo um importante corredor de exportação para os produtos agropecuários do Centro-Oeste e do Triângulo Mineiro. Em 1996, foi inaugurado o Oleoduto São Paulo-Brasília (OSBRA), com uma extensão total de 964 km, facilitando o escoamento de combustíveis da Refinaria de Paulínia (REPLAN). Ademais, ainda está em andamento um projeto da Logum Logística7 7 A Logum Logística representa um conjunto de seis empresas. Da construção civil, estão a Odebrecht Transporte e Participações e a Camargo Corrêa Construção e Participações. Ligadas à agroindústria canavieira, estão a Raízen, a Petrobras e a Copersucar. E do ramo de logística está a Uniduto Logística. para a construção de um alcoolduto que interligará São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Em 2013, foi concluída a primeira fase do projeto, que estabeleceu uma conexão entre a REPLAN e Ribeirão Preto - um total de 207 km.
Junto disso, cumpre destacar que os núcleos urbanos desse eixo se beneficiaram com a construção de um novo sistema de comunicações constituído por cabos de fibra ótica que acompanham toda a extensão do trajeto das rodovias Anhanguera e BR-050, acelerando, assim, a transmissão de informações.
Subdivisões do eixo São Paulo-Brasília: elementos para o estudo da atividade industrial
O processo de desconcentração industrial, usualmente, é estudado em duas escalas: a nacional, com ênfase na redução da participação de São Paulo e nos ganhos de outras unidades federativas (Diniz, 2000DINIZ, C. C. Impactos territoriais da reestruturação produtiva. In: RIBEIRO, L. C. Q. (Org.). O futuro das metrópoles: desigualdades e governabilidade. Rio de Janeiro: Revan, 2000. p. 21-60. ; Cano, 2008CANO, W. Desconcentração produtiva regional do Brasil (1970-2005). São Paulo: Ed. UNESP, 2008.); e a estadual, com enfoque no crescimento do interior paulista e na diminuição do percentual da RMSP (Lencioni, 1994LENCIONI, S. Reestruturação Urbano-Industrial no Estado de São Paulo: a região da metrópole desconcentrada. Espaços & Debates, v. 38, p. 54-61, 1994.; Sampaio, 2009SAMPAIO, S. S. Indústria e território em São Paulo: a estruturação do multicomplexo territorial industrial paulista : 1950-2005. São Paulo: Alínea Editora, 2009.).
No entanto, alguns aspectos do cenário industrial sugerem a necessidade de uma terceira abordagem - esta, de certa forma, pode ser vista como um desdobramento da segunda - em que duas condições devem ser incluídas:
-
A extensão da periferia interligada com a RMSP a outras unidades da federação, como o Triângulo Mineiro e o Sudeste de Goiás;
-
A identificação da heterogeneidade estrutural existente na periferia, que compreende tanto regiões muito dinâmicas quanto áreas pouco dinâmicas.
O primeiro ponto ressalta o fato de que a integração promovida pelo eixo São Paulo -Brasília representa a extensão do poder de influência do centro em outras unidades da federação, como Minas Gerais e Goiás. Esse sistema faz com que o Triângulo Mineiro e o Sudeste de Goiás sejam aqui enquadrados como periferias de São Paulo. Em relação ao segundo ponto, observa-se uma ênfase na existência, dentro da formação territorial brasileira, de heterogeneidades sociais, regionais e produtivas (Brandão, 2007BRANDÃO, C. A. Território & desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.).
Para captar a dimensão desses fenômenos, este artigo aplica ao eixo São Paulo-Brasília a proposta de Furtado (1986FURTADO, A. T. Desconcentração Industrial. In: PATARRA, N. (Org.). Desconcentração Industrial. São Paulo: Fundação SEADE, 1986. p. 1-47. )8 8 Importante destacar que o estudo de Furtado (1986) faz essa divisão para o estado de São Paulo. A associação com um eixo é uma leitura que está sendo feita pelos autores. de separar a periferia de São Paulo em três subdivisões. Primeiramente, a periferia próxima, caracterizada por arranjos horizontais no centro, onde há um maior nível de urbanização, institutos de ensino e pesquisa e uma maior diversificação produtiva. Em segundo lugar, a periferia distante, caracterizada pelas verticalidades, nas quais se observa uma alta dependência da exploração de recursos naturais ou do trabalho intensivo com baixa qualificação. E, por fim, entre essas duas subdivisões, a periferia média, caracterizada pelas verticalidades, mas que se constitui em uma primeira área de avanço das horizontalidades, vista, pois, como uma área de transição entre as duas classificações anteriores.
No estudo do eixo, utilizou-se principalmente o recorte em microrregiões do IBGE. Isso se justifica pela necessidade de expandir a zona de influência do eixo para localidades que estão além dos municípios cortados por suas vias de transporte, mas que se inserem em uma mesma dinâmica de crescimento industrial.
Para selecionar as microrregiões, partiu-se do traçado da linha das rodovias Anhanguera e BR-050. Essa escolha se baseou na importância do transporte rodoviário na integração da região periférica do eixo São Paulo-Brasília. Feito isso, dividiu-se o eixo: periferia próxima - Jundiaí e Campinas; periferia média - Limeira, Pirassununga e Ribeirão Preto; e periferia distante - São Joaquim da Barra e Ituverava, em São Paulo, Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, e Catalão, em Goiás. O resultado final é ilustrado no Mapa 1.
Para a análise empírica, foram selecionados os anos de 2002, 2008 e 2014, o que fornece a dimensão de um período de maior crescimento econômico (2002-2008) e outro de menor crescimento (2008-2014).
Na avaliação da disparidade da desconcentração nas periferias próxima, média e distante, a indústria de transformação foi dividida de acordo com sua intensidade tecnológica. Para isso, utilizou-se a tipologia de grupo industriais da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE), inspirada em Furtado e Carvalho (2005FURTADO, A. T.; CARVALHO, R. Q. Padrões de intensidade tecnológica da indústria brasileira: um estudo comparativo com os países centrais. São Paulo em Perspectiva, v. 19, n. 1, p. 70-84, 2005. https://doi.org/10.1590/s0102-88392005000100006
https://doi.org/10.1590/s0102-8839200500...
) e na proposta de tradução da Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), da versão 1.0 para a 2.0 de Sampaio (2015SAMPAIO, D. P. Desindustrialização e estruturas produtivas regionais no Brasil. 2015. 263 f. Thesis (Doctorate in Economic Development) - Instituto de Economia, Universidade Estatual de Campinas, Campinas, 2015. <Available at: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000949414 >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/...
). Os grupos analisados são de alta intensidade tecnológica (AIT); média-alta intensidade tecnológica (MAIT); média-baixa intensidade tecnológica (MBIT); e baixa intensidade tecnológica (BIT).
Os dados utilizados foram obtidos na RAIS. A partir deles, foram postos em discussão o número de empregados com vínculo ativo em 31 de dezembro, a qualificação do trabalho e os salários médios. O indicador de especialização utilizado foi o QL, calculado do seguinte modo:
Onde E refere-se ao número de empregados, r, à região de análise, i, ao grupo industrial em questão, e, ao valor do eixo São Paulo-Brasília, e t, ao total. Valores superiores a 1 indicam um maior grau de especialização do setor na região, enquanto números inferiores a 1 demonstram um menor grau de especialização.
Desconcentração industrial na periferia do eixo São Paulo-Brasília a partir da intensidade tecnológica (2002, 2008 e 2014)
Neste tópico, são apresentados os resultados referentes à análise das periferias do eixo São Paulo-Brasília. Por conseguinte, expõem-se os dados sobre o número de empregos, o quociente locacional e, por fim, a base de salários e a qualificação da mão de obra.
Número de empregos na indústria de transformação
O total de empregos na indústria de transformação na periferia do eixo São Paulo-Brasília aumentou de 341,75 mil, em 2002, para 506,16 mil em 2008 e para 548,75 mil em 2014, o que gerou uma taxa média de crescimento de 4% ao ano (a.a.).
Entre 2002 e 2008, a periferia próxima caiu de 59,0% do total de empregados do eixo São Paulo-Brasília para 57,6%, mantendo-se nessa faixa, com 57,7%, em 2014. A periferia média subiu de 25,2% para 26,6% entre 2002 e 2008, passando para 26,9% em 2014. A periferia distante manteve a mesma participação de 15,8% entre 2002 e 2008, caindo para 15,4% em 2014.
O crescimento industrial é detalhado no Mapa 2, feito com base na participação de cada município no total do emprego industrial do eixo São Paulo-Brasília em 2002 e 2014.
No mapa, vê-se a formação de uma aglomeração urbana-industrial nas microrregiões da periferia próxima. Esse fato fica evidente na microrregião de Campinas, em que a queda de 2,91 p.p. na participação no eixo São Paulo-Brasília de seu município principal, entre 2002 e 2014, foi, de certa forma, compensada pelo crescimento dos municípios contínuos de Hortolândia (0,90 p.p.), Sumaré (0,69 p.p.), Vinhedo (0,63 p.p.) e Indaiatuba (0,60 p.p.). Na periferia média, evento similar, embora com menor intensidade, ocorreu na microrregião de Ribeirão Preto, cujo município homônimo teve uma redução de 0,07 p.p., mas Sertãozinho e Cravinhos aumentaram em 0,52 p.p. e 0,36 p.p., respectivamente. Por outro lado, na periferia distante, os municípios principais das microrregiões absorveram quase a totalidade da indústria na microrregião. Assim, quedas como em Uberlândia (-1,31 p.p.) e Uberaba (-0,58 p.p.) não foram compensadas na esfera local. Na periferia distante, a queda só não foi maior devido à emergência de Catalão como um núcleo industrial. Esse município cresceu 0,65 p.p., induzido pela construção de uma unidade da Mitsubishi e por recentes investimentos em indústrias produtoras de insumos e equipamentos para a agricultura.
A distinção entre a dinâmica industrial das periferias do eixo São Paulo-Brasília não é apenas quantitativa, mas também qualitativa. Essa afirmação é evidenciada na localização dos grupos de AIT, MAIT, MBIT e BIT em suas diferentes partes, como expressa o Gráfico 1.
A periferia próxima, que, em 2002, registrou 81,2% do total do emprego do grupo de AIT no eixo São Paulo-Brasília, aumentou sua participação para 85,1% em 2008 e 85,2% em 2014. Todavia, esse grupo teve uma queda na periferia média e um pequeno aumento na periferia distante - isso se constituiu como algo residual no caso desta última.
Empregados da indústria de transformação no total do eixo São Paulo-Brasília (em %, vínculos ativos em 31/12)
A desconcentração no eixo foi mais efetiva nos grupos de MAIT e de BIT, nos quais a periferia próxima teve perdas de, respectivamente, 5,3 p.p. e 3,1 p.p. entre 2002 e 2014. No grupo de MAIT, tanto a periferia média quanto a distante apresentaram índices positivos de crescimento no período. Já no grupo de BIT, o movimento de desconcentração foi impulsionado essencialmente pela periferia média. As atividades de BIT, embora sejam aquelas em que a periferia distante teve maior competitividade, apresentaram uma redução no momento posterior à crise internacional de 2008 e de desaceleração do crescimento econômico do país após 2010, resultando na queda em valores relativos (-2,5 p.p.) e absolutos (4,2 mil dos vínculos empregatícios) entre 2008 e 2014.
Quociente locacional e disparidades tecnológicas da indústria de transformação
Um segundo dado que reforça as evidências a respeito dos limites da desconcentração industrial e do aumento da heterogeneidade regional nas periferias do eixo São Paulo-Brasília é o grau de especialização quanto à intensidade tecnológica, medido com base no QL. Esse dado é apresentado na Tabela 1.
Em tais dados, pode-se observar, de início, o grau de especialização da periferia próxima no grupo de AIT. Esse resultado se deve, basicamente, ao dinamismo de duas atividades: a indústria farmacêutica, que conta com empresas como a Rhodia, Medley (Campinas) e EMS (Hortolândia), e a eletroeletrônica, em que é marcante a presença de players globais como a Dell, ZTE (Hortolândia), Ericsson (Indaiatuba), HP, Foxconn, Siemens (Jundiaí) e Samsung (Campinas).
Entre as razões que explicam o crescimento desse tipo de indústria está o fato de a periferia próxima propiciar uma geração de conhecimento útil ao processo produtivo. Nesse ponto, tem destaque o papel de Campinas, onde há um “ambiente extremamente favorável à pesquisa, que começou a ser formado a partir da presença de vários centros de pesquisa agrícola e da implantação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em 1962” (DINIZ; GONÇALVES, 2005DINIZ, C. C.; GONÇALVES, E. Conhecimento e Desenvolvimento Regional. In: DINIZ, C. C.; LEMOS, M. B. (Org.). Economia e Território. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. p. 131-170., p. 160). Junto ao sistema universitário, assume relevância os Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) - como o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e o Instituto de Pesquisas Eldorado (BALDONI, 2015BALDONI, L. A estratégia empreendedora da Unicamp para a consolidação do Parque Científico e Tecnológico. 2015. 140 f. Dissertation (Master in Geography) - Instituto de Geociências, Universidade Estatual de Campinas, Campinas, 2015. <Available at: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000955298 >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/...
) - e os cursos técnicos para formação da mão de obra industrial (SUZIGAN et al., 2005SUZIGAN, W. et al. A dimensão regional das atividades de CT&I no Estado de São Paulo. In: LANDI, F. R. (Org.). Indicadores de CT&I em São Paulo - 2004. São Paulo: Fapesp, 2005. p. 9-44. <Available at: https://goo.gl/yl1uUg >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
https://goo.gl/yl1uUg...
). No conjunto, a periferia próxima tem alta possibilidade de obtenção de mão de obra qualificada e conhecimento tecnológico, facilitando a criação de parcerias e novas tecnologias (GARCIA et al., 2014GARCIA, R. et al. Interações Universidade-Empresa e a Influência Das Características Dos Grupos De Pesquisa Acadêmicos. Revista de Economia Contemporânea, v. 18, n. 1, p. 125-146, 2014. https://doi.org/10.1590/141598481816
https://doi.org/10.1590/141598481816...
).
Ainda no tocante à periferia próxima, é importante destacar o grupo de MAIT, que, embora tenha registrado queda no QL, se manteve acima de 1,0. Nesse caso, a indústria automobilística se destaca, contando com fábricas da Honda (Sumaré) e Toyota (Indaiatuba), resultantes do bloco de investimentos desde a segunda metade dos anos 1990 e dos anos 2000, bem como com algumas indústrias de autopeças, como a Pirelli e a Bosch, ambas em Campinas.
A tabela também evidencia um alto grau de especialização do setor de BIT na periferia distante. Nisso, o principal responsável é o município de Uberlândia, onde se localizam unidades da Cargill, ADM Agrícola e da ABC Agro, relacionadas ao processamento de soja, e da BRF (antiga Sadia), dirigida ao processamento de carnes. Deve-se destacar, também, o papel de Uberaba e do lado paulista da periferia distante, onde se encontram usinas de processamento de cana de açúcar.
O crescimento da atividade agroindustrial na periferia distante pode ser dividido em duas fases. A primeira delas, atrelada à indústria de grãos e carnes, retoma o deslocamento da fronteira agrícola para as regiões de Cerrado a partir da modernização nos anos 1970 e 1980. Esse processo criou um fator de atração favorável à migração de indústrias alimentícias para a região, pois aí elas podiam aumentar as economias de escala em razão da proximidade com a produção que se estabelecia no Brasil Central, sobretudo a de soja (CASTRO; FONSECA, 1995CASTRO, A. C.; FONSECA, M. G. D. A dinâmica agroindustrial do Centro-Oeste. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 1995.). Na época, devido aos poucos núcleos regionais que, até então, haviam se formado no Centro -Oeste, Uberlândia passou a polarizar recursos dessa região e a atrair agroindústrias (MESQUITA, 2011MESQUITA, F. C. O processo de desconcentração industrial no eixo de desenvolvimento São Paulo-Brasília e a dinâmica do setor de alimentos e bebidas em Uberlândia (MG). 2011. 202 f. Dissertation (Master in Geography) - Instituto de Geociências, Universidade Estatual de Campinas, Campinas, 2011. <Available at: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000796941 >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/...
). A segunda fase, associada à agroindústria canavieira, ocorreu durante a década de 2000, quando sinais de um esgotamento das zonas tradicionais de São Paulo (como Piracicaba e Ribeirão Preto) começavam a se manifestar de forma mais intensa (FIGUEIRA; PEDROSA; BELIK, 2013FIGUEIRA, S.; BELIK, W.; VICENTE, A. K. Escala e concentração das usinas de açúcar e álcool e empresas do setor no Estado de São Paulo. In: CONGRESSO DA SOBER, 52., 2014, Goiânia. Anais.... Goiânia: SOBER, 2014. p. 1-16.). Esse movimento ocorre simultaneamente ao crescimento do mercado de etanol e açúcar, o que fez com que investimentos para a construção de usinas fossem feitos em novas regiões, dentre as quais se destacam as microrregiões da periferia distante.
A periferia média encontra-se em uma posição intermediária em relação à próxima e à distante. Nessa subdivisão, merece destaque o papel de Ribeirão Preto. Nessa microrregião, a indústria historicamente se desenvolveu em associação com a agricultura, seja no processamento de cana de açúcar, seja na produção de insumos industriais. No entanto, atualmente se presencia uma diversificação da estrutura industrial com o crescimento do setor de equipamentos médicos e hospitalares. Segundo Suzigan et al. (2005SUZIGAN, W. et al. A dimensão regional das atividades de CT&I no Estado de São Paulo. In: LANDI, F. R. (Org.). Indicadores de CT&I em São Paulo - 2004. São Paulo: Fapesp, 2005. p. 9-44. <Available at: https://goo.gl/yl1uUg >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
https://goo.gl/yl1uUg...
, p. 10), a única microrregião fora do grande eixo “que se forma a partir da RMSP e que se encontra entre as dez maiores microrregiões em termos de participação no emprego das ocupações tecnológicas é a de Ribeirão Preto”. Isso se deve a uma valorização da pesquisa científica desenvolvida por meio da Universidade de São Paulo (USP) e da Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde (FIPASE).
Ainda que tenha menor interferência no QL, um fenômeno que deve ser destacado na periferia média é o crescimento de alguns setores do grupo de AIT e MAIT na microrregião de Limeira. Esse resultado se deve, respectivamente, ao setor de máquinas e equipamentos (Newton e LC Máquinas) e de componentes para veículos automotores (TRW Automotive e Fumagalli), no município de Limeira, e de química orgânica, em Iracemápolis9 9 Em 2016 foi inaugurada uma planta industrial da Mercedez-Benz nesse município. . Limeira segue reconhecida pela fabricação de semijoias e de cerâmica, porém, pode estar em voga uma primeira expansão de arranjos horizontais da periferia próxima em direção à periferia média.
Salário médio real e qualificação da mão de obra
Por último, cabe discutir fatores relacionados ao nível dos salários e da qualificação da mão de obra. Esses dados ajudam a analisar as informações levantadas anteriormente e a salientar que a heterogeneidade do eixo São Paulo-Brasília se trata de um fenômeno tanto econômico quanto social. A Tabela 2 apresenta essa relação no âmbito dos salários médios.
Destaque-se que, embora se tenha, em todo o eixo, um crescimento do valor total10 10 Foram poucos os grupos e períodos em que se observou uma redução do salário médio real. Na periferia próxima, em MAIT há uma redução de R$ 4,00 de 2002 a 2008; na periferia média, em MAIT há uma redução de aproximadamente 13% de 2002 a 2008; por fim, cabe assinalar que na periferia distante não há reduções. dos salários ao longo dos períodos selecionados, persiste uma distinção em todos os níveis entre as periferias próxima, média e distante. É importante notar como a média dos salários se reduz na medida em que se aumenta a distância para o centro.
Os salários da periferia próxima são os mais elevados em todos os grupos industriais, mas a diferença é maior nos grupos de AIT e de MAIT. Mesmo em comparação com periferia média, tem-se uma diferença bastante expressiva. Nesse caso, tendo o ano de 2014 como base, o salário da periferia próxima foi 43,8% maior no grupo de AIT e 35,9% maior no grupo de MAIT.
Em relação à periferia distante, os menores salários colaboram para evidenciar que o crescimento industrial não está atrelado apenas às atividades intensivas em recursos naturais, como também à busca por mão de obra de menor custo. Esse pode ser um fator explicativo para os grupos de BIT, MBIT e MAIT. Note-se que, em comparação com a periferia próxima, em 2014, os salários na periferia distante, no grupo de BIT, foram 34,0% menores; no grupo de MBIT, a diferença foi de 54,0%; e no grupo de MAIT, de 51,0%.
O grau de instrução é uma variável importante na determinação do nível de salários médios reais e na capacidade de gerar inovações. Essa possibilidade está mais presente nos estratos da população que têm escolaridade maior ou igual ao Ensino Superior completo. Uma primeira apreciação desses dados é apresentada pela Tabela 3, que indica a porcentagem dos trabalhadores com e sem Ensino Superior em cada uma das divisões do eixo São Paulo-Brasília.
Inicialmente, é notória a concentração dos trabalhadores com titulação igual e acima de superior completo na periferia próxima. Apesar da redução de 3,47 p.p., registrada entre 2002 e 2014, essa subdivisão se manteve com 70,6% desses empregados no eixo São Paulo-Brasília. Por outro lado, somadas, as periferias média e distante registraram 29,4%.
Tal dado reforça a noção de que, na periferia próxima, o laço com trabalhadores mais qualificados é mais intenso. O maior grau de instrução é essencial em função da necessidade de um maior domínio de aspectos científicos e tecnológicos relacionados diretamente com o processo de inovação e com o aumento de produtividade industrial. Nesses processos, a periferia próxima se mostra com um representativo diferencial no eixo.
Considerações Finais
O artigo demonstrou que as melhorias na infraestrutura de transportes e no sistema de comunicações, que tornam o eixo São Paulo-Brasília uma área privilegiada em termos de comunicações e logística, são acompanhadas do aumento da heterogeneidade industrial. Persiste uma clara distinção entre diferentes tipos de periferização definidos pela distância física em relação ao centro econômico.
A periferia próxima reproduz um modelo de periferia capaz de competir com o centro na atração de indústrias mais dinâmicas, uma vez que oferece vantagens, como menor custo de intercâmbio e ambiente favorável a pesquisas e à qualificação da mão de obra. Nesse sistema, a geração e o uso do conhecimento tácito no processo industrial são mais expressivos e os contatos face a face são mais frequentes. Nessa subdivisão, os salários são os mais elevados e é onde se localiza a maior parcela dos trabalhadores com Ensino Superior.
A periferia distante reproduz a ideia de dependência de atividades intensivas em recursos naturais e/ou trabalho, com indústrias que buscam uma mão de obra de menor custo. As atividades mais expressivas nessa região são as de BIT. Fora desse grupo, apenas o caso da indústria automobilística em Catalão (GO) se destaca. Nessa subdivisão, os salários são menores que aqueles das periferias próxima e média em todos os grupos industriais. Essa área é também onde se encontra a menor parcela de trabalhadores com Ensino Superior no eixo.
A periferia média se constitui como uma região que se desenvolveu com base em indústrias intensivas em recursos naturais. Porém, diferentemente da periferia distante, a subdivisão se encontra em processo de maior diversificação da indústria, algo que ocorre na microrregião de Ribeirão Preto e de Limeira. Por esse motivo, alguns elementos fazem com que a periferia média se aproxime do segundo tipo de periferização, mas, em sua essência, essa subdivisão do eixo segue associada aos grupos de BIT e MBIT.
Em vez de criar um sistema capaz de reduzir as disparidades da indústria, o que se constatou no eixo São Paulo-Brasília, a partir dos dados do QL, foi a acentuação da especialização da periferia próxima nos setores de maior intensidade tecnológica, enquanto a periferia distante concebeu o mesmo processo no grupo de menor intensidade. Na periferia média, o maior grau de especialização esteve no grupo de MBIT.
Desse modo, vê-se que a desconcentração industrial persiste limitada, uma vez que os grupos de AIT e MAIT mantêm arranjos espaciais definidos pelas horizontalidades, o que privilegia, sobretudo, a periferia próxima. Por outro lado, as atividades dos grupos de MBIT e BIT têm maior potencial de crescimento no que concerne a arranjos verticais, sendo estes os principais motores da indústria, tanto na periferia média quanto na distante.
Os resultados corroboram a concepção de que os atuais padrões de localização da indústria vão muito além da relação com os custos de transportes ou fluxos de informações, dependendo, pois, de características locais, tais como parcerias universidade-empresa, pesquisas científicas, contatos face a face e formação local de mão de obra qualificada etc. O ambiente favorável a esse sistema se criou nas áreas contíguas ao centro e pouco mudou com o avanço da globalização e com a maior articulação regional.
Referências
- AUDRETSCH, B.; FELDMAN, P. Innovative Clusters and the Industry Life Cycle. Review of Industrial Organization n. 11. p. 253-273, 1996. https://doi.org/10.1007/bf00157670
» https://doi.org/10.1007/bf00157670 - AZZONI, C. R. Indústria e reversão da polarização no Brasil São Paulo: IPE/USP, 1986.
- BALDONI, L. A estratégia empreendedora da Unicamp para a consolidação do Parque Científico e Tecnológico 2015. 140 f. Dissertation (Master in Geography) - Instituto de Geociências, Universidade Estatual de Campinas, Campinas, 2015. <Available at: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000955298 >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
» http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000955298 - BECKER, B. K. Crescimento econômico e estrutura espacial do Brasil. Revista Brasileira de Geografia, v. 34, n. 4, p. 101-115, 1972.
- BIELSCHOWSKY, R. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo. Rio de Janeiro: INPES/IPEA. 1988.
- BRANDÃO, C. A. Capital Comercial, Geopolítica e Agroindústria 1989. Dissertation (Master in Economy) - Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1989.
- BRANDÃO, C. A. Território & desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.
- CANNABRAVA FILHO, P. Ademar de Barros: trajetória e realizações. São Paulo: Terceiro Nome, 2004.
- CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil (1930-1970). São Paulo: Ed. UNESP, 2007.
- CASTILHO, D. Estado e rede de transportes em Goiás-Brasil (1889-1950). Scripta Nova Revista Electrónica de Geografia y Ciencias Sociales, v. 16, n. 418, 2012. <Available at: https://goo.gl/OdgbOC >. Accessed on: 13th Dec. 2016.
» https://goo.gl/OdgbOC - CASTRO, A. C.; FONSECA, M. G. D. A dinâmica agroindustrial do Centro-Oeste Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 1995.
- CMEF. Histórico da construção <Available at: http://goo.gl/gHjy6h >. Accessed on: 12th March 2016.
» http://goo.gl/gHjy6h - DINIZ, C. C. Dinâmica regional da indústria no Brasil: início de desconcentração, risco de reconcentração. 1991. Thesis (Open competition for Lecturer) - Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1991.
- DINIZ, C. C. Impactos territoriais da reestruturação produtiva. In: RIBEIRO, L. C. Q. (Org.). O futuro das metrópoles: desigualdades e governabilidade. Rio de Janeiro: Revan, 2000. p. 21-60.
- DINIZ, C. C.; GONÇALVES, E. Conhecimento e Desenvolvimento Regional. In: DINIZ, C. C.; LEMOS, M. B. (Org.). Economia e Território Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. p. 131-170.
- EGLER, C. A. G. O que fazer com a geografia econômica neste final de século? Textos Laget, n. 5, 1994. <Available at: https://goo.gl/WGX3xe >. Accessed on: 12th Dec. 2016.
» https://goo.gl/WGX3xe - FIGUEIRA, S.; BELIK, W.; VICENTE, A. K. Escala e concentração das usinas de açúcar e álcool e empresas do setor no Estado de São Paulo. In: CONGRESSO DA SOBER, 52., 2014, Goiânia. Anais... Goiânia: SOBER, 2014. p. 1-16.
- FURTADO, A. T. Desconcentração Industrial. In: PATARRA, N. (Org.). Desconcentração Industrial São Paulo: Fundação SEADE, 1986. p. 1-47.
- FURTADO, A. T.; CARVALHO, R. Q. Padrões de intensidade tecnológica da indústria brasileira: um estudo comparativo com os países centrais. São Paulo em Perspectiva, v. 19, n. 1, p. 70-84, 2005. https://doi.org/10.1590/s0102-88392005000100006
» https://doi.org/10.1590/s0102-88392005000100006 - FURTADO, C. Formação econômica do Brasil Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2007.
- GARCIA, R. et al Interações Universidade-Empresa e a Influência Das Características Dos Grupos De Pesquisa Acadêmicos. Revista de Economia Contemporânea, v. 18, n. 1, p. 125-146, 2014. https://doi.org/10.1590/141598481816
» https://doi.org/10.1590/141598481816 - GUIMARÃES, E. N. Infra-estrutura pública e movimento de capitais: a inserção do Triângulo Mineiro na divisão inter-regional do trabalho. 1990. Dissertation (Master) - Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1990.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Divisão Regional <Available at: https://goo.gl/S2JSCl >. Accessed on: 12th Dec. 2016.
» https://goo.gl/S2JSCl - LASTRES, H. M. M. et al Globalização e inovação localizada. In: LASTRES, H. M. M.; CASSIOLATO, J. E. Globalização e inovação localizada: Experiências de Sistemas Locais no Mercosul. Brasília: MCT-CNPq-IBICT, 1999.
- LENCIONI, S. Reestruturação Urbano-Industrial no Estado de São Paulo: a região da metrópole desconcentrada. Espaços & Debates, v. 38, p. 54-61, 1994.
- MARTINS, J. S. O cativeiro da terra São Paulo: Hucitec, 1986.
- MESQUITA, F. C. O processo de desconcentração industrial no eixo de desenvolvimento São Paulo-Brasília e a dinâmica do setor de alimentos e bebidas em Uberlândia (MG) 2011. 202 f. Dissertation (Master in Geography) - Instituto de Geociências, Universidade Estatual de Campinas, Campinas, 2011. <Available at: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000796941 >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
» http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000796941 - NEGRI, B. Concentração e desconcentração industrial em São Paulo, 1880-1990 Campinas: Ed. Unicamp, 1996.
- PACHECO, C. A. A Fragmentação da Nação Campinas: Ed. Instituto de Economia, 1998.
- PINTO, A. Natureza e implicações da “heterogeneidade estrutural” na América Latina. In: BIELSCHOWSKY, R. (Org.). Cinquenta anos de pensamento da CEPAL v. 2. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2000. p. 567-588.
- PORCILE, G.; YAMILA, E.; CATELA, A. S. Heterogeneidade estrutural na produtividade das firmas brasileiras: uma análise para o período 2000-2008. Estudos Econômicos, n. 8, p. 1-22, 2012. <Available at: http://goo.gl/13k17c >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
» http://goo.gl/13k17c - PREBISCH, R. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus problemas principais problemas [1951]. In: BIELSCHOWSKY, R. (Org.). Cinquenta anos de pensamento da CEPAL Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. v. 1. p. 69-136.
- RODRÍGUEZ, O. O estruturalismo latino-americano Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
- SABOIA, J. A continuidade do processo de desconcentração regional da indústria brasileira nos anos 2000. Nova Economia, v. 23, n. 2, p. 219-278, 2013. https://doi.org/10.1590/s0103-63512013000200001
» https://doi.org/10.1590/s0103-63512013000200001 - SAMPAIO, D. P. Desindustrialização e estruturas produtivas regionais no Brasil 2015. 263 f. Thesis (Doctorate in Economic Development) - Instituto de Economia, Universidade Estatual de Campinas, Campinas, 2015. <Available at: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000949414 >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
» http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000949414 - SAMPAIO, S. S. Indústria e território em São Paulo: a estruturação do multicomplexo territorial industrial paulista : 1950-2005. São Paulo: Alínea Editora, 2009.
- SCOTT, A. J. Geography and Economy: Three Lectures. Oxford: Clarendon Press, 2006.
- SILVEIRA, M. R. A Importância Geoeconômica das Estradas de Ferro no Brasil 2003. 454 f. Thesis (Doctorate in Geography) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Presidente Prudente, 2003. <Available at: http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/101439/silveira_mr_dr_prud.pdf?sequence=1 >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
» http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/101439/silveira_mr_dr_prud.pdf?sequence=1 - SONN, J. W.; STORPER, M. The Increasing Importance of Geographical Proximity in Technological Innovation: An Analysis of U.S. Patent Citations, 1975-1977. Environment and Planning A, v. 40, n. 5, p. 1020-1039, 2008. https://doi.org/10.1068/a3930
» https://doi.org/10.1068/a3930 - STORPER, M. The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. New York; London: Guilford Press, 1997.
- STORPER, M. Globalization, Location and Trade. In: CLARK, C.; FELDMAN, M.; GERTLER, M. Handbook of economic geography Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 146-167.
- STORPER, M. Keys to the City: How economics, institutions, social interactions, and politics shape development. Princeton: Princeton University Press, 2013.
- STORPER, M.; VENABLES, A. J. Buzz: face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic Geography, v. 4, n. 4, p. 351-370, 2004. https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh027
» https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh027 - SUZIGAN, W. et al A dimensão regional das atividades de CT&I no Estado de São Paulo. In: LANDI, F. R. (Org.). Indicadores de CT&I em São Paulo - 2004. São Paulo: Fapesp, 2005. p. 9-44. <Available at: https://goo.gl/yl1uUg >. Accessed on: 15th Dec. 2016.
» https://goo.gl/yl1uUg - TAVARES, M. C. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro: ensaios sobre a economia brasileira. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973.
- CANO, W. Desconcentração produtiva regional do Brasil (1970-2005). São Paulo: Ed. UNESP, 2008.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Mapas <Available at: https://goo.gl/HxRD7h >. Accessed on: 18th Dec. 2016.
» https://goo.gl/HxRD7h
-
1
Usualmente, a relação centro-periferia é aplicada à escala internacional, da forma como foi originalmente concebida. A aplicação para a escala nacional, entretanto, acompanha a evolução desse conceito, como pode ser visto em Becker (1972)BECKER, B. K. Crescimento econômico e estrutura espacial do Brasil. Revista Brasileira de Geografia, v. 34, n. 4, p. 101-115, 1972.. No caso deste artigo, a influência está no trabalho de Furtado (1986)FURTADO, A. T. Desconcentração Industrial. In: PATARRA, N. (Org.). Desconcentração Industrial. São Paulo: Fundação SEADE, 1986. p. 1-47. .
-
2
Um trabalho mais aprofundado sobre o ciclo ideológico do desenvolvimentismo no Brasil foi feito por Bielschowsky (1988)BIELSCHOWSKY, R. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo. Rio de Janeiro: INPES/IPEA. 1988.. Para o processo de industrialização por substituição de importações no Brasil, sugere-se Tavares (1973)TAVARES, M. C. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro: ensaios sobre a economia brasileira. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973..
-
3
Por custos de intercâmbio (trade costs) entenda-se a soma de todos os demais custos incluídos na transferência de uma mercadoria ao seu usuário final, fora o custo de transporte (STORPER, 2013STORPER, M. Keys to the City: How economics, institutions, social interactions, and politics shape development. Princeton: Princeton University Press, 2013. ).
-
4
Com base no exemplo da indústria de máquinas, pautado pelo trabalho de Gertler (2004), Storper (2013)STORPER, M. Keys to the City: How economics, institutions, social interactions, and politics shape development. Princeton: Princeton University Press, 2013. aponta que a transferência de um equipamento de um local para outro inclui, além do deslocamento do produto, custos associados à personalização, à instalação e ao treinamento da mão de obra.
-
5
Não se trata de afirmar que nenhum tipo de conhecimento complexo possa ser transmitido à longa distância (STORPER, 2000STORPER, M. Globalization, Location and Trade. In: CLARK, C.; FELDMAN, M.; GERTLER, M. Handbook of economic geography. Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 146-167. ), mas apontar que, nessa situação, a proximidade entre os atores é central.
-
6
Como aponta Guimarães (1990GUIMARÃES, E. N. Infra-estrutura pública e movimento de capitais: a inserção do Triângulo Mineiro na divisão inter-regional do trabalho. 1990. Dissertation (Master) - Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1990., p. 124), “o governo goiano não só tentou boicotar a rodovia BR-116 [BR-050], como também procurou desviar as verbas da mesma para uma ligação Goiânia-Cristalina (entroncamento da BR-040)”. Quem esteve por trás da construção do trajeto pela BR-050 foram políticos e empresários de São Paulo.
-
7
A Logum Logística representa um conjunto de seis empresas. Da construção civil, estão a Odebrecht Transporte e Participações e a Camargo Corrêa Construção e Participações. Ligadas à agroindústria canavieira, estão a Raízen, a Petrobras e a Copersucar. E do ramo de logística está a Uniduto Logística.
-
8
Importante destacar que o estudo de Furtado (1986)FURTADO, A. T. Desconcentração Industrial. In: PATARRA, N. (Org.). Desconcentração Industrial. São Paulo: Fundação SEADE, 1986. p. 1-47. faz essa divisão para o estado de São Paulo. A associação com um eixo é uma leitura que está sendo feita pelos autores.
-
9
Em 2016 foi inaugurada uma planta industrial da Mercedez-Benz nesse município.
-
10
Foram poucos os grupos e períodos em que se observou uma redução do salário médio real. Na periferia próxima, em MAIT há uma redução de R$ 4,00 de 2002 a 2008; na periferia média, em MAIT há uma redução de aproximadamente 13% de 2002 a 2008; por fim, cabe assinalar que na periferia distante não há reduções.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
14 Ago 2023 -
Data do Fascículo
May-Aug 2017
Histórico
-
Recebido
02 Maio 2016 -
Aceito
17 Nov 2016
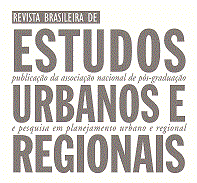




 Fonte: Elaboração própria a partir de
Fonte: Elaboração própria a partir de  Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados da RAIS (2002 e 2014).
Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados da RAIS (2002 e 2014).
 Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados da RAIS (2002, 2008 e 2014).
Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados da RAIS (2002, 2008 e 2014).