RESUMO
Introdução/Objetivo:
Estudo de natureza quantitativa-descritiva, que teve como objetivo básico obter uma visão da produtividade científica brasileira na área de células-tronco, no período de 2001 a 2019, por meio dos indicadores bibliométricos de produção científica.
Metodologia:
Considerou-se como unidade de análise os artigos originais e indexados na Web of Science, contemplando pelo menos um autor com afiliação brasileira.
Resultados:
Os resultados evidenciam um crescimento, que acompanha o cenário mundial, do número de artigos (4.675) e autores (25.050), com tendência pela autoria múltipla (99,25%). Cinco periódicos se destacam, pelo número de artigos publicados: o Plos One (128), Scientific Reports (65), Stem Cell Research & Therapy (55), Brazilian Journal of Medical and Biological Research (54) e Biology of Blood and Marrow Transplantation (49).
Conclusão:
As pesquisas foram concentradas em hematologia até 2005 e, partir de 2006, a biologia celular passou a ocupar a centralidade dos estudos e pesquisas, tanto nacionalmente como mundialmente.
PALAVRAS-CHAVE:
Produtividade científica; Indicadores; Bibliometria
ABSTRACT
Introduction/Objective:
Quantitative-descriptive study, whose aim was to obtain a scientific production overview in Brazilian stem cells area, in the period from 2001 to 2019, through bibliometrics indicators of scientific production.
Methodology:
It has considered original and indexed articles on the Web of Science, including at least one Brazilian author.
Results:
The results showed an increase, much like the world scenario, in the number of articles (4.675) and authors (25.050), with a tendency for multiple authorship (99.25%). Five periodicals are highlighted by the number of articles published: Plos One (128), Scientific Reports (65), Stem Cell Research & Therapy (55), Brazilian Journal of Medical and Biological Research (54) and Biology of Blood and Marrow Transplantation (49).
Conclusion:
The research was concentrated in the hematology area until 2005 and, from 2006 on, cell biology started to occupy the centrality of studies and research both nationally and worldwide.
KEYWORDS:
Scientific production; Indicators; Bibliometrics
1 INTRODUÇÃO
Neste artigo, analisamos a produção proveniente da pesquisa científica brasileira na área de células-tronco, abrangendo 15 anos, ou seja, de 2001 a 2019. Para fins deste estudo, considera-se a área de células-tronco compreendendo todos os estudos com e em células-tronco, sem fazer recorte por um tipo ou outro de estudo ou de células-tronco.
A monitoração e análise da produção cientifica permite identificar estágios de desenvolvimento e, nesse contexto, os indicadores bibliométricos no tema colaboram ao identificarem pontos relevantes na dinâmica da área. Para este estudo, foram selecionadas as células-tronco, devido à sua característica de multidisciplinaridade (SEGURA et al. 2007SEGURA, Dora de Castro Agulhon et al. Células-tronco: as células capazes de gerar outros tipos de células. Arquivos de Ciências da Saúde da Unipar, v. 11, n. 2, p. 115-152, maio/ago. 2007. Disponivel em: https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/1522. Acesso em: 21 de jun. 2020.
https://revistas.unipar.br/index.php/sau...
), envolvendo variados aspectos de naturezas biológicas, sociais, éticas, religiosas, por exemplo. Ressalta Pereira (2008PEREIRA, Lygia da Veiga. A importância do uso das células-tronco para a saúde pública. Ciência e Saúde Coletiva, v. 13, n. 1, p.7-14. 2008., p. 9) que “[...] as células-tronco se apresentam como uma fonte de aplicações em vários campos nos quais estão se desenvolvendo estudos e pesquisa quer básica e/ou aplicada.”. Esses resultados, quando disseminados, despertam o interesse da comunidade científica - bem como da população em geral - pelos prognósticos positivos de aplicação das células-tronco no tratamento de certas doenças humanas, abrindo possibilidades de perspectivas de novos estudos e pesquisas.
O interesse pela área em estudo, células-tronco, se deve pelo amplo desenvolvimento das pesquisas e dos estudos clínicos, ao redor do mundo e no Brasil, e das possibilidades de uso dessas células não somente em especialidades da medicam - com a hematologia, oftalmologia, cardiologia, por exemplo - mais também na odontologia e em aplicações com biomateriais na medicina regenerativa e na engenharia tecidual, bem como entre outras (RODRIGUES et al. 2018RODRIGUES, Isabella Caroline Pereira et al. Engenharia de tecidos cardíacos: atual estado da arte a respeito de materiais, células e formação tecidual. Einstein (São Paulo), São Paulo, v. 16, n. 3, p. 1-9, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/eins/v16n3/pt_2317-6385-eins-16-03-eRB4538.pdf. Acesso em: 15 jan. 2021.
https://www.scielo.br/pdf/eins/v16n3/pt_...
; SOARES et al., 2007SOARES, Ana Prates et al. Células-tronco em Odontologia. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial, Maringá, v. 12, n. 1, p. 33-40, jan./fev. 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/dpress/v12n1/a06v12n1. Acesso em: 5 jul. 2019.
https://www.scielo.br/pdf/dpress/v12n1/a...
; REHEN, PAULSEN, 2007REHEN, Stevens; PAULSEN, Bruna. Células-tronco: o que são? para que servem. Rio de janeiro: Vieira & Lent, 2007.).
O objetivo deste estudo foi obter uma visão geral da produtividade científica brasileira na área de células-tronco, no período de 2001 a 2019, por meio dos indicadores bibliométricos de produção científica. Utilizou-se como unidade de análise os artigos originais e indexados na Web of Science (WoS), com pelo menos um autor com afiliação brasileira. Esse período foi subdivido em quatro subperíodos de cinco anos cada um (2001-2005, 2006-2010, 2011-2015 e 2016-2019) exceto para o último período que foi de quatro anos (2016-2019), visto que essa subdivisão possibilitou analisar a tendência de crescimento e outros aspectos peculiares à produção científica. Foram delineados como objetivos específicos: (a) levantar o tamanho e crescimento da produção; (b) levantar a produtividade dos autores; (c) identificar o core journals dos periódicos fonte; e (d) identificar as principais áreas de pesquisa.
Este artigo apresenta cinco seções, além da introdução, e uma breve revisão da literatura com ênfase nos indicadores bibliométricos de produção. Em seguida, descrevem-se os procedimentos metodológicos de natureza quantitativa, pautados na Bibliometria e no levantamento de indicadores de produção. Na seção seguinte, a análise e discussão dos dados são apresentados em três subseções e, na sequência, a conclusão e a lista de referências elencando os itens citados que subsidiaram a parte teórica e empírica deste estudo.
2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
A produção científica brasileira tem uma íntima ligação com o ensino superior e principalmente com a pós-graduação, sobretudo a stricto sensu (mestrado e doutorado), “[...] que têm a importante tarefa de preparar os profissionais que deverão atuar nos diferentes setores da sociedade e que serão capazes de contribuir, a partir da formação recebida, para o processo de modernização do país.” (HILU, GISI, 2011HILU, Luciane; GISI, Maria Lourdes. Produção científica no Brasil: um comparativo entre as universidades públicas e privadas. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 10; SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SUBJETIVIDADE E EDUCAÇÃO, 1, Paraná, 2011. p. 5664-5672. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2011/5221_3061.pdf. Acesso em: 31 jul. 2019.
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2...
, p. 5670). Esses cursos, em sua grande parte, estão localizados em universidades públicas. Segundo Hilu e Gisi (2011HILU, Luciane; GISI, Maria Lourdes. Produção científica no Brasil: um comparativo entre as universidades públicas e privadas. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 10; SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SUBJETIVIDADE E EDUCAÇÃO, 1, Paraná, 2011. p. 5664-5672. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2011/5221_3061.pdf. Acesso em: 31 jul. 2019.
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2...
), essas instituições detêm “[...] 82% da oferta dos cursos de mestrado e 90% dos cursos de doutorado [...]”, dado esse comprovado por Cirani, Campanario e Silva, que desenvolveram um estudo analisando a pós-graduação stricto sensu no Brasil, período de 1998 a 2011. Os resultados demostram um aumento do número de cursos, que saltaram de 2.417, em 1999, para 4.660 em 2011. Com a ampliação do número de cursos de pós-graduação no Brasil, houve, portanto, o crescimento de doutores e de mestres. Marques (2019, p. 39) destaca que “O número de doutores titulados evoluiu de 4,9 mil em 1999 para quase 22,9 mil em 2018, um avanço de 370%; o de mestres aumentou no mesmo ritmo, de 15 mil para 51 mil por ano.”.
Pontua Almeida e Guimarães (2013ALMEIDA, Elenara Chaves Edler de; GUIMARÃES, Jorge Almeida. Brazil’s growing production of scientific article how are we doing with review articles and other qualitative indicators? Scientometrics, v. 97. p. 287-315, 2013., p. 290) que o “[...] Brasil faz parte de um pequeno grupo de países (Coréia do Sul, China, Irã, Turquia, Taiwan, Cingapura, Portugal, Hong Kong, Espanha, México e Grécia) que alcançou altas taxas de crescimento (oito vezes ou mais) na produção científica nos últimos 30 anos; ou seja, pelo menos quatro vezes a média mundial no período.”. Destaca-se ainda que o crescimento do número de publicações se deve ao sistema científico global, haja vista que esse encontra-se cada vez mais interconectado (Wong, 2019WONG, Chan-Yuan. A century of scientific publication: towards a theorization of growthbehavior and research‑orientation. Scientometrics, v. 119, p. 357-377, 2019., p. 361)
O crescimento do número de programas de pós-graduação bem como o aumento do número de pesquisadores, colaboram no fortalecimento da ciência brasileira havendo, portanto, uma relação linear entre número de doutores e número de publicações (ALMEIRA, GUIMARÃES, 2013), acrescentam ainda Cirani, Campanario e Silva (2015CIRANI, Claudia Brito Silva; CAMPANARIO, Milton de Abreu; SILVA, Heloisa Helena Marques da. Evolução do ensino da pós-graduação senso estrito no Brasil: análise exploratória e proposições para pesquisa. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 20, n. 1, p. 163-187, mar. 2015., p 174) que “[...] quanto mais cursos de pós-graduação, desde que implantados com qualidade, maior será a produção de conhecimento”.
Examinar a produção científica, um dos produtos de uma pesquisa - quer seja de um autor, grupo de pesquisa, área de conhecimento, universidade ou de um país, por exemplo - permite compor um quadro do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Os indicadores bibliométricos, de produção, impacto e relação possibilitam examinar tendências de pesquisa, bem como mapear e compreender áreas que estão surgindo, as chamadas emergentes, além daquelas consolidadas. Tal realidade científica permite estabelecer prognósticos para a tomada de decisões por parte de gestores universitários ou de agências de fomento à pesquisa, visto que esses indicadores propiciam um conjunto de dados relevantes.
Classificam-se os indicadores bibliométricos como: (a) produção - frequência de um item, podendo ser um autor, uma publicação, instituição, por exemplo; (b) de impacto - tem como unidade de medida a citação e (c) de relação - frequência de coocorrência de coautoria, de citações, podendo ser de autor, periódico e referência (MALTRÁS BARBA, 2003MALTRÁS BARBA, B. Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la ciencia. Gijón: TREA, 2003.; SPINAK, 1996SPINAK, E. Diccionario Enciclopédico de Bibliometría, Cienciometría e Informetría. Caracas: UNESCO, 1996.), os quais refletem a atividade científica, podendo ser aplicados em cenários diferenciados - isto é, em nível micro, meso ou macro dentro de um espaço temporal previamente definido -, e ainda de natureza unidimensional, bidimensional ou multidimensional.
A unidade fundamento para o levantamento de indicadores bibliométricos é a contagem que resulta num valor absoluto, ou seja, um valor bruto, a qual pode ocorrer na publicação em si ou nas citações, e essa última constitui em elemento básico para os indicadores de impacto e de relação.
Um dos primeiros estudos, apontado na literatura (MALTRÁS BARBA, 2003MALTRÁS BARBA, B. Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la ciencia. Gijón: TREA, 2003.; SPINAK, 1996SPINAK, E. Diccionario Enciclopédico de Bibliometría, Cienciometría e Informetría. Caracas: UNESCO, 1996.), a utilizar a contagem de publicações, foi realizado por Cole y Eales, em 1917, que analisaram as publicações de anatomia publicadas no período de 1543 a 1860. Em seguida, outro estudo, datado de 1923 e de autoria de Hulme, fez uma análise da história da ciência, e, em 1927, Gross y Gross realizaram uma nova modalidade de estudo, passando a contabilizar as referências em artigos da área de química, indexados no The Journal of the American Chemistry Society.
Os estudos de Cole y Eales, Hulme e Gross y Gross fizeram uso do indicador mais simples, ou seja, o indicador de produtividade, que tem como procedimento a contagem de uma publicação, por exemplo, a partir da qual derivam-se outros indicadores envolvendo cálculos básicos de matemática e/ou estatística como taxa de crescimento, proporção, tempo de duplicação, média de produção, equações de crescimento (linear, exponencial etc.), índices de produtividade, índice de colaboração, entre outros. Observa Maltrás Barba (2003, p. 127) que esses indicadores são uma “aproximação estimativa” da produção científica.
Vale ressaltar que alguns desses indicadores estão disponíveis em base de dados multidisciplinar, como a Web of Science, Scopus e SciELO, que se constituem uma das principais fontes de dados para o levantamento de indicadores bibliométricos. No entanto, essas bases não cobrem toda a produção científica, visto que nem todas as publicações são indexadas nelas, pois cada uma delas tem sua política de indexação (PACKER, 2014PACKER, Abel Laerte. A eclosão dos periódicos do Brasil e cenários para o seu porvir. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 40, n. 2, p. 301-323, jun. 2014. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022014000200002&lng=pt &nrm=iso. Acesso em: 06 ago. 2019.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
).
É oportuno ressaltar que a partir dessa contagem - quer de publicadores ou autores -, Bradford e Lotka propuseram suas leis, que formam o conjunto de leis da Bibliometria, embora tenhamos outras, que não abrangem o escopo deste artigo. Assim, em 1927, Alfred J. Lotka publicou seu estudo relacionado com a contagem de autores - hoje conhecido como Lei de Lotka ou Lei do Quadrado Inverso (MACHADO JUNIOR et al, 2016MACHADO, Raymundo N.; VARGAS-QUESADA, Benjamin; LETA, Jacqueline. Intellectual structure in stem cell research: exploring Brazilian scientific articles from 2001 to 2010. Scientometrics, v. 106, p. 525-537, 2016.; URBIZAGASTEGUI, 2008URBIZAGASTEGUI, Ruben. A produtividade dos autores sobre a Lei de Lotka. Ciência Informação, Brasília, v. 37, n. 2, p. 87-102, maio/ago. 2008.) -, concluindo que um “[...] número restrito de pesquisadores produz muito em determinada área de conhecimento, enquanto um grande volume de pesquisadores produz pouco.” (MACHADO JUNIOR et al, 2016, p. 113). Em 1934, Samuel Clement Bradfrod propôs a lei da dispersão que prever uma quantidade de periódicos distribuídos em três zonas, sendo que a primeira, que seria o núcleo, contém os títulos mais relevantes e os demais títulos que se distancia do núcleo, respectivamente localizados na segunda e terceira zonas, vão se dispersando em torno do assunto principal o qual está sendo aplicada a lei (MACHADO JUNIOR et al, 2016; VANTI, 2002VANTI, Nadia Aurora Peres. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p.152-162. 2002., p. 153; BRADFORD, 1931).
Todo esse escopo compõe a disciplina Bibliometria no seu contexto descritivo; contudo, os estudos bibliométricos podem ser ainda de cunho avaliativo, que estuda o impacto dos trabalhos publicados e relacional que tem orientação voltada a identificar aspectos cognitivos, tendo por base os indicadores de relação (THELWALL, 2008THELWALL, Mike. Bibliometrics to webometrics. Journal of Information Science, v. 34, n. 4, p. 605-621, 2008.).
3 MÉTODO
Pesquisa de caráter longitudinal e de natureza quantitativa, quanto ao objetivo é de cunho descritiva, pautada na técnica bibliométrica e no levantamento dos indicadores de produção.
Para a análise da produção científica nacional, o período de 2001-2019 foi dividido em quatros subperíodos, sendo três de cinco anos e um de quatro: o 1.º subperíodo abrangeu os anos de 2001 a 2005, o 2.º de 2006 a 2010, o 3.º de 2011 a 2015 e o 4.º de 2016 a 2019. Esse critério de divisão possibilitou uma melhor visualização da dinâmica da área.
A unidade de análise foi o artigo original, visto que esse tipo de publicação é considerado como principal veículo de registro, tendo rápida disseminação o que possibilita o acesso e uso da informação contribuindo para geração de novos conhecimentos.
Os procedimentos foram realizados em duas etapas, sendo que a 1.ª constou do levantamento dos dados na coleção principal da WoS (Clarivate Analytics), o que ocorreu em 13 a 19 de abril de 2016 e atualizado em 20 de abril de 2020, tendo como protocolo de busca - tópico: stem cell*. Primeiramente, foram coletados os dados referentes à produção mundial, abrangendo o período de 2001 a 2019, e em seguida relativo ao Brasil, especificamente para cada subperíodo. Esses registros foram armazenados em arquivos .txt e, posteriormente, realizadas as análises dos dados de cunho exploratório, inferencial e bibliométrico, com o auxílio do Microsoft Excel e do Jamovi (versão 1.2). O nível de significância adotado foi igual a 5%, para os testes estatísticos efetuados (FÁVERO; BELFIORE, 2017FÁVERO, Luiz Paulo Lope.; BELFIORE, Patrícia Prado. Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.).
A 2.ª etapa constou das análises da produção mundial e nacional, e, quando possível, foram estabelecidas comparações; em seguida, foi efetuada a análise bibliométrica descritiva a fim de levantar os indicadores de produção brasileira, por autoria, periódicos e área de pesquisa.
A Lei de Bradford - que estabelece “o núcleo e as áreas de dispersão sobre um determinado assunto em um mesmo conjunto de revistas” (VANTI, 2002VANTI, Nadia Aurora Peres. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p.152-162. 2002., p. 153) - foi aplicada, objetivando levantar os principais periódicos nos quais os pesquisadores brasileiros publicam seus artigos. Esses periódicos estão na 1.ª zona de Bradford, constituído o core da coleção (BRADFORD, 1961BRADFORD, S. C. Documentação. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.).
Quanto à classificação das categorias de pesquisas, adotou-se a do Journal Citation Reports (JCR), disponível no Portal de Periódicos da Capes, que classifica os periódicos em uma ou mais áreas de pesquisas. Desse modo, para cada subperíodo analisado foi levantado um ranking por áreas de pesquisa.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta sessão são apresentados e discutidos os dados em três subseções. Na primeira - ou seja, a 4.1 - serão apresentados os dados da produção absoluta de artigos publicados no Brasil e no mundo; na seção 4.2, o foco recai nos autores; em seguida, na seção 4.3, os periódicos são analisados identificando a coleção-núcleo na qual os pesquisadores publicaram os resultados de seus estudos e pesquisas; e na última seção, a 4.4, as áreas de conhecimento da produção científica brasileira são elencadas com base na classificação adotada pelo JCR.
4.1 Produção Científica em Artigos Publicados no Brasil e no Mundo
No período de 2001 a 2019, foram recuperadas 6.522 publicações, sendo 4.676 (71,70%) artigos originais e 1.846 (26,30%) de outras publicações, como abstract, comunicações em eventos científicos, revisões, capítulo de livro, editorial. Concluiu-se que os artigos são o tipo de publicação predominante pelos pesquisadores brasileiros, de registro e disseminação da informação relacionada à produção científica na área de células-tronco.
Na Tabela 1, temos a distribuição dos dados da produção científica na área de células-tronco, em termos absolutos, mensurada em artigos originais publicados mundialmente e no Brasil. Conforme especificado nos procedimentos metodológicos, o período de 2001 a 2019 foi subdivido em quatro subperíodos - ou seja, o 1.º subperíodo compreendeu os anos de 2001 a 2005, o 2.º de 2006 a 2010, o 3.º abrangeu os anos de 2011 a 2015 e o 4.º 2016-2019. Na Tabela 1, além da produção absoluta nos subperíodos, há, na última coluna, a contribuição brasileira em termos mundiais.
Pode-se verificar, na Tabela 1, o crescimento do número de artigos em ambos cenários, no Brasil esse crescimento, de 234 a 2028 artigos, se deve a vários fatores que podem ter contribuído no avanço das pesquisas na área de células-tronco. Para Zorzanelli et al. (2017ZORZANELLI, Rafaela Teixeira et al. Pesquisa com células-tronco no Brasil: a produção de um novo campo científico. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, v.24, n.1, p.129-144, jan.-mar. 2017., p. 132), “[...] a revogação da Ação de Inconstitucionalidade em relação à Lei de Biossegurança e a criação dos Centros de Terapia Celular e da Rede Nacional de Terapia Celular” teriam impulsionado esse incremento no número de artigos, haja vista que tais ações implementadas geraram uma dinâmica em toda área de pesquisa que teve como objeto de estudo as células-tronco. Acero e Antunes (2011ACERO, Liliana; ANTUNES, Diogo. Conquistas e desafios das pesquisas com Células-Tronco no Brasil. Desenvolvimento em Debate, v. 2, n. 1, p. 97-119, 2011. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/dd/article/view/31926. Acesso em: 18 mar. 2020.
https://revistas.ufrj.br/index.php/dd/ar...
) destacam ainda outros pontos como: (a) os grupos de pesquisa que em 2008 chegaram a 2.843, segundo dados do diretório de grupos de pesquisa do CNPQ, e (b) expansão do número de pesquisadores envolvidos na temática. Para esses autores, “O número de pesquisadores que trabalham nessas áreas foi estimado em 1.703, sendo a grande maioria com nível de doutorado (85.49% deles em PCT e 90.58% em TC).” (ACERO; ANTUNES; 2011ACERO, Liliana; ANTUNES, Diogo. Conquistas e desafios das pesquisas com Células-Tronco no Brasil. Desenvolvimento em Debate, v. 2, n. 1, p. 97-119, 2011. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/dd/article/view/31926. Acesso em: 18 mar. 2020.
https://revistas.ufrj.br/index.php/dd/ar...
, p. 107). PCT seriam as pesquisas sobre células-tronco e TC refere-se à terapia celular.
A comparação do número de artigos em termos mundial e brasileiro pode ser melhor visualizada no Gráfico 1, sendo possível observar o crescimento percentual do número de artigos a partir do 2.º subperíodo quando ultrapassa 100 artigos, precisamente em 2007, e a contribuição mundial do Brasil ultrapassa 1,00%. Podemos inferir que, tanto em termos mundiais como no Brasil houve um crescimento acumulado de natureza exponencial, no qual a duplicação mundial do número de artigos cresceu a intervalos de 3,4 anos, com taxa de crescimento de 22,68% (r2 RECONHECIMENTOS: Não é aplicável. = 0,94); enquanto que a brasileira foi estimada em 29,49%, com tempo de duplicação igual a 2,7 anos (r2 RECONHECIMENTOS: Não é aplicável. = 0,95).
Crescimento mundial e brasileiro do número de artigos na área de células-tronco (2001-2019)
O Brasil, no período analisado (2001-2019), ocupou a 17.ª posição, ao mesmo tempo em que a contribuição dos Estados Unidos (35,69%) ficou muito acima dos demais países; ou seja, ocupou a 1.ª posição, seguido pela China (17,66%). Nesse contexto mundial, merece destaque a posição do Brasil quanto aos países que compõem o BRICS, ocupando a 3.ª posição, e a 1.ª posição entre os países da América Latina.
4.2 Análise da Autoria
Para o período de 2001 a 2019, o indicador de autoria, que demostra o número de autores envolvidos com a produção científica, contabilizou 28.050 autores distintos, que foram estratificados segundo a tipologia de autoria descrita, por subperíodos. na Tabela 2 observamos que o número de artigos assinados por um único autor aumentou durante os subperíodos, mas em escala menor se comparado aos artigos escritos por mais de um autor, que para o período 2001-2019 foi estimado em 99,25%. Tal dado contribui com a literatura no que diz respeito à colaboração científica e das vantagens do trabalho colaborativo no avanço da atividade científica (GRÁCIO, 2018GRÁCIO, Maria Cláudia Cabrini. Colaboração científica: indicadores relacionais de coautoria. Brazilian Journal of Information Studies: Research Trends, v. 12, n. 2, p. 24-32. 2018.; KATZ, MARTIN, 1997KATZ, J. Sylvan; MARTIN, Ben R. What is research collaboration? Research Policy, 26, p. 1-18, 1997.). Quanto a esse crescimento, observam Sidone, Haddad e Mena-Chalco (2003, p. 3) que “A ciência moderna possui como característica principal o aumento do perfil colaborativo em todas suas áreas, visto que cerca de 70% dos artigos produzidos atualmente no mundo estão associados a autores de diferentes instituições e, entre esses, cerca de 44% é oriundo de esforços colaborativos entre pesquisadores de diferentes países e 56% de colaborações entre pesquisadores em território nacional.”.
Na Tabela, 2 apresentamos o comparativo da tipologia da autoria e autores destinos nos quatros subperíodos (2001-2005, 2006-2010, 2011-2015 e 2016-2019) e no período (2001-2019). A distribuição dos autores é caracterizada na autora múltipla, que para esse estudo foi mensurada pelos artigos assinados por dois ou mais autores, dado esse estimado pelo índice de colaboração (Índice de Subramanyam), haja vista que valores próximos de 1 significa alta colaboração (SUBRAMANYAM, 1982SUBRAMANYAM, K. Bibliometric studies of research collaboration: a review. Journal of Information Science, n. 6, p. 33-38, 1982.) e para os quatros subperíodos os valores foram maiores que 0,90. Houve, portanto, tendência dos números de coautores nos subperíodos analisados, enquanto que a autoria única não ultrapassou 0,09% para o período (2001-2019).
Outro dado analisado foi o número de autores por artigo que ultrapassaram a casa dos 20 autores, chegado no 3.º e 4.º subperíodos transpor a mais de 100 autores (Tabela 2).
A mediana e o intervalo interquartil (Tabela 2) também foram mensurados a fim de examinar o número de coautorias/artigos nos subperíodos analisados, assim para o 1.º subperíodo 15,38% dos artigos são de autoria triplica, no 2.º foi estimado 12.60% de artigos assinados por cinco autores, no 3.º há dois tipos de tipologia uma quíntupla (10,21%) e outra óctupla (10,21%) e no 4.º subperíodo houve tendência na tipologia de artigos assinados por sete autores (12,48%).
Pelos dados da tabela 2 podemos perceber que a dinâmica nos subperíodos analisados foi diferenciada, principalmente no que tange ao quantitativo de artigos, tipologia de autorias e autores. A fim de verificar se havia diferenças na distribuição de autorias entre os subperíodos, e após ter verificando a normalidade dos dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (FÁVERO; BELFIORE, 2017FÁVERO, Luiz Paulo Lope.; BELFIORE, Patrícia Prado. Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.), foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis (FÁVERO; BELFIORE, 2017) que detectou diferença estatisticamente significativa (p-valor < 0,05), entre as medianas das autorias, nos quatros subperíodos analisados.
A área de células-tronco tem uma essência multidisciplinar (ZHAO; STROTMANN, 2011ZHAO, Dangzhi; STROTMANN, Andreas. ntellectual structure of stem cell research: a comprehensive author co-citation analysis of a highly collaborative and multidisciplinary field. Scientometrics, v. 87, p. 115-131, 2011.) e agrega pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento científico, levando ao desenvolvimento de pesquisa em colaboração, o que resulta em trabalhos com múltiplas autorias. Vale ressaltar ainda que a colaboração científica é uma característica da ciência moderna, conforme sinalizado por Sidone, Haddad e Mena-Chalco (2003). Outro dado a ser pontuado as pesquisas são de porte internacional e também podem ser consideradas multicêntrico (FOMENTO, 2010; MONTEIRO et al., 2004MONTEIRO, Rosangela et al. Critérios de autoria em trabalhos científicos: um assunto polêmico e delicado. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, São José do Rio Preto, v. 19, n. 4, p. III-VIII, dez. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-76382004000400002&lng=en &nrm=iso. Acesso: 30 abr. 2020.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
), talvez possa explique o alto número de autores nos artigos, além da sua interdisciplinaridade, embora outras variáveis podem ser examinadas o que extrapola o objetivo desse estudo.
No Gráfico 2, visualiza-se a evolução do crescimento do número de autores, paralela ao número de artigos que foram publicados em periódicos nacionais e estrangeiros.
Evolução temporal das autorias e artigos da produção científica brasileira na área de células-tronco (2001-2019)
Pela análise do Gráfico 2, podemos perceber que houve crescimento de natureza exponencial tanto para autorias (r2 RECONHECIMENTOS: Não é aplicável. = 0,96) como para artigos (r2 RECONHECIMENTOS: Não é aplicável. = 0,96), inferindo-se que o expressivo aumento do número de artigos está correlacionado ao número de autores. A fim de verificar a relação entre o número de autores e o número de artigos publicados, foi realizado o teste de regressão linear simples (FÁVERO; BELFIORE, 2017FÁVERO, Luiz Paulo Lope.; BELFIORE, Patrícia Prado. Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.), tendo como variáveis autorias (independente) e artigos (dependente), efetuadas para cada subperíodo. O resultado apresenta, para os quatros subperíodos, que mais de 90,00% das variações do número de artigos são explicadas pelas variações no número de autores.
Ao testar o modelo de regressão, o resultado pelo teste estatístico F, verificou-se que o nível de significância foi menor que 0,05, ressaltando a significância do modelo de regressão linear. Desse modo, nos subperíodos analisados o número de autorias teve significativa influência no quantitativo de artigos.
Quando analisados os autores, a fim de contabilizar o número de artigos por autor, verificou-se o total de 28.050 autores distintos, que publicaram 4.675 artigos, e foram classificados em quatro extratos (PALACIOS-MARQUÉS et al., 2019PALACIOS-MARQUÉS, Ana M. et al. Worldwide scientific production in obstetrics: a bibliometric analysis. Irish Journal of Medical Science, n. 188, p. 913-919, 2019.; URBIZAGASTEGUI, 2008URBIZAGASTEGUI, Ruben. A produtividade dos autores sobre a Lei de Lotka. Ciência Informação, Brasília, v. 37, n. 2, p. 87-102, maio/ago. 2008.). Segundo o total de artigos publicados por autores, nos respectivos subperíodos, os grandes autores foram aqueles que publicaram 10 ou mais artigos, moderados entre 5 a 9, aspirantes entre 3 e 4 e transeuntes com 2 ou 1 artigos.
Na Tabela 3, podemos visualizar a distribuição dos autores pelos estratos nos quatros subperíodos, com crescimento na categoria de grandes autores passando de 1, no primeiro subperíodo, para 51 autores no 4.º subperíodo. Vale ressaltar que esses autores foram responsáveis pela publicação de 10 (≥10) ou mais artigos. Quanto aos autores transeuntes, esses em maior proporção (>90%), podemos inferir que a produção está ligada a um rito acadêmico, relacionando esses autores a alunos de pós-graduação, por exemplo - cujos artigos devem ser resultados de uma atividade acadêmica -, ou autores que contribuíram no desenvolvimento de pesquisa sendo os mesmos de outra área, haja vista o alto grau de colaboração na área de células-tronco, tendo uma forte característica interdisciplinar.
Para o período (2001-2019) verificou a validade da distribuição 20-80, do tipo Pareto, observando que a regra não se aplica a produção cientifica brasileira na área de células-tronco, pois 21,29% dos autores publicaram 44,04% dos artigos enquanto que 78,71% publicaram somente um único artigo.
4.3 Núcleo dos Periódicos
A fim de identificar o núcleo dos periódicos - atendendo desse modo ao objetivo específico -, foi aplicada a Lei de Bradford (BRADFORD, 1961BRADFORD, S. C. Documentação. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.), conhecida como Lei da Dispersão, visando levantar os principais periódicos que concentraram uma alta frequência de artigos publicados pelos pesquisadores brasileiros. Bradford propôs agrupar os periódicos segundo sua produtividade em zonas, sendo que a 1.ª zona contém os periódicos mais relevantes - ou melhor, que publicaram com maior frequência os artigos brasileiros -, o que constitui o núcleo da coleção estudada, e, portanto, os periódicos mais prolíficos. A 2.ª zona podemos denominar intermediária, e na 3.ª zona encontra-se a dispersão, isto é, uma variedade de periódicos com poucos artigos publicados na temática estudada. Observa Machado Junior e colaboradores (2016MACHADO, Raymundo N.; VARGAS-QUESADA, Benjamin; LETA, Jacqueline. Intellectual structure in stem cell research: exploring Brazilian scientific articles from 2001 to 2010. Scientometrics, v. 106, p. 525-537, 2016., p. 114) que “Periódicos com maior publicação de artigos sobre determinado assunto tendem a estabelecer um núcleo supostamente de qualidade superior e maior relevância nesta área do conhecimento.”.
O Gráfico 3 realça os resultados da aplicação da Lei de Bradford, sendo possível observar diferenças na proporção dos títulos entre o tamanho das zonas em cada subperíodo. Uma análise para a 1.ª zona contabiliza para o 1.º subperíodo 145 títulos, e destes 13 (8,97%) ocuparam o núcleo; para o 2.º o núcleo comportou 37 (8,79%) títulos de um total de 421, no 3.º subperíodo foram somados 45 (6,12%) de um total de 735 títulos e no 4.º foi computado 857 títulos sendo 53 (6,18%) ocuparam o núcleo. Na 1.ª zona (núcleo) concentrou-se uma pequena fração dos títulos que publicaram grande quantidade de artigos em relação aos outros periódicos nas demais zonas.
Distribuição dos periódicos pela Lei de Bradford da produção científica brasileira na área de células-tronco (2001-2019)
Os títulos na 1.ª zona foram aglutinados para os quatros subperíodos, compreendo o core da coleção (core collections) que totalizou 90 títulos, sendo 20 (22,22%) nacionais, que publicaram 368 artigos, com variação de 4 a 54 artigos por título, enquanto houve uma concentração expressiva da produção em títulos estrangeiros totalizando 70 (77,78%), que em conjunto somam 1.182 artigos, ocorrendo de 3 a 128 artigos/periódico. No Gráfico 4 são apresentados os cinco principais títulos em número de artigos.
Core da coleção de periódicos da produção científica brasileira na área de células-tronco (2001-2019)
Para o período (2001-2019) foi contabilizado 1.425 títulos - 68 nacionais e 1.357 estrangeiros - sendo que cinco se destacam pelo volume de artigos publicados (Gráfico 4), Plos One (128), Scientific Reports (65), Stem Cell Research & Therapy (55), Brazilian Journal of Medical and Biological Research (54) - nacional - e Biology of Blood and Marrow Transplantation (49).
Há uma dinâmica nos subperíodos na formação do núcleo da coleção predominado os títulos estrangeiros, principalmente nos 3.º e 4.º subperíodos, outro ponto observado foram os títulos nacionais, publicados no idioma inglês, como Brazilian Journal of Medical and Biological Research e Brazilian Journal of Animal Science. Essa é uma tendência dos periódicos brasileiros - ou seja, publicar seus artigos no idioma inglês -, fato que vem crescendo nos últimos anos, haja vista a internacionalização da ciência brasileira. Tais publicações dão maior visibilidade à produção científica nacional, indexada em bases de dados, pois possibilita audiência maior no número de leitores do que publicado em português, cujo foco é mais restrito (SOUZA, 2017SOUZA, Andréa Cerqueira. Periódicos científicos do Brasil e o dilema: publicar ou não em inglês? SciELO em Perspectiva: Humanas, 2017. Disponível em: https://humanas.blog.scielo.org/blog/2017/09/01/periodicos-cientificos-brasileiros-e-o-dilema -publicar-ou-nao-em-ingles. Acesso em: 5 jul. 2019.
https://humanas.blog.scielo.org/blog/201...
).
Num estudo realizado por Mueller (2005MUELLER, Suzana Pinheiro Machado. A publicação da ciência: áreas científicas e seus canais preferenciais. DataGramaZero: Revista de Ciência da Informação, v. 6 n. 1 fe.2005. http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/980/2/ARTIGOPublicacaoCiencia.pdf. Acesso em: 5 jul. 2019.
http://repositorio.unb.br/bitstream/1048...
), ao examinar a publicação da ciência em áreas científicas e os canais preferenciais, a autora observou que os periódicos estrangeiros foram o veículo mais utilizado pelos pesquisadores das Ciências Exatas, Biológicas e da Saúde. Tal dado se aproxima dos resultados do núcleo da coleção analisada, uma vez que mais de 50,00% dos artigos na 1.ª zona foram publicados em periódicos estrangeiros.
4.4 Área de Conhecimento
As áreas de conhecimento foram analisadas segundo a classificação adotada pelo Journal Citation Reports (JCR), para os títulos de periódicos em “área de pesquisa”, podendo determinado periódico ser elencando entre uma ou mais áreas. No Quadro 1, temos as cinco primeiras áreas de pesquisa que representam campos de pesquisas na área brasileira de célula-tronco, para os subperíodos estudados.
No decorrer dos subperíodos, essas áreas assumiram dinâmicas que mudaram o cenário em estudo, passando do foco clínico para o desenvolvimento de estudos no campo da biologia celular. Desse modo, a “hematologia”, como centro dos estudos no 1.º subperíodo, passou para a 2.ª e 3.ª posições no 2.º e 3.º subperíodos, respectivamente, quanto ao 4.º subperíodo ocupa a 10.ª posição. Vale ressaltar ainda que “hematologia” foi um dos primeiros campos de aplicação da célula-tronco em transplantes de medula óssea, que datam de 1950 (PEREIRA, 2008PEREIRA, Lygia da Veiga. A importância do uso das células-tronco para a saúde pública. Ciência e Saúde Coletiva, v. 13, n. 1, p.7-14. 2008.).
Houve um incremento na área de pesquisa “biologia celular” a partir do 2.º subperíodo (2006-2010), colocando no ápice, ou seja, passando da 7.ª posição, no 1.º subperíodo, para a 1.ª nos subperíodos seguintes. Ao analisar a estrutura intelectual da área de células-tronco brasileira - ou seja, a base do conhecimento os pesquisadores Machado, Vargas-Quesada e Leta (2016MACHADO, Raymundo N.; VARGAS-QUESADA, Benjamin; LETA, Jacqueline. Intellectual structure in stem cell research: exploring Brazilian scientific articles from 2001 to 2010. Scientometrics, v. 106, p. 525-537, 2016.) desenvolveram um estudo, como foco na análise de cocitação de períodos, cobrindo o período de 2001 a 2010, cujos resultados sinalizaram para a biologia celular com campo hot de pesquisa e estudo.
Em outro estudo, Li et al. (2009LI, Ling-Li; DING, Guohua; FENG, Nan; WANG, Ming-Huang; HO, Yuh-Shan. Global stem cell research trend: Bibliometric analysis as a tool for mapping of trends from 1991 to 2006. Scientometrics, v. 80, n. 1, p 39-58, 2009.) pesquisaram, em um período de 16 anos (1991 a 2006), a produção científica mundial com células-tronco, e observaram a diversidade de temas de pesquisas apontando, como um de seus resultados, a abrangência de pesquisa em “hematologia”, “oncologia” e “biologia celular”. Ressaltaram, ainda, que a “biologia celular” passará a ocupar um papel primordial, sobretudo a partir de 2006. Observando os dados do Gráfico 5, podemos então constatar esse fato na produção científica brasileira.
Podemos verificar, então, a assimetria das categorias de pesquisa nos quatros subperíodos examinados, sendo que as categorias descritas anteriormente distanciam muito das demais e confere o centro de convergência dos temas apresentados na produção científica brasileira.
Tomando como base o estudo de Li et al. (2009LI, Ling-Li; DING, Guohua; FENG, Nan; WANG, Ming-Huang; HO, Yuh-Shan. Global stem cell research trend: Bibliometric analysis as a tool for mapping of trends from 1991 to 2006. Scientometrics, v. 80, n. 1, p 39-58, 2009.) que coloca a “biologia celular” como campo de pesquisa em crescimento na área da célula-tronco foi plotada, no Gráfico 5, a fim de verificar a evolução temporal para as categorias de pesquisa “biologia celular” e “hematologia”. Percebe-se, portanto, que houve crescimento de ambas até o 3.º subperíodo, contudo a “hematologia” decai no 4.º subperíodo enquanto a “biologia celular” continua em ascensão, sendo sua variabilidade estimada em 80,64% enquanto que para a “hematologia” a variação fico em torno de 49,90%. Dados esses que colaboram com os resultados do estudo supracitado, a “biologia celular” realmente desponta como área de pesquisa hot na área de células-tronco brasileira.
Evolução das áreas de pesquisa hematologia e biologia celular na produção científica brasileira na área de células-tronco (2001-2019)
A compreensão crescente dos mecanismos biológicos, tanto da estrutura interna como externa das células, leva cada vez mais os cientistas a desenvolverem novos estudos, a fim de melhor compreensão das células-tronco que, por si mesmas, podem se multiplicar e transformar em células especializadas, como neurônios e músculos cardíacos, por exemplo (PEREIRA, 2008PEREIRA, Lygia da Veiga. A importância do uso das células-tronco para a saúde pública. Ciência e Saúde Coletiva, v. 13, n. 1, p.7-14. 2008.). Além disso, pode ser também induzida, em laboratórios, constituindo-se parte importante para a medicina regenerativa humana e veterinária (MACHADO et al., 2018MACHADO, Lucas Simões et al. Células-tronco pluripotentes induzidas (células iPS) em animais domésticos e a possibilidade de geração in vitro de gametas. In: CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE REPRODUÇÃO ANIMAL (CONERA 2018), 9.; 2018; Belém, PA. Anais do... Belém: [s.n.], 2018. Disponível em: http://www.cbra.org.br/portal/downloads/publicacoes/rbra/v42/n3-4/p114-119%20(RB746).p df. Acesso em: 12 ago. 2019.
http://www.cbra.org.br/portal/downloads/...
).
Após analisar as categorias de pesquisas nos subperíodos, foi elaborado o ranking para o período de 2001 a 2019, aglutinando os dados dos quatros subperíodos (Gráfico 6). O ranking foi estabelecido para cada categoria de pesquisa e elencada as cinco principais para a produção científica brasileira, sendo elas: “biologia celular”, “medicina e pesquisa experimental”, “hematologia”, “bioquímica e biologia molecular” e “neurociências”, essas apresentadas no Gráfico 6 no qual pode-se visualizar a tendência de crescimento de cada uma delas nos respectivos subperíodos analisados.
Evolução das áreas de pesquisa da produção científica brasileira na área de células-tronco (2001-2019)
No já citado estudo de Li et al. (2009LI, Ling-Li; DING, Guohua; FENG, Nan; WANG, Ming-Huang; HO, Yuh-Shan. Global stem cell research trend: Bibliometric analysis as a tool for mapping of trends from 1991 to 2006. Scientometrics, v. 80, n. 1, p 39-58, 2009.), as áreas de pesquisa foram contabilizadas em 167, sendo as mais comuns, no período de 1991 a 2006: “hematologia”, “oncologia” e a “biologia célula”, acompanhadas ainda pela “imunologia”, “bioquímica e biologia molecular” e “transplantes”. Observam ainda esses autores que a “hematologia” não deteve as maiores taxas de crescimento, e alerta ainda para o crescimento da “biologia celular”, sobretudo a partir de 2006, resultado esse que podemos observar para o mundo e para o Brasil.
Neste estudo, que abrangeu 19 anos (2001-2019), foram levantadas 144 áreas de pesquisa distribuídas em 1.425 periódicos especializados em temas ligados a células-tronco, ou então de especialidades a fins.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados obtidos quanto ao número de artigos publicados por pesquisadores brasileiros na área de células-tronco e indexados na WoS, com pelo menos um autor de afiliação brasileira, realça a franca expansão da produção científica brasileira na área de células-tronco, no período de 2001 a 2019. Houve, portanto, um crescimento do número de artigos (4.675) e autores (25.050), sobretudo a partir do ano de 2006, ressaltando o avanço das pesquisas no Brasil, bem como a expansão da contribuição da pesquisa brasileira, que passou de 0,83% (2001-2005) para 2,11% (2016-2019) no cenário mundial.
Verificou-se que do total de 1.425 títulos de periódicos, deste 95,23% são estrangeiros e 4,77% nacionais, evidenciando a participação de pesquisadores brasileiros no contexto internacional das pesquisas na área de células-tronco. O core da coleção, no período estudado (2001-2019) foi formado por 90 títulos, o que vale a 6,31% do total dos títulos, sendo que cinco concentraram maior número de artigos, Plos One (128), Scientific Reports (65), Stem Cell Research & Therapy (55), Brazilian Journal of Medical and Biological Research (54) e Biology of Blood and Marrow Transplantation (49).
As principais áreas de pesquisa sinalizam para a “biologia celular” como área de alta centralidade, ocupando a 1.ª posição no ranking hot de pesquisa na área de células-tronco. Esse resultado evidencia a variabilidade de temas numa área de natureza multidisciplinar como são os estudos na área de células-tronco, pontuando uma estrutura consolidada de temas de pesquisa, como a biologia celular e hematologia, por exemplo.
Os indicadores bibliométricos de produção foram pertinentes para o desenvolvimento desse estudo, possibilitando uma compressão do objeto estudado, o mesmo podemos dizer quanto ao desenho metodológico utilizado e a seleção das variáveis analisadas.
O cenário apresentado é estimulante, para área de células-tronco, num momento em que os investimentos para ciência e tecnologia, no Brasil, requerem mais atenção a fim de manter a continuidade das pesquisas brasileiras bem como a manutenção e formação de novos cientistas.
Ao analisarmos os dados, outros questionamentos foram suscitados, para futuros estudos, como o impacto da produção brasileira na área de células-tronco, no cenário nacional e mundial, e a distribuição da nacionalidade das autorias nos artigos publicados em periódicos estrangeiros e brasileiros.
REFERÊNCIAS
- ACERO, Liliana; ANTUNES, Diogo. Conquistas e desafios das pesquisas com Células-Tronco no Brasil. Desenvolvimento em Debate, v. 2, n. 1, p. 97-119, 2011. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/dd/article/view/31926 Acesso em: 18 mar. 2020.
» https://revistas.ufrj.br/index.php/dd/article/view/31926 - ALMEIDA, Elenara Chaves Edler de; GUIMARÃES, Jorge Almeida. Brazil’s growing production of scientific article how are we doing with review articles and other qualitative indicators? Scientometrics, v. 97. p. 287-315, 2013.
- BRADFORD, S. C. Documentação. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.
- CIRANI, Claudia Brito Silva; CAMPANARIO, Milton de Abreu; SILVA, Heloisa Helena Marques da. Evolução do ensino da pós-graduação senso estrito no Brasil: análise exploratória e proposições para pesquisa. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 20, n. 1, p. 163-187, mar. 2015.
- FÁVERO, Luiz Paulo Lope.; BELFIORE, Patrícia Prado. Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
- FOMENTO às pesquisas em terapia celular e células-tronco no Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 44, n. 4, p. 763-764, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102010000400022&lng=en &nrm=iso Aceso em: 30 abr. 2020.
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102010000400022&lng=en &nrm=iso - GRÁCIO, Maria Cláudia Cabrini. Colaboração científica: indicadores relacionais de coautoria. Brazilian Journal of Information Studies: Research Trends, v. 12, n. 2, p. 24-32. 2018.
- HILU, Luciane; GISI, Maria Lourdes. Produção científica no Brasil: um comparativo entre as universidades públicas e privadas. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 10; SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SUBJETIVIDADE E EDUCAÇÃO, 1, Paraná, 2011. p. 5664-5672. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2011/5221_3061.pdf Acesso em: 31 jul. 2019.
» https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2011/5221_3061.pdf - KATZ, J. Sylvan; MARTIN, Ben R. What is research collaboration? Research Policy, 26, p. 1-18, 1997.
- LI, Ling-Li; DING, Guohua; FENG, Nan; WANG, Ming-Huang; HO, Yuh-Shan. Global stem cell research trend: Bibliometric analysis as a tool for mapping of trends from 1991 to 2006. Scientometrics, v. 80, n. 1, p 39-58, 2009.
- MACHADO JUNIOR, Celso; SOUZA, Maria Tereza Saraiva de; PARISOTTO, Iara Regina dos Santos; PALMISAN, Angelo. As leis da bibliometria em diferentes bases de dados científicos. Revista de Ciências da Administração, Florianópolis, v. 18, n. 44, p. 111-123, 2016. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077. 2016v18n44p111 Acesso em: 31 jul. 2019.
» https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077. 2016v18n44p111 - MACHADO, Lucas Simões et al. Células-tronco pluripotentes induzidas (células iPS) em animais domésticos e a possibilidade de geração in vitro de gametas. In: CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE REPRODUÇÃO ANIMAL (CONERA 2018), 9.; 2018; Belém, PA. Anais do... Belém: [s.n.], 2018. Disponível em: http://www.cbra.org.br/portal/downloads/publicacoes/rbra/v42/n3-4/p114-119%20(RB746).p df Acesso em: 12 ago. 2019.
» http://www.cbra.org.br/portal/downloads/publicacoes/rbra/v42/n3-4/p114-119%20(RB746).p df - MACHADO, Raymundo N.; VARGAS-QUESADA, Benjamin; LETA, Jacqueline. Intellectual structure in stem cell research: exploring Brazilian scientific articles from 2001 to 2010. Scientometrics, v. 106, p. 525-537, 2016.
- MALTRÁS BARBA, B. Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la ciencia. Gijón: TREA, 2003.
- MONTEIRO, Rosangela et al. Critérios de autoria em trabalhos científicos: um assunto polêmico e delicado. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, São José do Rio Preto, v. 19, n. 4, p. III-VIII, dez. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-76382004000400002&lng=en &nrm=iso Acesso: 30 abr. 2020.
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-76382004000400002&lng=en &nrm=iso - MUELLER, Suzana Pinheiro Machado. A publicação da ciência: áreas científicas e seus canais preferenciais. DataGramaZero: Revista de Ciência da Informação, v. 6 n. 1 fe.2005. http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/980/2/ARTIGOPublicacaoCiencia.pdf Acesso em: 5 jul. 2019.
» http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/980/2/ARTIGOPublicacaoCiencia.pdf - PACKER, Abel Laerte. A eclosão dos periódicos do Brasil e cenários para o seu porvir. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 40, n. 2, p. 301-323, jun. 2014. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022014000200002&lng=pt &nrm=iso Acesso em: 06 ago. 2019.
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022014000200002&lng=pt &nrm=iso - PALACIOS-MARQUÉS, Ana M. et al. Worldwide scientific production in obstetrics: a bibliometric analysis. Irish Journal of Medical Science, n. 188, p. 913-919, 2019.
- PEREIRA, Lygia da Veiga. A importância do uso das células-tronco para a saúde pública. Ciência e Saúde Coletiva, v. 13, n. 1, p.7-14. 2008.
- REHEN, Stevens; PAULSEN, Bruna. Células-tronco: o que são? para que servem. Rio de janeiro: Vieira & Lent, 2007.
- RODRIGUES, Isabella Caroline Pereira et al. Engenharia de tecidos cardíacos: atual estado da arte a respeito de materiais, células e formação tecidual. Einstein (São Paulo), São Paulo, v. 16, n. 3, p. 1-9, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/eins/v16n3/pt_2317-6385-eins-16-03-eRB4538.pdf Acesso em: 15 jan. 2021.
» https://www.scielo.br/pdf/eins/v16n3/pt_2317-6385-eins-16-03-eRB4538.pdf - SPINAK, E. Diccionario Enciclopédico de Bibliometría, Cienciometría e Informetría. Caracas: UNESCO, 1996.
- SIDONE, Otávio J. G.; HADDAD, Eduardo A.; MENA-CHALCO, Jesus. Padrões de colaboração científica no brasil: o espaço importa? São Paulo, TD Nereus, 2013. Disponível em: http://www.usp.br/nereus/wp-content/uploads/TD_Nereus_09_2013_v2.pdf Aceso em: 21 jun. 2019.
» http://www.usp.br/nereus/wp-content/uploads/TD_Nereus_09_2013_v2.pdf - SOARES, Ana Prates et al. Células-tronco em Odontologia. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial, Maringá, v. 12, n. 1, p. 33-40, jan./fev. 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/dpress/v12n1/a06v12n1 Acesso em: 5 jul. 2019.
» https://www.scielo.br/pdf/dpress/v12n1/a06v12n1 - SOUZA, Andréa Cerqueira. Periódicos científicos do Brasil e o dilema: publicar ou não em inglês? SciELO em Perspectiva: Humanas, 2017. Disponível em: https://humanas.blog.scielo.org/blog/2017/09/01/periodicos-cientificos-brasileiros-e-o-dilema -publicar-ou-nao-em-ingles Acesso em: 5 jul. 2019.
» https://humanas.blog.scielo.org/blog/2017/09/01/periodicos-cientificos-brasileiros-e-o-dilema -publicar-ou-nao-em-ingles - SUBRAMANYAM, K. Bibliometric studies of research collaboration: a review. Journal of Information Science, n. 6, p. 33-38, 1982.
- URBIZAGASTEGUI, Ruben. A produtividade dos autores sobre a Lei de Lotka. Ciência Informação, Brasília, v. 37, n. 2, p. 87-102, maio/ago. 2008.
- SEGURA, Dora de Castro Agulhon et al. Células-tronco: as células capazes de gerar outros tipos de células. Arquivos de Ciências da Saúde da Unipar, v. 11, n. 2, p. 115-152, maio/ago. 2007. Disponivel em: https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/1522. Acesso em: 21 de jun. 2020.
» https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/1522. - THELWALL, Mike. Bibliometrics to webometrics. Journal of Information Science, v. 34, n. 4, p. 605-621, 2008.
- VANTI, Nadia Aurora Peres. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 2, p.152-162. 2002.
- WONG, Chan-Yuan. A century of scientific publication: towards a theorization of growthbehavior and research‑orientation. Scientometrics, v. 119, p. 357-377, 2019.
- ZHAO, Dangzhi; STROTMANN, Andreas. ntellectual structure of stem cell research: a comprehensive author co-citation analysis of a highly collaborative and multidisciplinary field. Scientometrics, v. 87, p. 115-131, 2011.
- ZORZANELLI, Rafaela Teixeira et al. Pesquisa com células-tronco no Brasil: a produção de um novo campo científico. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, v.24, n.1, p.129-144, jan.-mar. 2017.
-
1
 JITA: BB. Bibliometrics methods
JITA: BB. Bibliometrics methods
-
RECONHECIMENTOS:
Não é aplicável. -
FINANCIAMENTO:
Este estudo foi financiado pelo Edital PROPCI/PROPG - UFBA 004/2016 - Programa de Apoio a Jovens Professores Doutores - PROPESQ. -
APROVAÇÃO ÉTICA:
Não é aplicável. -
DISPONIBILIDADE DE DADOS E MATERIAL:
Não é aplicável.
Disponibilidade de dados
Não é aplicável.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
09 Jun 2023 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
13 Nov 2020 -
Aceito
11 Jan 2021 -
Publicado
27 Jan 2021
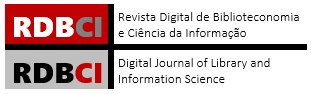







 Fonte: WoS.
Fonte: WoS.
 Fonte: dados da pesquisa.
Fonte: dados da pesquisa.
 Fonte: dados da pesquisa
Fonte: dados da pesquisa
 Fonte: dados da pesquisa.
Fonte: dados da pesquisa.
 Fonte: WoS.
Fonte: WoS.
 Fonte: WoS.
Fonte: WoS.