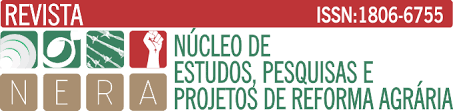Resumo
O artigo analisa a nova face político-ideológica dos usineiros da zona da cana nordestina, formada pelos três principais estados produtores da região: Alagoas, Pernambuco e Paraíba. O argumento central é que esse tradicional segmento das classes dominantes passou por mudanças significativas nas duas últimas décadas, resultando em uma ampliação de sua composição interna e sua acomodação à dinâmica do agronegócio. Assim, moldaram uma nova retórica de legitimação, baseada na defesa do monocultivo da cana-de-açúcar como um negócio agro-social, recorrendo a noções como sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Os limites e as contradições desse discurso são problematizados à luz dos conflitos de classe e da dimensão econômica e político-ideológica neles contida, capazes de explicar as razões pelas quais os usineiros, através de suas instâncias de representação, buscam legitimidade social para o pleno exercício da atividade que praticam. A metodologia utilizada se concentrou na análise da retórica patronal, recorrendo à interlocução com documentos originários de sindicatos e associações de usineiros e artigos jornalísticos diretamente relacionados ao assunto.
Palavras-chave:
Agronegócio; classes sociais; cana-de-açúcar; transformações agrárias; Nordeste.
Abstract
The article examines the new political-ideological face of sugarcane plantation owners in the Northeastern sugarcane region, encompassing the three main producing states of the region: Alagoas, Pernambuco, and Paraíba. The central argument is that this traditional segment of the ruling classes has undergone significant changes in the past two decades, resulting in an expansion of its internal composition and its accommodation to the dynamics of agribusiness. Consequently, they have crafted a new rhetoric of legitimation, grounded in the defense of sugarcane monoculture as an agro-social business, drawing on concepts such as sustainability and socio-environmental responsibility. The limitations and contradictions of this discourse are scrutinized in the context of class conflicts and the economic and ideological dimensions contained therein, which explain why sugarcane plantation owners, through their representative bodies, seek social legitimacy for the full exercise of their activities. The methodology employed involved the analysis of documents from trade unions and employers' associations, as well as engagement with relevant newspaper articles on the subject.
Keywords:
Agribusiness; social classes; sugarcane; agrarian transformations; Northeast.
Resumen
El artículo analiza el nuevo enfoque político-ideológico de los dueños de usinas en la zona cañera del Noreste, que abarca los tres principales estados productores de la región: Alagoas, Pernambuco y Paraíba. El argumento central es que este segmento tradicional de las clases dominantes ha experimentado cambios significativos en las dos últimas décadas, lo que ha resultado en una expansión de su composición interna y su adaptación a la dinámica del agro-negocio. Como resultado, han moldeado una nueva retórica de legitimación basada en la defensa del monocultivo de la caña de azúcar como un negocio agro-social, recurriendo a conceptos como la sostenibilidad y la responsabilidad socioambiental. Los límites y contradicciones de este discurso se problematizan a la luz de los conflictos de clase y la dimensión económica y político-ideológica que contienen, lo que explica por qué los dueños de usinas, a través de sus instancias de representación, buscan legitimidad social para el pleno ejercicio de su actividad. La metodología empleada incluyó el análisis de documentos de sindicatos y asociaciones patronales, así como la interacción con artículos periodísticos relacionados con el tema.
Palabras clave:
Agronegocio; clases sociales; caña de azúcar; transformaciones agrarias; Noreste.
Introdução
A agroindústria do açúcar e do álcool tem experimentado, no Brasil, mudanças significativas no que se refere ao arranjo das classes sociais em seu universo. Observada a dinâmica das classes dominantes, tempos atrás tínhamos o usineiro da usina, de modo que este sujeito era predominantemente reconhecido pela ação desempenhada na localidade onde empregava seus negócios. Sua intervenção organizava-se no espaço agrário, a partir do ambiente da própria usina, e era incrementada por meio da articulação com outras instâncias de poder, como as administrações municipais e estaduais, o parlamento e órgãos do Judiciário. Nessa órbita fundava-se a aura tradicional dos usineiros, enfeixada em relações como o familismo, o clientelismo e o mandonismo oligárquico (Leal, 1978LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.; Carvalho, 1997CARVALHO, J. M. Mandonismo, coronelismo, clientelismo: uma discussão conceitual. In: Dados, n. 40, v. 2, Rio de Janeiro, 1997.).
Da perspectiva que o tempo nos fornece hoje, esse sujeito em muito ultrapassa o agrário-em-si. Embora tradicionais grupos empresariais preservem uma influência incontestável, a composição desse segmento tem se tornado mais complexa e heterogênea. Verifica-se uma ampliação de sua atuação através da diversificação de seus negócios e dos métodos pelos quais acumula, domina, explora e expropria os trabalhadores. Daí a existência de uma nova morfologia dos usineiros, ilimitada à aura oligárquica.
Isso se deve a uma conjuntura específica - a dos anos 2000 - que, ao combinar fatores internos e externos, permitiu que o setor sucroalcooleiro (ou sucroenergético) superasse uma profunda crise (a dos anos 1990) e ingressasse no ciclo econômico mais robusto de sua história. Entre os fatores externos, destacam-se as demandas relacionadas à nova configuração global e financeirizada de reprodução do capital na agricultura, os tratados internacionais voltados para a produção de energias renováveis e o crescimento da economia chinesa. Internamente, é importante considerar o “boom” das commodities, a ampla disseminação da tecnologia bicombustível (flex) e a consolidação de uma agenda agroenergética estatal comprometida com a “energia limpa”. Fato é que, em ambas as esferas, nacional e internacional, o agronegócio emerge como protagonista das mudanças que caracterizam o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo na agricultura, no qual se inclui a dinâmica do setor sucroalcooleiro.
Dentro desse contexto, neste artigo buscamos defender o argumento segundo o qual se deflagra, no curso das duas últimas décadas, uma nova autoimagem dos usineiros no Brasil, em geral, e no Nordeste, em particular. Tentamos demonstrar que este fenômeno ocorre não só entre empresários “modernos” de grandes centros econômicos, mas também na região Nordeste, frequentemente tratada pela literatura como “atrasada”.
Se autoimagem quer dizer a representação que alguém faz de si próprio, entendemos haver uma autoimagem coletiva dos usineiros, manifestada na comunhão de determinados valores, princípios e objetivos. Malgrado a concorrência intercapitalista e divergências pontuais de tempo em tempo, há uma mentalidade da qual partilham e que traduz uma unidade de pensamento, uma consciência comum engatada pela primazia do lucro e pela defesa intransigente do monopólio da propriedade fundiária. Dado o significado do agronegócio, amplamente debatido na literatura especializada (cf. Delgado, 2012DELGADO, G. Do capital financeiro na agricultura à hegemonia do agronegócio: mudanças cíclicas em meio século (1965-2012). Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2012.; Fernandes, 2008FERNANDES, B. M. (coord.). Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual. São Paulo: Clacso/Expressão Popular, 2008.; Bruno, 2009BRUNO, R. Agronegócio, palavra política. In: Bruno, Regina. Um Brasil Ambivalente. Agronegócio, ruralismo e relações de poder. Mauad X Ed. /EdUR-UFRRJ, 2009.; Heredia, Palmeira & Leite, 2010HEREDIA, B; PALMEIRA, M.; LEITE, S. P. Sociedade e economia do agronegócio no Brasil. In: Rev. Bras. Ci. Soc. v. 25, n. 74, 2010.), podemos interpretar a autoimagem contemporânea dos usineiros como uma retórica modernizante, de modo que há base para concebê-la como ideologia - não só no sentido marxiano de falsa consciência (Marx; Engels, 1988MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. São Paulo: Hucitec, 1988.), mas também em sua acepção mais dilatada, que remete à visão de mundo atrelada a uma determinada classe social.
À semelhança do conjunto das classes dominantes no campo brasileiro, os usineiros do século XXI buscam apresentar-se como segmento liberal, aliado das teses do livre mercado e guiado pelos padrões de rentabilidade e competitividade (Bruno, 2015BRUNO, R. Elites agrárias, patronato rural e bancada ruralista. Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura. CPDA: Rio de Janeiro, 2015.). Para tanto, transformam suas instâncias de organização corporativa - isto é, as entidades patronais2 2 Em nossa tese, analisamos seis entidades patronais: Sindicato da Indústria do Açúcar do Estado de Pernambuco (Sindaçúcar/PE); Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas (Sindaçúcar/AL); Sindicato de Indústria de Fabricação do Álcool no Estado da Paraíba (Sindalcool-PB); Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan); União Nordestina dos Produtores de Cana (Unida); Associação dos Produtores de Etanol e Bioenergia (NovaBio). Na construção metodológica da pesquisa, acessamos documentos internos dessas entidades, analisamos artigos de opinião escritos por seus dirigentes e realizamos entrevistas com dois presidentes de sindicatos patronais e um presidente de associação patronal. Contrastamos essas perspectivas com as visões compartilhadas, também por meio de entrevistas, com duas militantes dos movimentos sociais do campo na zona da cana nordestina. O material empírico levantado pela pesquisa, devidamente sistematizado e teoricamente problematizado, pode ser encontrado na própria tese, especialmente no capítulo 4. Neste artigo, as fontes utilizadas são exclusivamente secundárias. - em instrumentos de canalização da imagem que projetam à sociedade. Nestes termos, associações e sindicatos de usineiros desempenham um atributo formulador, cujo objetivo repousa na capacidade de elaborar, articular e unificar análises, posições político-ideológicas e linhas de ação.
Dado que a formulação política é parte essencial do processo organizativo, as entidades patronais desempenham, sem dúvida, um papel intelectual. São espaços em que se debate a busca por um denominador comum, destinado a amplificar a intervenção classista e que seja capaz de, ao mesmo tempo, angariar conquistas corporativas e disputar ideias na opinião pública.
Tais entidades devem ser consideradas como lócus privilegiado para análise da nova autoimagem concebida e implementada pelos usineiros. Em face delas, a retórica empresarial não é dispersa ou aleatória, mas muito mais sistemática do que se pode presumir. Existe um discurso internamente coeso, que investe em demonstrar competência, capacidade e responsabilidade de acordo com o vocabulário burguês de nosso tempo, evitando rotulações como selvagem, desumano, irresponsável e destruidor. O que se observa é uma recusa ao negativo, consubstanciado nesses adjetivos, e uma busca incessante pelo positivo e pelo propositivo.
Nessa rota, até mesmo os mais tradicionais grupos de usineiros do Nordeste advogam o monocultivo da cana-de-açúcar como um negócio agro-social. E o fazem orientados por uma lógica disposta em tríade: ambientalmente sustentável / socialmente responsável / economicamente viável, sempre reivindicada no sentido daquela chave positiva e propositiva. Ao destacarem essa abordagem, buscam posicionar-se como ramo agroindustrial alinhado a ideias de bem-estar social, econômico e ambiental.
A sistematização dessa retórica, característica do período em que o agronegócio se põe como força hegemônica na agricultura brasileira e o setor sucroalcooleiro retoma um ciclo expansivo, reporta a formulações do pensamento empresarial na década de 1990, quando tomou corpo e forma o discurso da responsabilidade socioambiental em grandes empresas, síntese do que ficou conhecido como “empresa-cidadã”3 3 Para sua crítica, ver livro de César (2008), para quem o discurso da “empresa cidadã” revela, em termos gramscianos, uma estratégia das classes dominantes na disputa pela construção de hegemonia. .
Naquele contexto, sujeito tornado conhecido por suas ideias foi John Elkington, consultor empresarial britânico considerado pela Business Week como decano do movimento da sustentabilidade corporativa. Fundador e diretor da SustainAbility, empresa de consultoria a corporações monopolistas, Elkington é o responsável pela elaboração do que tem sido um recorrente aporte ideológico do empresariado: a adequação da ação das empresas a uma agenda social, econômica e ambiental sob a batuta da “sustentabilidade”. O tripé que comparece no discurso dos usineiros é o mesmo sistematizado pelo referido consultor empresarial, internacionalmente reconhecido pelo Triple Bottom Line (3BL): profits, people, planet (Elkington, 2011ELKINGTON, J. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. São Paulo: M. Books, 2011.). A tradução de cada componente do tripé corresponde precisamente a cada um dos eixos enfatizados pelos usineiros: lucros, pessoas, planeta.
Com base nessa formulação de ampla repercussão (os livros de J. Elkington tornaram-se best-sellers), o pensamento e a ação empresarial tentam imprimir uma feição “humanizada”, preocupada não apenas com a viabilidade financeira (lucratividade e investimentos), mas com ideais de justiça social, prosperidade econômica e qualidade ambiental. Nessa tríade repousa o eixo da retórica assimilada pelos usineiros. É seu cartão de apresentação em busca de progressiva legitimidade para sua atuação e integração ao que tem se tornado, programaticamente, uma diretriz do capitalismo contemporâneo.
Na perspectiva de construção de uma síntese em torno dessa problemática, nossa estrutura de exposição persegue o tripé declarado pelos usineiros como “agro-social”. De tal modo, o texto encontra-se organizado em três seções, afora esta introdução e as considerações finais. Primeiro, problematizamos o ambientalmente sustentável e o discurso da “energia limpa”. Segundo, abordamos de que modo a desigualdade se converte em marketing empresarial sob o argumento do socialmente responsável. Terceiro, tentamos demonstrar as razões pelas quais a ênfase no economicamente viável acaba por tornar a nova autoimagem dos usineiros uma contradição em termos, presa a uma fraseologia que se desmonta quando confrontada à realidade.
Metodologicamente, recorremos à análise da retórica fabricada e reiterada por dirigentes das entidades patronais selecionadas. Dado que o foco reside nas entidades, em detrimento dos usineiros individuais, o que apresentamos é uma visão que condensa o debate interno deste setor na região estudada. Portanto, a construção de nosso argumento não se concentra em opiniões isoladas de usineiros, mas no que as entidades que representam seus interesses comunicam publicamente através de suas lideranças.
Considerada a série histórica 2005-2020, nosso levantamento incluiu i) matérias publicadas em jornais e portais eletrônicos das próprias entidades patronais; ii) artigos de opinião assinados por dirigentes do setor e publicados em veículos de maior alcance na mídia, como o Jornal do Commercio e a Folha de Pernambuco; iii) informações compiladas pelos movimentos sociais do campo, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT); iv) literatura especializada que se relaciona de maneira tangencial com o objeto direto deste estudo, uma vez que, especialmente na última década, tem sido escassa a produção de pesquisas originais que abordem com centralidade os usineiros da região Nordeste.
A interseção desses elementos molda o núcleo de nossa análise. É preciso levar em conta que estudar um segmento das classes dominantes apresenta desafios metodológicos substanciais, dentre os quais se destaca o acesso direto aos sujeitos da pesquisa e a alguns dados que são tidos como “sigilosos”, isto é, restritos aos círculos empresariais. Estas dificuldades se tornarão especialmente evidentes devido à predominância de dados secundários em detrimento de fontes primárias.
Por fim, a intenção principal deste texto - que em alguns momentos acaba por imprimir um estilo ensaístico - é estimular o debate, reconhecendo que a pesquisa sobre esse tema é uma empreitada desafiadora, mas essencial para a apreensão da dinâmica contemporânea das classes sociais na realidade brasileira.
O ambientalmente sustentável e as sujeiras da “energia limpa”
O ambientalmente sustentável investe esforços em adequar a ação empresarial a um “novo paradigma de produção” (Sen, 2010SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.) em que se propaga a compatibilidade entre a elevação dos índices de produtividade e cuidados com o meio ambiente. Por este ângulo, apresenta-se o agronegócio dos derivados da cana-de-açúcar como ecoeficiente, dotado de intencionalidade positiva e ajustado às prescrições que integram a agenda de “sustentabilidade socioambiental” de empresas.
Com esse propósito, os usineiros valem-se da oposição que emplacam em relação à extração de petróleo. Em primeiro lugar, criticam a dependência dessa fonte de energia devido à sua esgotabilidade. Segundo, apontam os conhecidos danos ambientais causados pela indústria petrolífera, a exemplo da poluição atmosférica e da exaustão de jazidas. Embasados nesses argumentos, enfatizam o etanol como combustível aliado à vida, mote a partir do qual alegam a viabilidade do setor sucroalcooleiro para responder aos desafios sociais, econômicos e ambientais do século XXI.
Na visão de Plínio Nastari, presidente do Instituto Brasileiro de Bioenergia e Bioeconomia (IBIO), “existe um papel a ser desempenhado pelo etanol na mobilidade sustentável do futuro, [...] especialmente porque a sustentabilidade de sua produção é crescente”4 4 Folha de Pernambuco, 5 out. 2021. . Entendimento similar é o de Renato Cunha, um dos mais destacados intelectuais dos usineiros no Nordeste (presidente do Sindaçúcar-PE e da NovaBio), segundo o qual o etanol ajuda o país “a participar da revolução verde e da bioeconomia”5 5 Jornal do Commercio, 29 jun. 2022. .
Para Eduardo de Queiroz Monteiro, usineiro e um dos expoentes políticos do setor no estado de Pernambuco:
“Não há segmento que promova mais o meio ambiente que o nosso. No que diz respeito à educação ambiental, reflorestamento, matas ciliares, mudas e viveiros, enfim, temos um grande acervo de trabalho que se incorporou à nossa rotina. E não fazemos isso apenas para ficar no discurso politicamente correto. Fazemos porque estamos convencidos da importância de qualificar nossa produção e para certificar nossa situação no mercado mais exigente do mundo”.6 6 Jornal Cana, 27 jan. 2022.
Destarte, o empresariado do setor capitaliza noções como “biocombustível”, “energia limpa”, “economia verde” e “bioeconomia”. O conceito-chave que dá esteio a esses chavões é o de desenvolvimento sustentável, que embora permeável a disputas ideopolíticas, à direita e à esquerda, tem sua principal expressão nas agendas de organismos multilaterais, governos e empresas (Boff, 2008). O entendimento que a este respeito ganhou maior projeção, tornando-se dominante, foi o formulado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), que em 1987 publicou um relatório intitulado Nosso futuro comum (também conhecido como Relatório Brundtland). Nele o desenvolvimento sustentável é apresentado como aquele que “atende às necessidades presentes sem comprometer a habilidade das gerações futuras em atenderem às suas próprias necessidades” (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Ed da FGV, 1991., p. 46).
Nesta acepção, confere-se destaque ao componente ecológico, isolando-o, como se não estivesse imbricado à dinâmica que articula o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção sob o enredamento do capitalismo. Assim, esvazia-se a “questão ambiental” de seu conteúdo totalizante, posto que “[...] a defesa da natureza aparece divorciada do enfrentamento da questão social ou como hierarquicamente superior a esta, negando-se, moto contínuo, a estreita vinculação entre ambas” (Silva, 2008SILVA, M. G. Capitalismo contemporâneo e “questão ambiental”: o desenvolvimento sustentável e a ação do Serviço Social. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008., p. 118, grifo do original).
Quando convertido em política de Estado, o conteúdo da noção de desenvolvimento sustentável tende a estar limitado à formalidade e a soluções técnicas. Desta feita, ignora que os efeitos corrosivos sobre o meio ambiente são inerentes à lógica e aos fundamentos da produção capitalista, cuja centralidade conferida à mercadoria, ao subordinar o valor de uso ao valor de troca, prioriza o lucro em detrimento dos recursos naturais e das necessidades sociais. Tal tendência tem adquirido projeção ascendente sob a ambiência da crise contemporânea, na qual se processa uma produção-dissipadora, que “transforma potencialidades positivas em realidades destrutivas” (Mészáros, 2002, p. 614).
Em consequência, surge a armadilha ideológica de um “capitalismo verde”, que se alicerça na argumentação ambígua (e falaciosa) de que os interesses privados de acumulação de riquezas são compatíveis com a preservação da biodiversidade. Em termos político-ideológicos, observa-se um discurso supraclassista ou aclassista que abstrai os componentes da base econômica e, em seu lugar, atomiza o trato à “questão ambiental”, insinuando enfim que o cuidado com as riquezas naturais é uma questão de atitude ou comportamento individual (Silva, 2008SILVA, M. G. Capitalismo contemporâneo e “questão ambiental”: o desenvolvimento sustentável e a ação do Serviço Social. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.).
Aqui e agora, o que se quer extrair da tônica empresarial no ambientalmente sustentável é que ela funciona a um só tempo como dispositivo político-ideológico legitimador (expresso nas noções de “energia limpa” e “biocombustível”) e argumento de reivindicação setorial junto ao Estado.
Enquanto dispositivo político-ideológico amparado na “sustentabilidade”, ofusca os danos socioambientais que provoca. Isso inclui a degradação do solo, a retirada da cobertura vegetal, o assoreamento dos rios, a aplicação de fertilizantes, a corrosão da biodiversidade e a alta no preço dos alimentos (CPT, 2009CPT. Impactos do monocultivo da cana na Amazônia e no Cerrado. Brasília: Comissão Pastoral da Terra, 2009.). Esses problemas têm raízes comuns: o monocultivo e seu inseparável consórcio com o padrão latifundiário. Tudo isso é justificado pelas noções de “energia limpa” e “eficiência bioenergética”, institucionalizadas através de sistemas de certificação que apregoam o controle de qualidade e o respeito às normativas internacionais. No entanto, esses sistemas criam selos cujos critérios de avaliação são pouco transparentes, uma vez que inexiste um banco de dados oficial que liste usinas e destilarias certificadas.
Já na condição de argumento de reivindicação setorial junto ao Estado, os usineiros encampam a agenda dos “biocombustíveis” centrada no etanol como alternativa adequada à diversificação da matriz energética brasileira. A partir disso, buscam angariar benefícios como incentivos fiscais, isenção de tributos e suportes financeiros e de infraestrutura. A publicação das Diretrizes de Política de Agroenergia, em 2005, e a implementação do Plano Nacional de Agroenergia, a partir de 2006, ilustram a penetração do entendimento empresarial do ambientalmente sustentável na agenda governamental, que fez do etanol um “menino de seus olhos”.
Na relação entre esses dois elementos, o que salta aos olhos é o esconderijo no qual habita a discurso da “energia limpa”: reveste-se da eficácia energética e encobre os danos socioambientais que promove. Na tentativa de escamotear as formas sociais de produção e sua relação predatória com as riquezas e recursos naturais, a usinagem do capital confere à questão ambiental um conjunto de proposições técnicas de alcance limitado. É como se fosse aplicada uma camada de verniz: cria-se uma barreira superficial para esconder o que está por trás. Consequentemente, naturaliza-se a estrutura latifundiária e o sistema monocultor, ignorando-os, como se sua existência não tivesse impacto no meio ambiente. Fato é que, longe disso, não há debate consistente e consequente sobre sustentabilidade e daí resulta a contradição fundamental que assola o suposto compromisso ambiental dos usineiros.
O socialmente responsável e a desigualdade convertida em marketing
Um segundo eixo da retórica dos usineiros no delineamento de sua autoimagem é a reivindicação do socialmente responsável como prática dos grupos empresariais. Nesse âmbito, incorporam as teses da “responsabilidade social corporativa” ou “responsabilidade social empresarial”, convertidas em ações dos departamentos de gestão de pessoas ou recursos humanos das usinas e destilarias, também transmutadas em linha de intervenção das entidades patronais.
Dentre as iniciativas desenvolvidas, classificadas como “ação social”, as mais frequentes são nas áreas de saúde, educação e segurança no trabalho. Regra geral, elas acontecem pela via da prestação de serviços internos ou externos às unidades produtoras e sindicatos e/ou associações de usineiros. Sobressaem-se a oferta de exames laboratoriais, planos odontológicos, consultas médicas, cursos de qualificação, alfabetização, apoio a entidades filantrópicas e campanhas de arrecadação de cestas básicas.
O trecho a seguir, proferido por Pedro Robério de Melo Nogueira, presidente do Sindaçúcar-AL, resume o entendimento empresarial do setor a este respeito. Ele destaca que na realidade de seu estado há uma:
“[...] determinação por produzir cada vez mais alinhado com a manutenção de diversas ações sociais representadas pela manutenção de mais de 20 mil alunos em cursos de alfabetização e do 1º grau, de dezenas de ambulatórios e creches, da contratação de cerca de 500 portadores de deficiência [sic.] e na aplicação anual de R$ 12 milhões em ações sociais, ratifica, de forma inexorável, a responsabilidade pelo social abraçada pelo setor”.7 7 Disponível em: https://www.sindacucar-al.com.br/palavra-do-presidente/. Acesso em 05 jul. 2022.
Ao tempo em que tenta transparecer uma face supostamente humanitária, o empresariado faz dessas iniciativas uma forma de mascarar os métodos de expropriação, dominação e exploração que conformam suas práticas de classe. Buscam construir uma projeção para fora de que não lhes interessa apenas a lucratividade. No entanto, trata-se de um marketing social, em voga há pelo menos três décadas no universo empresarial8 8 A responsabilidade social “[...] passou a ser pauta na agenda dos empresários brasileiros, com mais visibilidade, ao longo dos anos 1990, incentivada pelo período de redemocratização e abertura econômica do País e pelos direitos conquistados com a Constituição Federal de 1988” (Reis, 2007, p. 281). , incorporado à miscelânea de relações encaminhadas pelos usineiros de todo país, inclusive os catalogados como antiquados, como os nordestinos. O que visualizamos é a chamada cidadania empresarial, que através de ações pontuais e localizadas pretende mitigar os efeitos provenientes de sua atividade econômica.
Segundo Reis (2007)REIS, C. N. A responsabilidade social das empresas: o contexto brasileiro frente à ação consciente ou ao modernismo do mercado? In: Revista de Economia Contemporânea, vol. 11, mai./ago., 2007., há cinco grandes eixos que balizam a chamada responsabilidade social empresarial no caso brasileiro: i) atividades de “ação social”; ii) investimento social privado (aplicação de recursos das empresas em projetos de “interesse público”); iii) governança corporativa; iv) filantropia empresarial (arrecadação e doação de recursos); v) responsabilidade social (fomento à “qualidade de vida” e corresponsabilização da empresa pelo desenvolvimento social).
A síntese apresentada pelo autor é aplicável à realidade contemporânea dos usineiros nordestinos. Ao sublinhar noções como qualidade de vida, o “socialmente responsável” de que trata o empresariado do açúcar e do álcool no Nordeste brasileiro acaba por reforçar uma tendência à refilantropização da “questão social”9 9 Aqui admitida como o conjunto das desigualdades (sociais, políticas, econômicas e culturais) que resulta do modo como o capitalismo produz e distribui a riqueza (Iamamoto, 2003). . Afinal, classificam suas atividades como benevolentes sob uma verbosidade que aspira, em última instância, amoldar ao atual período histórico já conhecidas tão quanto antigas práticas caritativas.
O discurso do socialmente responsável comparece também na defesa empresarial do “trabalho decente”. Em entrevista10 10 Jornal Cana, 19 ago. 2016. , o presidente do Sindaçúcar-PE e da NovaBio, Renato Cunha, enfatiza essa defesa, reportando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, dentre os quais se inscreve o de número 8: “todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento”.
Ao tentar combinar trabalho decente e crescimento econômico, a preleção patronal inclui entre seus objetivos a superação da pobreza e dos níveis de desigualdade. Referindo-se ao Nordeste brasileiro, Renato Cunha analisa que a região possui uma estrutura “um pouco assimétrica" que demanda, portanto, “maior equilíbrio social”. Porém, quando indagado sobre a legislação trabalhista, o que ele nos diz é o seguinte: “[...] a legislação trabalhista [CLT e afins] é bastante arcaica e sobrecarrega o Custo Brasil. É ainda complexa, subjetiva por demais e muito onerosa para o empreendedor de boa fé”.11 11 Entrevista ao portal Algomais, nov. 2012.
Ao se observar de longe, mal se percebe que estamos a tratar do setor produtivo que mais registra trabalho em condições análogas às de escravidão no país (CPT, 2019). Esse trecho de entrevista, enunciado por um importante quadro do empresariado do ramo na região, e concedida em meio aos debates sobre a “reforma” trabalhista no governo Michel Temer (2016-2018), é sugestiva do alcance limitado e falacioso do “socialmente responsável”. Na prática, esse discurso se reduz, devido aos imperativos da produção capitalista, a uma tentativa de fortalecer uma autoimagem que contrasta com a realidade. Os efeitos mais dramáticos dessa contradição residem nas condições e relações de trabalho, na concentração da propriedade fundiária e nos impactos socioambientais intrínsecos à lógica dos monocultivos.
Portanto, o que está subjacente às ações “socialmente responsáveis” dos usineiros do açúcar e do álcool no Nordeste brasileiro é a mobilização de uma retórica voltada à legitimação das expressões da “questão social” contidas em seu universo, o que na visão de Reis (2007)REIS, C. N. A responsabilidade social das empresas: o contexto brasileiro frente à ação consciente ou ao modernismo do mercado? In: Revista de Economia Contemporânea, vol. 11, mai./ago., 2007. reflete um “modernismo de mercado”. Almeja-se naturalizar, com isso, a própria desigualdade. Mediante iniciativas na área social que por vezes lhes trazem benefícios econômicos imediatos, como a isenção de impostos, constroem uma narrativa que tende a tratar como congênita a relação capital-trabalho sobre a qual se funda o motivo de sua existência, que é o lucro.
Dessa forma, eles buscam encobrir a dura realidade social e econômica que prevalece nos municípios da Zona da Mata nordestina, onde a atividade canavieira é predominante. Dados recentes da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgados pelo Jornal do Commercio, indicam que 54,89% da população da Zona da Mata pernambucana vive abaixo da linha da pobreza, que, segundo critérios oficiais, corresponde a uma renda mensal per capita inferior a ¼ de salário-mínimo12 12 Jornal do Commercio, 30 jun. 2022. . Essa situação coloca Pernambuco como o segundo estado com os piores indicadores socioeconômicos da região, perdendo apenas para o Maranhão. Logo atrás de Pernambuco, encontra-se Alagoas, onde 64,30% da população na área canavieira tem renda média mensal de aproximadamente R$ 497,0013 13 Agência Brasil, 7 jul. 2022. . Na Paraíba, a situação é semelhante, com taxas de pobreza aumentando em 4% ao ano14 14 Portal G1, 8 set. 2021. .
É importante observar que esses dados estão diretamente relacionados ao quadro conjuntural do país durante o governo Jair Bolsonaro (2019-2022), quando houve um aumento generalizado da pauperização das classes subalternas. O que desejamos destacar é a contradição entre a realidade e a pintura que dela é feita pelos usineiros. As circunstâncias que permitem um alargamento da exploração da força de trabalho, em face do agravamento das condições de vida da maior parte da população, encaminham-se agora em tom que clama pela lógica “colaboracionista”, cujo objetivo é o de obter a adesão dos trabalhadores ao projeto patronal, numa espécie de faz de conta de que a troca entre capital e trabalho segue critérios justos.
Os impactos políticos e ideológicos daí provenientes são indubitáveis, dado que a propaganda empresarial joga suas cartas no sentido de apresentar-se como sensível e atenta às mais variadas formas de expressão da questão social, como a pobreza e o desemprego. É sob este aspecto que, ao fim e ao cabo, a desigualdade fabricada no conjunto das usinas e destilarias converte-se em marketing social, no qual a mais pura desgraça transforma-se, lamentavelmente, em fonte de aceitabilidade e razoabilidade de seu feitor.
O economicamente viável e as armadilhas da retórica
Terceiro elemento do tripé da autoimagem agro-social dos usineiros é o economicamente viável. Ampara-se no argumento de que o desenvolvimento econômico, uma vez comprometido ambiental e socialmente, não deve causar “desequilíbrios”. A noção de viabilidade, nesse modo de entender, advoga que as práticas empresariais adequadas à construção de um “mundo sustentável” são as que permitem melhor alocação na disputa mercado.
Sendo assim, o “ambientalmente sustentável” e o “socialmente responsável” não são vistos como óbices aos índices de lucratividade. Ao contrário, sua propaganda constitui vetor de competitividade, o que somente pode ser encaminhado por empresários que disponham do que classificam como “visão de futuro”, centrada na ideia de sustentabilidade comprometida com as gerações futuras.
Dotado desse atributo qualitativo, o novo empresariado do setor sucroenergético deve ser um empreendedor de alta qualificação, competente às demandas de relações públicas junto a setores estatais, privados e até mesmo do movimento dos trabalhadores. A requisição é a de um empresário criativo, capaz de negociar, portador de um discurso agregador e coerente ao tripé que dá sustentação à defesa do monocultivo da cana-de-açúcar como negócio agro-social.
Com esse intuito, a noção de planejamento estratégico entra em cena a todo vapor. É o que ressalta no relato de José Bolivar de Melo Neto, diretor de Grupo Japungu, um dos mais produtivos no estado da Paraíba e com cadeira cativa nas entidades setoriais do estado:
“A gente tem muita demanda, então se não tiver foco para saber onde e quando investir, o dinheiro some e você acaba não fazendo nada. Então, investir naquilo que realmente agrega valor, é uma coisa muito importante. A disciplina financeira é fundamental. Outra coisa relevante é uma equipe dedicada e comprometida. No meu caso, tenho o privilégio de contar com isso”.15 15 Jornal Cana, 11 mai. 2021.
Enquanto aponta para a necessidade do planejamento em bases empresariais, esse trecho também indica que a viabilidade econômica das unidades produtoras deve estar integrada ao processo de gestão. Durante o período examinado (2005-2020), a modernização do funcionamento gerencial das usinas e destilarias constitui fator importante. Dele se exige eficiência em múltiplos e interligados níveis: a administração financeira, os recursos humanos, o engajamento dos “colaboradores”, o fluxo do processo produtivo etc. Essas dimensões operacionais, porém, devem estar sempre orientadas pelo planejamento precedentemente realizado através da definição de metas, prazos e indicadores.
Também o componente estratégico do planejamento obtém feições político-ideológicas. No entendimento do já mencionado Renato Cunha, trata-se de um novo planejamento, imbuído de nova concepção. Em suas palavras, “há necessidade de um novo ‘planejamento’ para funcionamento das plataformas de produção [...], considerando-se a robusta perspectiva de crescimento desse mercado e a vocação das nossas usinas”.16 16 Revista Opiniões, abr. 2020.
Mediante a coordenação das entidades patronais, aspira-se disseminar um entendimento de que é um “bom negócio” ser economicamente viável sob os princípios da sustentabilidade empresarial. Por isso enfatizamos que o âmago da “nova” autoimagem dos usineiros nordestinos é a defesa da produção sucroalcooleira como um negócio “agro-social”. E como em qualquer negócio, as metas de planejamento preveem a garantia de receitas, o engajamento dos “colaboradores” e a ampliação da credibilidade conferida pela sociedade.
Para que o negócio seja exitoso (isto é, satisfatório aos interesses da acumulação), empresas e entidades patronais constroem alianças e em tudo buscam vantagens. Especialmente nas iniciativas voltadas à “área social”, articulam-se parcerias públicas e/ou privadas como forma de contenção de gastos adequada à disciplina financeira. A este respeito, a mobilização do voluntariado também se destaca para ações educacionais, de conscientização, de arrecadação, de iniciativas filantrópicas voltadas ao “desenvolvimento de comunidade” e ao “equilíbrio dos ecossistemas”.
Enquanto por vias diversas mobilizam esforços no sentido de reduzir os custos do trabalho, apresentam-se, publicamente, como comprometidos com o progresso técnico, com a inovação, com a geração de emprego e renda, com a manutenção do homem no campo. Desde que isso, porém, não afete suas taxas de lucro. Na visão de Renato Cunha:
“Empreender em agricultura é muito difícil. A atividade convive com fatores imponderáveis, notadamente ligados ao clima, assim como com custos de produção, muitas vezes ilógicos e cargas tributárias, trabalhistas e previdenciárias excessivas”.17 17 Revista Opiniões, 2011.
Noutras palavras, o economicamente viável somente se põe como tal (em termos sustentáveis) desde que seja lucrativo. Objetivamente, é esta a base em torno da qual orbita a ação empresarial, sendo, portanto, sua prioridade. Embora prometa combinar desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, a retórica patronal encontra seu limite ao ser confrontada com a determinação econômica. Daí a armadilha do “agro-social”: a retórica da harmonia contrasta com a prática originária dos grupos empresariais, centrada na extração do lucro e na compulsória produção de desigualdades. Em resumidos termos, tal como sugere Silva (2008)SILVA, M. G. Capitalismo contemporâneo e “questão ambiental”: o desenvolvimento sustentável e a ação do Serviço Social. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008., as iniciativas de sustentabilidade de que tratam os usineiros, as quais abrangem a noção de economicamente viável, traduzem uma insustentabilidade social em face de sua subordinação às exigências da acumulação capitalista.
Em confirmação ao que vimos argumentando, a falácia desse discurso entra em rota de colisão com os dados factuais, a exemplo dos baixos índices de crescimento econômico ou de desenvolvimento humano nos municípios onde as usinas estão instaladas. Os já mencionados dados relativos à pobreza e à desigualdade, no tópico anterior, são expressão disso nas zonas canavieiras do Nordeste brasileiro.
Considerações finais
No decorrer deste texto, buscamos reunir argumentos que evidenciam como o tripé da retórica patronal, sintetizado na defesa do monocultivo da cana-de-açúcar como negócio agro-social, torna-se um sustentáculo político-ideológico da nova morfologia das classes dominantes na zona da cana nordestina.
No entanto, é preciso que se justifique, explicitamente, a particularidade do Nordeste em consonância ao propósito investigado. Primeiro, reafirmamos que o conteúdo da nova autoimagem dos usineiros comporta elementos que apontam para uma tendência nacional, sintonizada com as transformações características do atual estágio de desenvolvimento do capitalismo na agricultura. É inegável que grande parcela de grupos empresariais e entidades do patronato rural e agroindustrial, de diferentes regiões do país, estão alinhados quanto aos princípios de sustentabilidade, responsabilidade social e viabilidade econômica.
Esse fato, no entanto, não suprime determinações inscritas no âmbito regional. A rigor, a análise da dinâmica capitalista no setor sucroalcooleiro no Brasil torna-se débil se desassociada da chamada questão regional18 18 Sabe-se que o desenvolvimento do capitalismo não conduz todos os países ao mesmo destino. O mesmo pode ser dito em relação às regiões de uma nação. Entre elas não há homogeneidade, ainda mais no caso de um país de dimensão continental como o Brasil. Nesse sentido, as desigualdades entre as várias regiões de um país “[...] resultam, muitas vezes, das desigualdades de desenvolvimento econômico através das quais as áreas mais desenvolvidas controlam a atividade industrial, consumindo matérias-primas das áreas menos desenvolvidas e absorvendo mão-de-obra mais barata. Cria-se, assim, uma estrutura de dominação” (Andrade, 1988, p. 8-9). . Nesse quadro, observa-se um grau significativo de diferencialidade entre as regiões do país, marcadas pelo desempenho de funções distintas e combinadas ao padrão de reprodução do capital aqui instituído.
No caso do Nordeste brasileiro, essa tendência se manifesta abertamente. No compasso do desenvolvimento desigual e combinado19 19 Nas palavras de Trotsky (2018, p. 34), “a desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processus histórico, evidencia-se com maior vigor e complexidade no destino dos países atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-se na contingência de avançar aos saltos. Desta lei universal da desigualdade dos ritmos decorre outra lei que, por falta de denominação apropriada, chamaremos de lei do desenvolvimento combinado, que significa aproximação das diversas etapas, combinação de fases diferenciadas, amálgama das formas mais arcaicas com as mais modernas”. , essa região concentra quase metade de toda a pobreza do país. É assustador: no mesmo lugar onde habita quase ⅓ da população de todo o território nacional, 47,9% são afetados diariamente pelas dificuldades de reprodução material da vida20 20 Cf.https://www.fecop.seplag.ce.gov.br/2020/11/20/regiao-nordeste-possui-quase-metade-de-toda-a-pobreza-no-brasil-segundo-ibge/. Acesso em 12 mar. 2023. . Observada a variável do desemprego, o Nordeste chegou a atingir, no último período, uma taxa de 14,9%, mais que o dobro da taxa registrada na região Sul21 21 Cf.https://www.folhape.com.br/economia/desemprego-no-nordeste-chega-a-149-mais-que-o-dobro-da-taxa/226728/. Acesso em 12 mar. 2023. .
É no interior dessa realidade que se situa a intervenção classista dos usineiros no Nordeste brasileiro. Parece-nos necessário identificá-los como parte do incessante movimento de produção e reprodução das desigualdades na região, embora se autoproclamem “redentores” da economia nacional e do acesso ao emprego na zona da cana nordestina. A nova carapuça que tentam vestir em nada alivia os ônus provenientes da exploração da força de trabalho e dos recursos naturais, de modo que a contribuição que dizem dar ao país e ao Nordeste não corresponde aos dados apresentados.
Levando-se em consideração esses elementos, cientes de que há um conjunto de mediações que escapam aos limites disponíveis a um texto desta natureza, entendemos que a particularidade da autoimagem fabricada pelos usineiros nordestinos, nas duas últimas décadas, deve ser remetida ao processo histórico que compreende, em quaisquer circunstâncias, a unidade dialética entre gênese e desenvolvimento.
Neste sentido, a origem dos usineiros nordestinos se distingue da dos usineiros do eixo Centro-Sul. Estes são fruto (com exceção daqueles situados no território fluminense, marcado pela presença de engenhos desde o século XVI) de um surto de industrialização da agricultura a partir do final do século XIX, não tendo testemunhado a complexa sociabilidade tramada durante o longo período de domínio dos senhores de engenho. Dito de outro modo, o usineiro nordestino, em comparação aos das outras regiões do país, é fruto de uma história muito mais remota, de séculos a fio marcados pela presença consorte entre o latifúndio e a monocultura canavieira.
Parece previsível que o empresariado estabelecido em regiões mais “prósperas” ou “avançadas” do país seja capaz de absorver rapidamente as inovações relacionadas aos discursos e práticas considerados mais adequados para uma determinada situação histórica. Dado esse raciocínio, não seria surpreendente observar empresários no Centro-Sul flertando com investidas modernizantes de quaisquer naturezas. No entanto, o que dizer daqueles situados em regiões consideradas “atrasadas”? Seriam eles capazes de assimilar essas novidades ou estariam condenados a perpetuar o arcaísmo que historicamente os caracterizou?
Como buscamos demonstrar, os empresários que atualmente conduzem a mais antiga atividade econômica do país, em uma região estereotipada como símbolo do atraso econômico e cultural, são capazes, sim, de absorver e implementar um discurso político-ideológico modernizante e em conformidade aos preceitos do capitalismo contemporâneo. Mais do que uma opção, isso parece ser uma pré-condição à sua reprodução no circuito fechado dos “de cima”.
Portanto, atualmente, reduzir a caracterização dos usineiros nordestinos à aura oligárquica ou familista é um equívoco. O último ciclo expansivo do setor sucroalcooleiro, levado a efeito num ambiente hegemonizado pelo agribusiness, alterou qualitativamente a composição e a intervenção nas áreas canavieiras, de modo que é descabido classificar o usineiro paulistano, por exemplo, como “mais moderno”, e o nordestino como “mais atrasado”. Ambos incorporam continuamente renovação e conservação não apenas nos aspectos político-ideológicos, mas nas demais dimensões que enfeixam suas práticas de classe, como o processo produtivo, os métodos de acumulação, as relações com o Estado, a defesa do monopólio da propriedade fundiária, a violência contra os trabalhadores e suas organizações etc.
Teoricamente, a posição que estamos apresentando endossa a Crítica à razão dualista sistematizada por Francisco de Oliveira no início dos anos 1970 (e reeditada nos anos 2000). Nesse ensaio, que se tornou um clássico das ciências sociais no Brasil, o sociólogo nascido no Recife desconstrói a dualidade que associa o “atrasado” ao pré-industrial e o “avançado” ao industrial. Assim como outros intérpretes de sua época - como Florestan Fernandes, Octavio Ianni, Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini -, Oliveira (2003)OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista. São Paulo: Boitempo, 2003. argumenta que entre o “arcaico” e o “moderno” não há uma separação dual ou incompatibilidade, mas articulação e unidade. Isso é congruente com a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, que foi mencionada anteriormente. Segundo essa chave de análise, o “arcaico” e o “moderno” são, em última instância, duas faces da mesma moeda.
Essa linha de pensamento se estende não só à estrutura produtiva, mas também aos sujeitos, isto é, às classes e frações de classe que carregam essa combinação consigo. Traduzindo-a ao objeto deste artigo, podemos afirmar que o mais complexo grau de desenvolvimento das classes dominantes no Nordeste açucareiro repousa no usineiro de novo tipo, portador das características brevemente indicadas ao longo do texto. Sua forma mais desenvolvida, no entanto, conserva traços presentes desde os senhores de engenho.
Em face dessa mediação, a edificação de uma nova autoimagem a partir dos anos 2000 coloca esse segmento de classe, nessa região, em perspectiva. Os legatários de uma estrutura colonial são, agora, os mesmos que evocam a “sustentabilidade” e defendem uma dimensão agro-social do monocultivo da cana-de-açúcar. Sob certo sentido herdeiros da casa-grande, reportam-se nos dias de hoje a noções como “equilíbrio” entre economia, sociedade e meio ambiente.
Pelas razões expostas, o que há de “novo” na autoimagem dos usineiros nordestinos inscreve-se especialmente na dimensão político-ideológica: a retórica elaborada pelo patronato almeja, em suma, legitimidade. A partir disso, busca ocultar os impactos sociais e ambientais do agronegócio sucroalcooleiro, que produz em larga escala pobreza e desigualdades na zona da cana nordestina. A busca pela conversão do “social” em bom negócio esbarra no fundamento econômico que organiza os interesses desse setor, cujas entidades (sindicatos e associações patronais) continuam a ser seus mais qualificados intelectuais orgânicos, no sentido gramsciano do termo.
Por fim, este texto tem muito mais o intuito de identificar tendências em processamento que antecipar conclusões mais definitivas. Nas entrelinhas da argumentação, há sobretudo questões para um debate urgente ao nosso tempo: o de identificar a ação e a organização das classes dominantes, no campo e na cidade, em suas renovadas e complexas formas de reprodução.
-
1
Este texto resulta das reflexões contidas em nossa tese de doutoramento, intitulada A burguesia do açúcar e do álcool no Nordeste brasileiro: um estudo sobre suas práticas de classe (2005-2020), defendida no Programa de Pós-Graduação da Escola de Serviço Social da UFRJ, sob a orientação do prof. Marcelo Braz e com financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).
-
2
Em nossa tese, analisamos seis entidades patronais: Sindicato da Indústria do Açúcar do Estado de Pernambuco (Sindaçúcar/PE); Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas (Sindaçúcar/AL); Sindicato de Indústria de Fabricação do Álcool no Estado da Paraíba (Sindalcool-PB); Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan); União Nordestina dos Produtores de Cana (Unida); Associação dos Produtores de Etanol e Bioenergia (NovaBio). Na construção metodológica da pesquisa, acessamos documentos internos dessas entidades, analisamos artigos de opinião escritos por seus dirigentes e realizamos entrevistas com dois presidentes de sindicatos patronais e um presidente de associação patronal. Contrastamos essas perspectivas com as visões compartilhadas, também por meio de entrevistas, com duas militantes dos movimentos sociais do campo na zona da cana nordestina. O material empírico levantado pela pesquisa, devidamente sistematizado e teoricamente problematizado, pode ser encontrado na própria tese, especialmente no capítulo 4. Neste artigo, as fontes utilizadas são exclusivamente secundárias.
-
3
Para sua crítica, ver livro de César (2008CESAR, M. “Empresa cidadã”: uma estratégia de hegemonia. São Paulo: Cortez, 2008.), para quem o discurso da “empresa cidadã” revela, em termos gramscianos, uma estratégia das classes dominantes na disputa pela construção de hegemonia.
-
4
Folha de Pernambuco, 5 out. 2021.
-
5
Jornal do Commercio, 29 jun. 2022.
-
6
Jornal Cana, 27 jan. 2022.
-
7
Disponível em: https://www.sindacucar-al.com.br/palavra-do-presidente/. Acesso em 05 jul. 2022.
-
8
A responsabilidade social “[...] passou a ser pauta na agenda dos empresários brasileiros, com mais visibilidade, ao longo dos anos 1990, incentivada pelo período de redemocratização e abertura econômica do País e pelos direitos conquistados com a Constituição Federal de 1988” (Reis, 2007REIS, C. N. A responsabilidade social das empresas: o contexto brasileiro frente à ação consciente ou ao modernismo do mercado? In: Revista de Economia Contemporânea, vol. 11, mai./ago., 2007., p. 281).
-
9
Aqui admitida como o conjunto das desigualdades (sociais, políticas, econômicas e culturais) que resulta do modo como o capitalismo produz e distribui a riqueza (Iamamoto, 2003IAMAMOTO, M. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 2003.).
-
10
Jornal Cana, 19 ago. 2016.
-
11
Entrevista ao portal Algomais, nov. 2012.
-
12
Jornal do Commercio, 30 jun. 2022.
-
13
Agência Brasil, 7 jul. 2022.
-
14
Portal G1, 8 set. 2021.
-
15
Jornal Cana, 11 mai. 2021.
-
16
Revista Opiniões, abr. 2020.
-
17
Revista Opiniões, 2011.
-
18
Sabe-se que o desenvolvimento do capitalismo não conduz todos os países ao mesmo destino. O mesmo pode ser dito em relação às regiões de uma nação. Entre elas não há homogeneidade, ainda mais no caso de um país de dimensão continental como o Brasil. Nesse sentido, as desigualdades entre as várias regiões de um país “[...] resultam, muitas vezes, das desigualdades de desenvolvimento econômico através das quais as áreas mais desenvolvidas controlam a atividade industrial, consumindo matérias-primas das áreas menos desenvolvidas e absorvendo mão-de-obra mais barata. Cria-se, assim, uma estrutura de dominação” (Andrade, 1988ANDRADE, M. C. O Nordeste e a questão regional. São Paulo: Ática, 1988., p. 8-9).
-
19
Nas palavras de Trotsky (2018TROTSKY, L. A história da revolução russa. Brasília: Senado Federal, 2018., p. 34), “a desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processus histórico, evidencia-se com maior vigor e complexidade no destino dos países atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-se na contingência de avançar aos saltos. Desta lei universal da desigualdade dos ritmos decorre outra lei que, por falta de denominação apropriada, chamaremos de lei do desenvolvimento combinado, que significa aproximação das diversas etapas, combinação de fases diferenciadas, amálgama das formas mais arcaicas com as mais modernas”.
- 20
-
21
Cf.https://www.folhape.com.br/economia/desemprego-no-nordeste-chega-a-149-mais-que-o-dobro-da-taxa/226728/. Acesso em 12 mar. 2023.
Referências
- ANDRADE, M. C. O Nordeste e a questão regional. São Paulo: Ática, 1988.
- BEZERRA, L. A burguesia do açúcar e do álcool no Nordeste brasileiro: um estudo sobre suas práticas de classe (2005-2020). Tese (Doutorado em Serviço Social) - Escola de Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2022.
- BOFF, L. Os impasses da expressão “desenvolvimento sustentável”. In: Agenda 21 - Ética e sustentabilidade. Ministério do Meio Ambiente: Brasília, 2012.
- BRUNO, R. Elites agrárias, patronato rural e bancada ruralista. Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura. CPDA: Rio de Janeiro, 2015.
- BRUNO, R. Agronegócio, palavra política. In: Bruno, Regina. Um Brasil Ambivalente Agronegócio, ruralismo e relações de poder. Mauad X Ed. /EdUR-UFRRJ, 2009.
- CARVALHO, J. M. Mandonismo, coronelismo, clientelismo: uma discussão conceitual. In: Dados, n. 40, v. 2, Rio de Janeiro, 1997.
- CESAR, M. “Empresa cidadã”: uma estratégia de hegemonia. São Paulo: Cortez, 2008.
- CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996.
- COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Ed da FGV, 1991.
- CPT. Impactos do monocultivo da cana na Amazônia e no Cerrado. Brasília: Comissão Pastoral da Terra, 2009.
- DELGADO, G. Do capital financeiro na agricultura à hegemonia do agronegócio: mudanças cíclicas em meio século (1965-2012). Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2012.
- ELKINGTON, J. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. São Paulo: M. Books, 2011.
- FERNANDES, B. M. (coord.). Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual. São Paulo: Clacso/Expressão Popular, 2008.
- HEREDIA, B; PALMEIRA, M.; LEITE, S. P. Sociedade e economia do agronegócio no Brasil. In: Rev. Bras. Ci. Soc. v. 25, n. 74, 2010.
- IAMAMOTO, M. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 2003.
- LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
- MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. São Paulo: Hucitec, 1988.
- MÉSZAROS, I. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2011.
- OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista. São Paulo: Boitempo, 2003.
- REIS, C. N. A responsabilidade social das empresas: o contexto brasileiro frente à ação consciente ou ao modernismo do mercado? In: Revista de Economia Contemporânea, vol. 11, mai./ago., 2007.
- SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- SILVA, M. G. Capitalismo contemporâneo e “questão ambiental”: o desenvolvimento sustentável e a ação do Serviço Social. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.
- TROTSKY, L. A história da revolução russa. Brasília: Senado Federal, 2018.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
15 Abr 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
12 Mar 2023 -
Revisado
25 Set 2023 -
Aceito
13 Dez 2023